Laut, Liberdade e Autoritarismo, Política,
A força destrutiva de Bolsonaro
Pesquisadores tecem análises a um só tempo históricas, teóricas e contemporâneas da crise da democracia brasileira
30set2022 | Edição #61Desde a posse de Jair Bolsonaro publicam-se análises sobre a chegada do político ao poder, o seu modo de exercer o cargo. É possível, ainda hoje, o que se denominou de crítica? As publicações não foram submetidas a censura, nem os seus autores a sanções. As intervenções são divulgadas e debatidas. Ao mesmo tempo, o arbítrio é flagrante. Servidores sofrem assédio institucional praticado pelo governo; políticas públicas são desmanteladas. Estamos vivendo a deterioração do regime democrático, esta é uma evidência que se impõe. Mas estamos diante do fascismo? Por onde começar a compreender a experiência política atual? Essa pergunta é o impulso intelectual que dá origem a Linguagem da destruição: a democracia brasileira em crise.
Escrito a seis mãos por Miguel Lago, Heloisa Murgel Starling e Newton Bignotto, se no livro cada um segue um caminho próprio para chegar a uma resposta, todos partem da necessidade de entender a especificidade da experiência política atual. Não se agarram a tradições interpretativas estabelecidas para transformá-las em argumentos finais. Pelo contrário, revisitam e ampliam o legado teórico das experiências históricas passadas à luz dos fenômenos atuais. Aí está o elemento propriamente crítico-reflexivo de Linguagem da destruição: não achar que as condições de inteligibilidade do presente estão dadas.
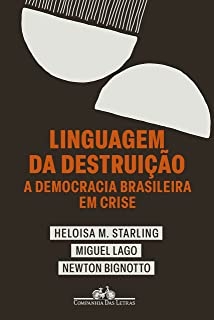
O denominador comum das análises é a constatação de que o novo poder é dotado de uma “força destrutiva” inédita. À semelhança de outros países, em que governantes eleitos atacam o sistema que os elegeu, a destruição da democracia brasileira não se dá de forma abrupta, através de um golpe de Estado, mas através de uma “corrosão por dentro do sistema”. A ameaça autoritária hoje tem um modus operandi cuja eficácia está justamente em ser equívoco. A destruição não se dá pela mudança do status quo, mas pelo insidioso desgaste dos fundamentos democráticos.
Para realizarem a “corrosão por dentro”, os governantes “utilizam atos e ações com efeito cumulativo para degradar a ordem política, destruir os mecanismos de representação, minar o sistema judicial e a mídia, erodir as instituições, uma a uma, até o colapso final”. Trata-se de um fenômeno global. A metáfora da corrosão serve à apreensão de uma nova natureza da mudança e, como forma de conhecimento, é levada a sério; ela sinaliza o “caráter singular das experiências atuais”. Por isso, advertem os autores, é recomendada prudência na aplicação de referenciais teóricos disponíveis e na evocação de experiências históricas passadas. A conceitos conhecidos como totalitarismo, fascismo, populismo juntaram-se os mais recentes biopolítica, necropolítica e neofascismo. A expansão terminológica certamente registra tentativas de compreensão da atualidade política. Mas “nenhum desses conceitos quando tomado isoladamente parece circunscrever por completo fenômenos como o bolsonarismo”.
Truculência
De um lado, a erosão democrática tem um contexto internacional; de outro, é específica ao contexto brasileiro. Para explicar a “originalidade” do bolsonarismo é preciso dar ouvidos ao presidente. Em 17 de março de 2019, na casa do embaixador brasileiro em Washington, Bolsonaro fez uma declaração paradigmática do seu governo: “O Brasil não é um terreno aberto, onde nós pretendemos construir coisas novas para o nosso povo. (…) Nós temos é que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois recomeçarmos a fazer”. A renúncia explícita a um projeto de futuro, ou melhor, a sua substituição por um projeto de desfazimento, é sem paralelos na história do Brasil. Ao longo de seu governo, Bolsonaro instalou uma verdadeira “empresa de destruição” e acabou por normalizar um estado de crise permanente que contribui para a “desconstrução mais ampla do Estado”. Durante a condução da pandemia, as políticas nefastas adotadas pelo governo federal evidenciaram “a novidade de um projeto de poder que elegeu a doença e a morte como aliadas”. A originalidade da destruição está em seu método: a linguagem truculenta. O aviltamento da fala é a um só tempo índice e instrumento da degradação das normas e princípios que constituem a República e a democracia. Reside aí a convergência fundamental entre os autores: a de que o bolsonarismo introduziu uma “nova linguagem” cujo motor é a destruição.
O gênio da mediação
“Como explicar a resiliência de Bolsonaro?” é a pergunta que dá título ao capítulo de Miguel Lago. A incapacidade de analistas reconhecerem a extraordinária eficácia do presidente seria um dos fatores. Lago remonta essa obnubilação ao moralismo que assolaria o entendimento das massas como ator político. Para reconstruir as origens da incompreensão do papel das massas, o autor revisita Hobbes, Rousseau, marxistas e liberais, desembocando nos detratores do bolsopetismo, cuja cegueira demofóbica seria o resultado de um singular liberalismo latino-americano. O eixo do argumento é que a dicotomia massas versus elite, não importa para que lado caia o pêndulo, turva a visão dos fenômenos. A nova racionalidade do político, que pauta a comunicação de Bolsonaro e seus adeptos, escapa ao binarismo.
Mais Lidas
O desempenho de Bolsonaro como ativista e influenciador digital é extraordinário, diz Lago. A “hegemonia digital” demonstrada durante as eleições vai muito além da desinformação, do bot, e do caixa dois. Bolsonaro aparece como habilíssimo “beneficiário” e “incentivador” da transformação da esfera pública na era digital. Através da redução de qualquer verdade à opinião e da suspensão de todos os vínculos normativos, civilizacionais, muda-se a percepção da relação entre representante e representado. “O representante deixa de ser aquele que deveria exercer a função de representação dos interesses do representado para se tornar aquele que simplesmente concorda com ele”. Assim, o ocupante do cargo de presidente pode se dirigir somente à sua facção e adotar uma forma de governar que não passa pelas instituições. O “âmago da estratégia política de Bolsonaro” viria da íntima ligação entre a nova ecologia midiática e a destruição do Estado brasileiro.
A destruição não se dá pela mudança do status quo, mas pelo insidioso desgaste dos fundamentos democráticos
Mais interessante ainda na argumentação de Lago é a passagem do mundo digital para o transcendental. Além de subordinar o jogo político à lógica da infoesfera, Bolsonaro teria reintroduzido a mística na política e assim arrebatado o eleitorado evangélico brasileiro. Dá o que pensar o frenesi provocado por Bolsonaro entre neopentecostais e pentecostais como “facilitador do Apocalipse”. Mas talvez o rendimento mais instigante da interpretação de Lago seja outro, mais sociológico: o retrato de Bolsonaro como uma espécie de “gênio” das práticas de mediação — seja entre os indivíduos e seus representantes nas redes, seja entre o aqui e o além, a imanência e a transcendência, em assembleias de fiéis — confirma a (já bem estudada) afinidade entre tecnologia e religião.
Reacionarismo
O capítulo “Brasil, país do passado”, de Heloisa Murgel Starling, parte dos fatídicos eventos de 17 de abril de 2016. Na Esplanada dos Ministérios, o “Muro do Impeachment” estampava a imagem de “um país rachado”. Dentro do Congresso Nacional, Bolsonaro associava a derrota da esquerda em 1964 à sua iminente derrota em 2016, dedicando o seu voto a favor do impeachment à memória do coronel Brilhante Ustra, torturador de Dilma Rousseff. Somente hoje podemos perceber que, naquele momento, Bolsonaro se catapultou a “liderança capaz de aglutinar e mobilizar forças posicionadas à direita do cenário político brasileiro — incluindo sua periferia extrema”. Definia-se ali, no voto ensaiado de Bolsonaro, a natureza política do seu projeto de poder. Bolsonaro não é um conservador — preocupado em preservar a ordem social estabelecida e suas instituições. A promessa de trazer de volta o passado autoritário e de agir na contramão da democratização mostra que a matriz ideológica de Bolsonaro é reacionária. Aprende-se com Starling que o reacionarismo remonta à Revolução Francesa e se cristaliza na oposição à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os reacionários teriam desde cedo compreendido que os direitos têm uma “dinâmica revolucionária” que só pode ser contida através do “mais extremo processo de demolição”. A história do reacionarismo moderno seria ainda moldada pela oposição ao sufrágio universal, no século 19, e ao Estado de bem-estar social, no século 20.
As ondas contra a ampliação do direito de voto e as políticas públicas de inclusão social podem variar, mas têm uma longa duração, e a sua extensão é global. Para Starling, a mola da ação dos reacionários é destruir a “ameaça democrática” em seus “ingredientes principais”. A militância de Bolsonaro contra a Constituição de 1988 pode ser interpretada como uma consequência direta da sua obstinação reacionária. Significativamente chamada de Constituição Cidadã, a carta estabelece uma noção ampla de direitos e universaliza o acesso à saúde, à educação e à proteção social. O governo de Bolsonaro implementou “um conjunto de iniciativas de rejeição às regras e à institucionalidade democráticas”. Ao deflagrar crises contínuas e impedir que sejam resolvidas, o presidente solapa as instituições exaurindo-as. Ao mesmo tempo que transgride normas básicas de tolerância democrática, propaga o uso da força, flexibilizando o acesso às armas.
A adesão ao reacionarismo de Bolsonaro é “heterogênea” e atravessa “de alto a baixo a estrutura social”. Inspirada em Hannah Arendt, Starling sugere que a “sociabilidade amorfa” de uma multidão de indivíduos isolados entre si e sem vínculos sociais forma o terreno em que os “afetos tristes” do bolsonarismo vicejam. A massa de adeptos seria ativada sobretudo pelo ressentimento, cuja força seria capaz de aglutinar os mais variados estratos sociais. O ponto mais alto da argumentação de Starling diz respeito à criação de algo comparável a uma “utopia regressiva”, através da evocação de “uma visão meio nebulosa de um país ordenado e seguro, localizado num passado que foi roubado aos brasileiros, mas que não morreu”. Partilhada coletivamente, a utopia dirigida ao passado seria “reacionária e explosiva”. Por definição anti-histórica, transforma todos e qualquer um em potenciais inimigos, na luta “maniqueísta entre o bem e o mal”. Ancorado nos anos da ditadura militar, o espectro ideológico da utopia regressiva vem diretamente da segunda “linha dura” formada em meados dos anos 70 em oposição ao processo de abertura. Como demonstra a origem do bordão “Brasil acima de tudo” — inspirado por slogans nazistas dos anos 30 e introduzido no Brasil pelo grupo paramilitar chamado Centelha Nativista em 1966 —, a promessa é de recuo aos porões da história.
Fascismo?
Para situar historicamente a experiência política recente, Newton Bignotto revisita estudos sobre populismo e fascismo à luz de atos de Bolsonaro. O título do capítulo resume o esforço de discriminação: “Bolsonaro e o bolsonarismo entre o populismo e o fascismo”. Com a ascensão de regimes de extrema direita em todo o mundo, tornou-se lugar-comum o paralelo com o fascismo histórico. Bignotto adverte que convém elucidar parâmetros que permitam definir o fenômeno. Retomando Serge Berstein e Pierre Milza, seria possível reduzi-lo a algumas peças-chave: o chefe carismático todo-poderoso, o partido único, o nacionalismo exacerbado, o projeto de criação de um novo homem, a primazia do político. Mas isso não basta. É preciso também entender os modos de implantação do fascismo na vida pública. Segundo Emilio Gentile, primeiro se observa um movimento de massa organizado em torno de um partido miliciano, empenhado na regeneração social e na eliminação de adversários. Em segundo lugar, há uma dimensão discursiva e ideológica de intimidação dos “inimigos”. Em terceiro, há a tomada pelo regime fascista do aparato policial e o recurso ao terror organizado. É pela ocupação do aparato repressivo que opera o partido único. Diante dessas definições, conclui Bignotto, é evidente que a experiência atual brasileira não é equiparável à do fascismo histórico. No entanto, pondera, “o recurso aos estudos sobre o fascismo continua (…) a ser uma ferramenta válida para entender alguns aspectos do governo Bolsonaro e do bolsonarismo”.
A renúncia explícita a um projeto de futuro, ou melhor, a sua substituição por um projeto de desfazimento, é sem paralelos na história do Brasil
Dessa perspectiva, é possível tecer correlações. Os bolsonaristas que desprezam os partidos políticos e se veem como integrantes de um movimento guardam semelhanças com o fascismo italiano dos anos 20. Para muitos líderes fascistas de então, era preciso evitar qualquer forma de organização política estável para preservar o espírito revolucionário. Eis aí um elemento que perdura até os dias atuais, influenciando movimentos políticos que “supostamente se insurgem contra a política tradicional”. A crítica às instituições é intrínseca à democracia. Mas tendências que alegam a corrupção do “sistema” para negar a política e adotar práticas “cuja principal característica é nunca se estabilizar em formas rigorosas de direito” minam os fundamentos do regime democrático. Detecta-se aí uma analogia com o fascismo italiano em suas origens. Haveria ainda outros aspectos do bolsonarismo que convidam à comparação com o fascismo. O recurso às Forças Armadas para ocupar a máquina estatal aproximaria Bolsonaro de ditaduras latino-americanas e até mesmo do Estado total acalentado por Mussolini. A construção de uma máquina de propaganda e combate ideológico, que possibilitou a disseminação de mentiras organizadas durante a pandemia, talvez tenha um papel análogo ao dos aparelhos de propaganda do fascismo histórico. Em todo caso, a retomada de estudos sobre o fascismo e outros autoritarismos serve “para esclarecer o que o bolsonarismo deve ao passado e no que ele inova”.
Populismo contemporâneo
Como explicar a adesão a Bolsonaro depois da pandemia? Valeria a pena repensar o populismo contemporâneo. Para delinear uma abordagem populista da democracia, Bignotto lembra os elementos destacados por Pierre Rosanvallon. Se tomarmos a preferência pela participação direta e a rejeição de corpos intermediários (instituições, representação, magistratura) como denominador comum, fica evidente a identificação do bolsonarismo com o populismo clássico. O uso da noção de “povo” é exemplar: uma parcela concreta que passa a encarnar a totalidade do povo e se contrapõe à noção abstrata do “povo-cidadão, sujeito de direitos e deveres”. O contato direto com “o povo” no cercadinho ou nas redes sociais assume a função de um plebiscito e demonstra a redução populista desse processo político. A hostilidade à urna integra a negação da institucionalidade.
Bignotto nos convida a pensar sobre a concepção de democracia do cesarismo, que “se funda, sob a batuta de Napoleão 3º, na afirmação da importância do plebiscito”. Em nome da soberania popular, importava ao Poder Executivo não se deixar cercear pelos demais poderes. Logo reconhecemos as semelhanças e nos confrontamos com as diferenças. A exemplo de Napoleão 3º, Bolsonaro foi eleito legitimamente e também é dado a fazer ameaças contínuas de golpe de Estado. Não sabemos se ele será bem-sucedido, como foi o imperador francês, mas devemos levá-lo a sério. Ainda mais porque, ao contrário de Napoleão 3º, Bolsonaro não pretende instaurar um poder conservador, mas um poder reacionário, cujo propósito é a destruição. Diante da produção deliberada do caos e da dissolução da arena pública, Linguagem da destruição insiste no exercício, a um só tempo histórico e teórico, de lucidez.
Editoria especial em parceria com o Laut

O LAUT – Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo realiza desde 2020, em parceria com a Quatro Cinco Um, uma cobertura especial de livros sobre ameaças à democracia e aos direitos humanos.
Matéria publicada na edição impressa #61 em setembro de 2022.
Porque você leu Laut | Liberdade e Autoritarismo | Política
Dias de eco em Damasco
Nas aulas de árabe com um professor exilado no Brasil e em cenas das ruas da Síria, há sinais animadores para o país
ABRIL, 2025




