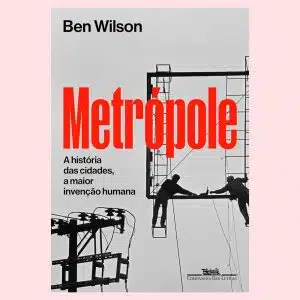

Bianca Tavolari
As cidades e as coisas
Onde o mundo se encontra
Historiador britânico apresenta a história global das metrópoles desde a extinta Uruk, na Mesopotâmia, a Lagos e outras megacidades
01fev2024“Muito antes de haver países, impérios ou reis, havia cidades.” A afirmação do historiador britânico Ben Wilson nos oferece algumas camadas de leitura. Em primeiro lugar, a cidade é o começo. Aqui estamos diante do marcador de tempo em ordem cronológica: os assentamentos territoriais aos quais atribuímos o nome de cidade existem pelo menos desde 4 mil anos antes de Cristo; precedem, portanto, qualquer outra forma de organização associativa.

Metrópole, de Ben Wilson, defende e sustenta que as cidades são a maior invenção coletiva que já tivemos a habilidade de criar
Uma segunda leitura acrescenta mais do que a sucessão temporal. Como origem, a cidade é fundamento da estruturação da vida humana, antes de outras formas políticas e de hierarquia social terem sido experimentadas. Conseguimos ainda acessar uma terceira camada de sentido quando entendemos que impérios e reis passaram por períodos de ascensão e queda, enquanto as cidades continuam sendo um projeto surpreendentemente vivo em todos os países do mundo. “Cidades são criações maravilhosamente tenazes”, diz Wilson. Elas resistem, são capazes de adaptação e triunfam. E é a partir desse fio condutor que Metrópole defende e sustenta que as cidades são a maior invenção coletiva que já tivemos a habilidade de criar.
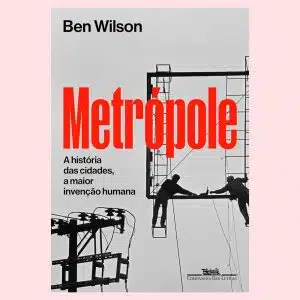
É difícil encontrar quem se arrisque a articular uma história tão abrangente, com longuíssima duração temporal e sem recortes geográficos. Os riscos são enormes e conhecidos: formular generalizações inadequadas, perder especificidade, forçar comparações insustentáveis, universalizar perspectivas que são, necessariamente, situadas. Ainda assim, essa é a empreitada de Metrópole. Uma história global que começa em Uruk, na antiga Mesopotâmia, hoje Iraque, até chegar em 2020, tendo Lagos, na Nigéria, como ponto de apoio para tratar das megacidades atuais. Wilson consegue contornar a maioria dos riscos associados a traçar um arco tão longo e improvável na medida em que recorre à experiência — acadêmica e de suas viagens:
Ao examinar a história das cidades, busquei material em mercados, souks e bazares; em piscinas, estádios e parques; em barracas de comida de rua, lanchonetes e cafés; em lojas e shopping centers. Interroguei pinturas, romances, filmes e canções tanto quanto os registros oficiais, sempre em busca da experiência vivida nas cidades e da intensidade de seu cotidiano. Uma cidade tem de ser experienciada por meio dos sentidos — é preciso olhá-la, sentir seu cheiro, tocá-la, caminhar por ela, lê-la e imaginá-la — para apreender sua totalidade. Durante grande parte da história, a vida urbana girou em torno da vida sensorial — a comida, a bebida, o sexo, as compras, a fofoca, a recreação.
Nas cidades impossíveis de serem visitadas, como Harappa, Babilônia e Alexandria, só para mencionar algumas, Wilson mobiliza uma literatura histórica de comentário — predominantemente escrita e publicada em inglês, o que já indica limites importantes da empreitada de história global — e também registros literários. A epopeia de Gilgamesh é fundamental para situar Uruk, a primeira cidade de que temos notícia.
Origens pantanosas
“Uruk” significa “a cidade”. A urbanização tem origens literalmente pantanosas: “Onde as cidades surgiram isoladamente, encontramos sempre as condições ideais dos pântanos”. Contraintuitivamente, um ambiente aquático quente e úmido favoreceu o adensamento e as construções — e não apenas na Mesopotâmia: as primeiras cidades chinesas, na dinastia Shang, foram construídas na planície aluvial nas proximidades do rio Amarelo; o primeiro centro urbano das Américas, no México, surgiu num terreno elevado ao lado do charco do golfo do México; e o delta do Nilo foi o lugar escolhido para abrigar a antiga capital egípcia, Mênfis.
Outras colunas de
Bianca Tavolari
A proximidade da água foi fundamental para a agricultura, para gerar força motriz, dar de beber a pessoas e animais, além de possibilitar a pesca. Por outro lado, o ambiente imprevisível não era propício para a construção de estruturas estáveis, o que tornou as cidades não só improváveis, mas também um triunfo colossal da humanidade sobre a natureza.
Impérios passaram por ascensão e queda; já as cidades continuam projetos vivos ao redor do mundo
Os registros que se tem de Uruk retratam uma cidade com milhares de hectares de plantações, irrigados artificialmente por fossos, com construções retangulares cheias de muros e templos imponentes, feitos com pedra e revestidos de gesso, dedicados aos deuses e às deusas. A cidade era densamente povoada:
Os labirintos de ruas estreitas e sinuosas e becos cheios de pequenas casas sem janelas talvez parecessem terrivelmente apertados, oferecendo poucos espaços abertos; no entanto, essa disposição havia sido projetada para criar um microclima urbano em que a sombra e a brisa oferecidas pela estreiteza das ruas e a densidade do conjunto de habitações mitigassem a intensidade do sol mesopotâmico.

Ruínas de Uruk, a primeira cidade do mundo, que existia desde pelo menos 4000 a. C. [Reprodução]
Uruk foi planejada para alinhar as atividades humanas à ordem e às energias subjacentes do universo. Era um lugar para se conectar com o divino, domar o caos e simular a ordenação dos céus. E é essa conexão que permite oferecer explicações, no plano simbólico, para a tarefa árdua e cotidiana de desenvolver as mais diferentes habilidades e profissões para erigir paredes e muralhas estáveis em meio ao pântano, para fazer não só uma engrenagem que funciona, mas que inova e produz conhecimento.
Para Wilson, Uruk é o epítome do que foi um centro de poder que entrou em declínio em razão das guerras, com a invasão dos assim chamados bárbaros, mas que também sofreu com a penúria das mudanças climáticas, que fizeram a umidade dos pântanos retrair. A história não é só de ascensão e declínio, mas de resistência: “Sua longa história envolve descobertas deslumbrantes, grandes realizações humanas, ânsia de poder e a resiliência das sociedades complexas.” É o primeiro nó de um fio que interliga outros centros de poder a partir da ideia norteadora da resistência — constante e inventiva — ao que é adverso.
Lagos e vales
A correlação entre pântanos e urbanização não ficou num passado tão longínquo que poderia parecer ficcional. Lagos — que cresce em ritmo exponencial e deve se tornar a maior região metropolitana do mundo no século 21 —, como muitas das megacidades do Sul Global, teve sua expansão marcada pelo caminho aberto em meio a mangues e várzeas de rio, áreas habitadas especialmente pela população mais vulnerável. Se em Uruk os terrenos quentes e úmidos eram condições, por um lado, de fertilidade e inovação, por outro, de risco, em Lagos as enchentes que destroem a vida de quem não tem alternativa se não construir sua casa na lama revela um futuro menos brilhante.
Para Wilson, Lagos apresenta alguns dos piores traços da urbanização moderna: favelas sem fim, infraestrutura precária, um dos piores trânsitos do mundo, os maiores índices de desigualdade.
O som quintessencial de Lagos é o grito incessante de geradores de eletricidade particulares à noite. É uma cidade que já não pode garantir à população o abastecimento contínuo de eletricidade e água, e que já não sabe o que fazer com as 10 mil toneladas de lixo que produz todos os dias.

Lagos apresenta os piores traços da urbanização moderna, mas tem o magnetismo das megacidades [Frédéric Soltan/Corbis/Getty Images]
A maior parte da população da cidade (70%) vive em assentamentos informais, nome dado a favelas, cortiços e vasta gama de habitações precárias e irregulares. De um lado, há Makoko, uma favela flutuante chamada de “Veneza das favelas”, com casas, em sua maioria de madeira, construídas sobre as águas de uma lagoa fétida. O cenário é de palafitas e moradores se locomovem em canoas, em ruas que se tornam canais. De outro, condomínios fechados comportam estilos de vida luxuosos, com belas vistas para a lagoa de Lagos e para o golfo da Guiné.
Este poderia ser um cenário de completa desolação e tragédia. Mas Lagos, assim como outras tantas megacidades, tem uma força centrípeta, um magnetismo que atrai centenas de milhares de pessoas apesar — ou por causa — de tudo isso. A cidade tem uma das principais economias do país, com sua versão do Vale do Silício para start-ups, o Vale do Yabacon. É o centro de Nollywood, a Hollywood nigeriana, cuja produção cinematográfica só fica atrás da indiana.
Mega em todos os sentidos, Lagos pulsa com uma energia maluca; seu dinamismo é inebriante. Nas palavras de um jornalista nigeriano, um passeio num danfo — icônico micro-ônibus amarelo, principal meio de locomoção da cidade — é um microcosmo de Lagos: ‘É uma coisa alucinante e engraçada, emocionante e curiosa; e, claro, arriscadíssima’.
Lagos também tem sua própria versão de uma cidade privada, destinada aos super-ricos, com arranha-céus reluzentes, hotéis e escritórios, chamada de Eko Atlantic. Um enclave na cidade inteiramente planejado para servir de paisagem ordenada, construída sobre o que já foi a praia mais popular da região. Mas o informal também movimenta altamente a economia e promove inovação. Um labirinto de ruas no distrito de Ikeja, chamada de Vila da Informática de Otigba, concentra ambulantes, engenheiros de software, especialistas em ti e as mais diversas máquinas e peças de eletrônicos.
Nessa efervescente vila tecnológica livre de regulamentações — o maior mercado de gadgets da África Ocidental —, mais de 8 mil empresas de grande e pequeno porte e 24 mil comerciantes e geeks vendem os mais recentes smartphones, laptops e acessórios afins.
Otigba é uma representante do que Ben Wilson chama de urbanismo do it yourself, ou “faça você mesmo”, que vem de baixo, da base da sociedade. O caos é apenas aparente — são formas comunitárias, associativas e de mercado que são experimentadas para conferir uma vibração e vitalidade sem iguais a esta parcela do espaço urbano. O autor entende que fazer cidade é um conjunto de operações muito mais vinculados à densa vila de Otigba do que à apática Eko Atlantic.
Convulsão planetária
Atualmente, áreas urbanas abrigam 55% da população mundial, e isso tende a aumentar, como narra Wilson:
Entre 1970 e 2000, as cidades consumiram 58 mil quilômetros quadrados do planeta; até 2030, devorarão mais 1,2 milhão de quilômetros quadrados, triplicando a área urbana, enquanto a população urbana dobrará. Isso implica acrescentar uma área urbana maior do que Manhattan à superfície terrestre todos os dias. Em 2030, 65% do ambiente construído do mundo terá sido construído desde 2000. A nova cidade global construída nessas três décadas, se agrupada, cobrirá uma área do tamanho da África do Sul. De fato, estamos vivendo em uma época de convulsão planetária.
Não são só os números que impressionam. A escala muda a qualidade das questões urbanas que estão diante de nós e no horizonte. No prognóstico de Metrópole, nossos próximos passos vão passar necessariamente pela vida urbana. Mas por uma vida urbana renovada em outros termos:
Nossa sobrevivência como espécie depende do próximo capítulo de nossa odisseia urbana. Essa história não se passará em reluzentes cidades globais. E não será traçada por tecnocratas divisando respostas digitais para nossos problemas ou por planejadores urbanos oficiais que, recolhidos no Olimpo, reviram a cidade do avesso. A história será feita — e vivenciada da forma mais aguda — por bilhões de pessoas nas megacidades e metrópoles em crescimento acelerado dos países em desenvolvimento.

O historiador britânico Ben Wilson [Liz Seabrook/Divulgação]
Em janeiro, Ben Wilson conversou com a Quatro Cinco Um e contou mais sobre como combinar a perspectiva para o passado com o olhar para o futuro da nossa vida nas cidades.
Seu livro combina elementos estruturais, a perspectiva histórica, com conjunturais, ao tratar da pandemia e de suas viagens de pesquisa. Como foi o processo de escrevê-lo?
Esse livro surgiu por uma série de razões. Em primeiro lugar, pelos meus próprios interesses de pesquisa. Eu escrevi muito sobre Londres [como em Decency and Disorder: The Age of Cant 1789-1837, ainda sem tradução para o português], sobre a urbanização e a industrialização na Inglaterra. Eu também tenho trabalhado com a perspectiva de uma história global em outros trabalhos [como em Heyday: The 1850s and the Dawn of the Global Age, também sem tradução]. Mas a origem da ideia veio de uma viagem, quando percebi que estava olhando para lugares onde o mundo se encontra.
Na era moderna, um desses lugares é Shanghai [China] — e essa era uma cidade que eu tinha muita curiosidade de visitar, ela apareceu muito nos meus trabalhos sobre comércio global e imperialismo. Shanghai é a encarnação dos temas mais importantes desde a metade do século 19 até agora: a dominação ocidental da China, as revoluções e levantes chineses, as guerras mundiais, a história das migrações, a opressão na Rússia e na Europa Central na década de 30. E seu declínio e posterior ascensão é uma história familiar. Mas é uma história que eu estou sempre tentando enquadrar num contexto histórico mais amplo. Então a ideia da existência de uma cidade global provavelmente foi a gênese para a pesquisa que está na base deste livro.
Voltar o máximo para trás era uma tarefa de traçar o que há de comum entre essas cidades, era uma lente para ler movimentos mais amplos na história. Nas cidades, há momentos em que a história se acelera.
E como entraram as suas viagens?
Para entender as cidades, eu queria ter variedade. Fui para Lagos, na Nigéria. Fui para Mumbai, na Índia. Em ambas, fiquei nas áreas onde moram bilionários e também nas favelas. Fui para Cingapura, um contraste gritante a essas duas. Para Shanghai, para Songdo, na Coreia do Sul, que tem sido propagada como a cidade do futuro, também uma experiência de alto contraste com cidades que cresceram de forma mais orgânica. E fui para Los Angeles, e foi realmente fascinante, especialmente como ela tem sido moldada pela imigração, pelo meio ambiente — cada rua praticamente contava uma história, não como cidades históricas que comumente temos na cabeça, como Roma e Atenas. Mas se você tiver uma sensibilidade histórica, é possível ver muito.
Terminei em São Francisco, já que eu estava visitando cidades que eram ou já haviam sido centros do comércio global em algum momento da história. E, de alguma maneira, foi um dos lugares mais desalentadores que eu visitei. Lá eu vi pobreza com um enorme desamparo e desesperança, muito maior do que eu havia visto em cidades muito mais pobres. Ir para partes dessas cidades afia o nosso senso de historicidade; não era só o que eu ia encontrar lá, mas como essas cidades iriam me transformar. É uma maneira de pensar e de se orientar que é inspiradora para pensar cidades que não existem mais, como Uruk, na antiga Mesopotâmia, ou uma cidade europeia medieval.
Você conta uma história abrangente sem se colocar como um historiador apartado do objeto, mas como alguém que está vivendo essas cidades. Parece também haver uma espécie de elogio às metrópoles do Sul Global como fonte de vitalidade, essa leitura faz sentido?
Sempre quis capturar as cidades em movimento. E acho que estamos perdendo uma grande parte do sensorial das cidades, corremos o risco de que as cidades se tornem cada vez mais estéreis quando elas se tornam mais ricas, mais dominadas pelos carros. Para mim, a experiência da cidade passa por poder caminhar por ela.
Corremos o risco das cidades se tornarem mais estéreis ao se tornarem mais ricas
Mesmo em Los Angeles, eu estava interessado num urbanismo latino, feito por imigrantes, que contrasta com outras partes mais consolidadas da cidade, muito mais centrada no carro e não em espaços urbanos. Estou interessado num urbanismo de baixo para cima, feito pelas pessoas que vivem nas cidades. Quando eu estava em Songdo, numa parte muito moderna da Coreia do Sul, fiquei com a impressão de que a paisagem poderia ser Manhattan, mas a vida era tão chata e pacata como num subúrbio — porque a cidade é altamente sanitizada, é supostamente controlada digitalmente e oferece estilos de vida fantásticos para as classes mais altas. Lá, eu não estava em busca do digital, estava em busca do real: bares, pequenos comércios que, como ervas daninhas, irrompem de algum lugar.
Há partes do livro em que você contrasta uma ordem perfeita, tida como antiurbanismo, e faz um elogio ao “bagunçado”, vista não como falha de planejamento urbano, mas como outra forma de ordem.
Logo depois de escrever Metrópole, eu comecei a escrever sobre natureza nas cidades [Urban Jungle: The History and Future of Nature in the City, também sem tradução]. Tem uma antiga linha de trem em Berlim, da Segunda Guerra Mundial, que foi abandonada e, durante o tempo, retomada pela natureza. Por pressão da sociedade civil, esse espaço continuou a ser uma espécie de selva no meio do centro urbano. Esse é, para mim, um exemplo em que não se trata de falta de planejamento — o planejamento está lá, mas é muito suave.
A cidade precisa deixar espaço para a imprevisibilidade. Quando você olha para a história das cidades, vê como elas sobreviveram a desastres, epidemias, tragédias climáticas e guerras. Cidades foram construídas e reconstruídas do zero, essa capacidade adaptativa é o que me interessa. E isso não é alcançado por um planejamento inteiramente de cima para baixo. É a imprevisibilidade que faz as cidades serem uma fonte de entusiasmo. Do ponto de vista do planejamento urbano, isso não é óbvio — e é preciso ter sensibilidade para perceber. Me parece que é por isso que a história é tão importante aqui.
No livro, você afirma que “o problema para o século 21 não é que estejamos nos urbanizando rápido demais; o problema é que não estamos nos urbanizando o suficiente”. Essa seria a síntese de uma das suas ideias centrais — que é possível ter cidades, mas isso não significa haver urbanismo?
É isso. Eu queria dizer duas coisas com essa afirmação. Primeiro, no crescimento das cidades do Sul Global, que muitas vezes tem se tornado essa cidade infinita, temos majoritariamente um mar de casas de pessoas vulneráveis, sem urbanidade. Em segundo, no sentido da suburbanização, com baixas densidades e também sem vida urbana propriamente dita, com crescimento na horizontal, como se a cidade fosse uma panqueca infinita. Você não caminha no subúrbio de uma cidade norte-americana, por exemplo. São mortas nesse sentido. A ideia de cidade de quinze minutos, em que você tem centralidades que concentram a maior parte das funções da vida urbana, é o oposto do deserto do subúrbio.
Brinco que se São Paulo fosse uma cidade de uma hora, em que fosse possível acessar trabalho, escola, saúde, mercado, parques etc. nesse tempo, já seria uma revolução.
Sim, exatamente! [risos] Nós deveríamos estar falando de cidades inteligentes nesse sentido, de diminuir o tempo de acesso das pessoas às oportunidades urbanas.
São Paulo e Rio de Janeiro são às vezes mencionados no livro, mas não há um capítulo específico para as megacidades brasileiras…
Infelizmente nunca fui ao Brasil, mas está no topo da minha lista. Com a pandemia e crianças pequenas, não consegui ir a tempo para o livro. É um grande arrependimento meu. Mas espero que o livro ofereça algo para quem mora em grandes cidades brasileiras, uma parte importante dessa história é universal e nos toca enquanto moradores de cidades de maneira geral, seja pela semelhança ou pela diferença.
Porque você leu As Cidades e As Coisas
Cartografia da repressão
Entre a história e a fabulação, ‘Madri 1940’ relata o avanço do fascismo sobre o espaço urbano, onde controlar território é também garantir poder
ABRIL, 2024








