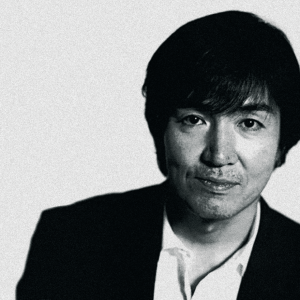Literatura japonesa,
Distopia e realidade
Romance japonês sobre obscurantismo e memória tem paralelos com o Brasil da anticiência e do apagamento
01jul2021 | Edição #47O ano de 1994 começou e terminou em um sábado. Nesse ínterim aconteceram fatos marcantes, como as primeiras eleições multirraciais na África do Sul, com a vitória de Mandela; a morte de Senna, Kurt Cobain, Burle Marx, Mussum, Tom Jobim, Linus Pauling e Kim-II-Sung e o nascimento de Justin Bieber. Yasser Arafat, Shimon Perez e Yizhak Rabin ganharam o Nobel da Paz; Jorge Amado ganhou o Prêmio Camões. No Japão, o escritor Kenzaburo Oe ganhou o Nobel de Literatura e a escritora Yoko Ogawa, então com 32 anos, publicou Hisoyaka na Kesshō, que acaba de chegar ao Brasil com o título A polícia da memória.
A protagonista vive sozinha em uma ilha sob o domínio de um sistema político opressor fortemente empenhado em apagar a memória de todos, detalhe por detalhe. Quase ninguém tem nome. Todos acordam sabendo que ninguém pode mais lembrar o que é um chapéu, uma rosa, um peixe. Os objetos atrelados a alguma recordação da lembrança proibida precisam ser incinerados em fogueiras coletivas. Não se sabe qual é o projeto, quem está por trás dele, o que virá depois e sobretudo o motivo do feitio despótico de obrigar a esquecer.
Alguns personagens, no entanto, são imunes ao apagamento — caso da mãe da protagonista. Ela guarda objetos em gavetas, às escondidas, uma recusa à fogueira. Perfumes, fotos de pássaros, detalhes do tempo em que a vida era possível. Há uma organização subversiva que esconde as pessoas que lembram para que não sejam presas e mortas pela Polícia da Memória. Quem recorda precisa se abrigar em porões e recônditos secretos da ilha.
A ação do romance segue a premissa da luta entre a força do esquecimento e o desejo de recordar. A protagonista é escritora, e a alegoria de sua mise en abyme está no livro que está escrevendo, sobre uma mulher que se lembra de tudo, mas perde a voz e a capacidade de entender as palavras. A polícia da memória é edificado sobre a égide segura e comovente de uma certeza: a vida é memória e palavra.
Quando Ogawa fala sobre o início da carreira, sempre volta ao Diário de Anne Frank e diz que começou escrevendo diários. Depois seguiu para os romances e tornou-se uma das autoras japonesas mais prestigiadas de seu tempo. A memória e a ausência de palavras estão presentes em outros de seus livros, como O museu do silêncio, que narra a construção de um local que protege as lembranças dos mortos.
Fluxo de associações
A fortuna crítica de A polícia da memória faz algumas comparações bem óbvias, como as com 1984, de George Orwell, e Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. A relação é fácil devido à estrutura distópica do enredo, ao regime político autoritário, ao projeto de apagamento e controle em curso, às fogueiras, ao cérebro invisível que tudo vê e à polícia que executa as ações violentas para que o plano aconteça. Uma e outra crítica levantam uma ponte em direção a Cem anos de solidão, de García Márquez, talvez pelo episódio em que uma epidemia faz com que os moradores de Macondo percam a memória. Mas lê-lo em 2021 provoca outro fluxo de associações, e voltar a 1994, ano de publicação do original, é uma ferramenta curiosa para compreender a obra e seu encontro com o público brasileiro.
Mais Lidas
O ano de 2021 começou e terminará em uma sexta-feira. Estamos cercados de informações. Poucas pessoas escrevem diários, está tudo guardado nos celulares, na nuvem, nas mãos de uma ou duas grandes empresas. Se uma delas para, nós paramos junto. Se o livro é a extensão da imaginação, como disse Borges, o celular é a extensão da nossa frágil memória, cada dia menos capaz de guardar o mínimo necessário.
A distopia de Ogawa está muito perto da realidade brasileira, em que 500 mil memórias são apagadas
Em 2021 a tormenta de um número nos assombra: mais de 500 mil pessoas morreram no Brasil, e não sabemos quantas terão suas memórias preservadas, cuidadas, se alguém fará um museu do silêncio, se restaram cartas, bilhetes, livros, registros de sua passagem pela Terra.
Há uma associação clara entre A polícia da memória e Borges: o herói borgiano que venceu o olvido é Funes, o memorioso. Nasceu marcado pela sorte ou desgraça de não esquecer nada, reter na mente tudo de bom e ruim que uma vida pode guardar. Temos a ilusão de que podemos fazer o mesmo comprando dois terabytes na nuvem.
Somos uma espécie dotada da consciência de que a vida tem começo e fim, que transitamos nesse arco, que o tempo está dividido em pedaços, que há os dias comuns e as horas de júbilo, assim como os inesquecíveis minutos de desgraça e dor. Mas há, além disso, a memória coletiva dos processos históricos, políticos e sociais. A história, como ciência e procedimento, cuida de registrar os fatos e análises para que possamos prosseguir sobre um chão qualquer de mínimas certezas.
Quando um museu de importância internacional é perdido em um incêndio que poderia ser evitado; quando o fogo destrói um pedaço de uma imensa floresta de árvores de outros séculos; quando 500 mil memórias são apagadas, parece que a distopia de Yoko Ogawa está muito mais perto da realidade brasileira do que podemos supor. É no mínimo curioso ler esse livro no meio de uma pandemia, o Brasil transformado em uma ilha de ignorância e anticiência, vítima de um projeto de apagamento.
Na contramão, a internet está lotada de diários da pandemia, registros íntimos de confinamento. Haverá sempre um esforço de resistência, tanto nas distopias quanto na vida real. E parece que é sempre por essas minorias que cruzam o seu tempo ao contrário que as brechas de esperança são abertas. Chegou para nós esse livro de 1994, escrito por uma japonesa aficionada de diários, lembrando que estaremos vivos enquanto pudermos lembrar e falar. Ou enquanto alguém puder ler e saber o que guardamos na lembrança. Ricardo Piglia, outro fã de diários, disse que escrevê-los é viver duas vezes: na experiência e na recriação.
Quando eu estava lendo A polícia da memória, meu celular quebrou. Perdi todos os arquivos. Dois anos de fotografias, meu diário de sonhos, conversas, declarações de amor, endereços, contatos, lembranças. Não adianta comprar terabyte algum; as nuvens não estão à venda. Ao contrário, o livro de Ogawa está aqui. Veio de 1994, quatro alfabetos na travessia, arrastando todos esses anos para lembrar alguma coisa, talvez a necessidade de agarrar a vida da forma correta, cuidar bem da memória e das palavras. Não esquecer — e sobretudo não deixar que os outros esqueçam — o que precisa estar vivo. Lembrar é resistir.
Este texto foi realizado com o apoio da Japan House São Paulo.
Editoria com apoio Japan House São Paulo

Desde 2019, a Japan House São Paulo realiza em parceria com a Quatro Cinco Um uma cobertura especial de literatura japonesa, um clube de leitura e eventos especiais.
Matéria publicada na edição impressa #47 em julho de 2021.