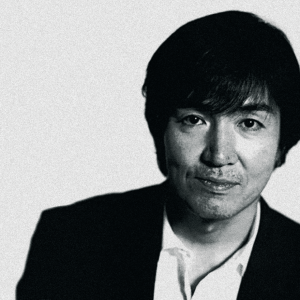Literatura japonesa,
Um barco para carregar a voz dos mortos
A literatura é um refúgio quando somos forçados a encarar contradições que estão além da razão e da lógica
01nov2020 | Edição #39 nov.2020A bomba atômica foi lançada em Hiroshima no dia 6 de agosto. Em Nagasaki, no dia 9 de agosto. E a guerra terminou no dia 15. Para o Japão, agosto é o tempo de pensar nos mortos.
Neste ano, o 75º aniversário da bomba atômica deveria chegar durante a Olimpíada de Tóquio. Porém, com o evento adiado por causa da disseminação do novo coronavírus, é em meio a uma quietude inesperada que as pessoas dedicam aos mortos as suas silenciosas preces.
Na Olimpíada de Tóquio de 1964, a última pessoa a carregar a tocha olímpica foi um corredor desconhecido de dezenove anos, um jovem que nasceu em Hiroshima no dia exato do bombardeio. O atleta subiu a longa escada até a pira olímpica vestindo uma regata e um short de corrida perfeitamente brancos, numa figura impoluta, harmoniosa, que emanava juventude. Ao ver essa cena, sempre me surpreendo com o fato de, apenas dezenove anos após sua derrota na guerra, o Japão ter recebido um evento esportivo com pessoas de todo o mundo. Esse jovem, uma vida que brotou em meio à destruição mais absoluta que a humanidade já presenciou, carrega o fogo de degrau em degrau, agitando as chamas da tocha. Ainda que houvesse intenções políticas por trás da escolha do último corredor, na força vital que ele exibia não havia nenhum fingimento.
A linguagem literária nos permite compartilhar a dor de pessoas cujos nomes nem sequer conhecemos
O tempo em que um corpo jovem aparecia como evidência da reconstrução ficou para trás, sem que o sonho de abolir as armas nucleares tenha se tornado realidade. O Japão, único país no mundo vítima de bombas nucleares, encara a dificuldade de denunciar sozinho a desumanidade desse tipo de armamento. Dificuldade que se torna, a cada ano, mais complexa. Em 2015, uma pesquisa realizada pelo centro de pesquisas da emissora nhk mostrou que a porcentagem de pessoas que sabiam dizer a data correta da bomba era de 69% entre os residentes de Hiroshima, 50% entre os residentes de Nagasaki e apenas 30% entre toda a população do país. A parede do esquecimento fica cada vez mais alta. Em um futuro não muito distante, já não poderemos mais ouvir os relatos das vítimas da bomba diretamente de suas bocas.
Mais Lidas
De que maneira nós, que não passamos por isso, podemos dar continuidade ao fio da memória e garantir que ele não se acabe com a geração que viveu a guerra? Diante de um erro que jamais deve ser repetido — as inúmeras guerras, o Holocausto, Chernobyl, Fukushima, e também, é claro, Hiroshima e Nagasaki —, a humanidade volta sempre a confrontar a questão da transmissão da memória.
Como gravar dentro de nós e transmitir para as gerações seguintes, não como mero conhecimento, mas como experiência real, a memória de coisas que ocorreram antes de termos nascido e que parecem não ter relação conosco? Para enfrentar uma questão como essa, a política e a academia não bastam. Pois dividir a memória de outras pessoas é uma empreitada completamente ilógica.
Aqui, precisamos da força da literatura. É ela que nos atrai quando somos forçados a encarar contradições que estão além da razão e da lógica. A linguagem literária nos permite compartilhar a dor de pessoas cujos nomes nem sequer conhecemos. Ou olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar se não se esconde, também ali, a estupidez que vemos naqueles que cometeram erros irreparáveis.
Eu mesma tenho escutado com atenção as vozes de quem viveu a época da Alemanha nazista, lendo e relendo livros como O diário de Anne Frank, Em busca de sentido, de Viktor Frankl, e É isto um homem?, de Primo Levi. Com Anne Frank aprendi a verdade preciosa de que as pessoas são capazes de crescer e se desenvolver até mesmo vivendo em um esconderijo. Na frase “os melhores não voltaram”, de Frankl, pude sentir a agonia imensurável daqueles que sobreviveram a um campo de concentração. Nesses momentos, em que minha existência atual se conecta a outros tempos em que eu ainda não era nascida, sinto os horizontes da minha vida se expandirem.
A literatura japonesa também continua a nos contar sobre a bomba atômica. Ficção, poesia, dramaturgia, reportagens — o tema tem um lugar especial nos mais diversos gêneros. Para mim, que nasci em 1962, um exemplo muito familiar é Duas meninas chamadas Iida, de Miyoko Matsutani, livro infantil em que duas meninas se encontram através do tempo, guiadas por uma estranha cadeira falante, em uma casa onde o calendário marca sempre o dia 6. Ou o romance Chuva negra, de Masuji Ibuse, obra indispensável na história da literatura japonesa moderna, que retrata as sequelas cruéis da bomba. Ou os ensaios de Notas de Hiroshima, escritos por Kenzaburo Oe antes dos trinta anos, pouco depois de sua estreia na literatura, nos quais ele registra a dignidade extremamente humana dos sobreviventes da bomba que suportam um cotidiano severo. A lista não tem fim.
Viver a tragédia
Um romance que faço questão de mencionar aqui é Flores de verão, de Tamiki Hara, tão admirado no Japão que até hoje é incluído nos livros didáticos. O livro, escrito por um sobrevivente da bomba, retrata exatamente esse período. Nascido em Hiroshima, em 1905, Hara vivia em Tóquio, publicando poemas e ficção em revistas literárias, mas depois de perder a esposa em 1944 voltou para a sua terra natal, em fevereiro de 1945. Nas suas próprias palavras, “foi como se tivesse retornado apenas para viver a tragédia de Hiroshima”. Naquela manhã do dia 6 de agosto, ele estava no banheiro da casa de seus pais. Por sorte, escapou sem grandes ferimentos, e, enquanto tentava fugir pela cidade que ardia, foi registrando o que via em seu bloco de notas. Esses escritos se tornaram, mais tarde, Flores de verão.
O livro começa em uma cena dois dias antes da bomba, quando o protagonista vai visitar e cuidar do túmulo de sua esposa. Lavado e decorado com flores de verão, o túmulo tem um ar limpo e fresco. Sobre essas primeiras páginas já paira o triste pressentimento de que uma única palavra, “morte”, será incapaz de abarcar tanto a morte de sua amada esposa quanto as inumeráveis mortes que ele irá presenciar dali a dois dias, e que as duas coisas serão forçosamente dissociadas.
O autor descreve em detalhes, friamente, a fuga do protagonista, que busca refúgio em um rio. O texto é enxuto, sem expressões sentimentais. Aquela realidade, que ninguém jamais testemunhara e que se desenrola sem cessar diante dos seus olhos, devora coisas vagas como sentimentos.
Rostos tão inchados que é impossível dizer se são de homens ou mulheres. A pele chamuscada das cabeças, repletas de caroços como feijões-pretos. As vozes enlouquecidas pedindo por água. As mãos juntas em prece, junto de vozes que sussurram, fraquinho, “mamãe, papai…”. Unhas e cintos arrancados como recordações dos mortos. Ele descreve assim a cidade tomada pelo cheiro pútrido dos corpos: “[…] na vastidão vazia e prateada, havia ruas, rios, pontes, e havia cadáveres espalhados aqui e ali, inchados, a pele ralada e vermelha. Era um novo inferno, tornado real por uma tecnologia precisa e elaborada”.
Se considerarmos que a explosão nuclear arranca pela raiz tudo o que é humano, talvez naquele momento as palavras também tenham sido incineradas. Porém, não se sabe guiado por que força, Hara levou em sua bolsa ao fugir, além de comida e medicamentos, um caderno e um lápis. O que ele registrou não são simples palavras. São símbolos que captaram algo impossível de verbalizar, que emanava dos mortos e daqueles que iam morrer. Vestígios que provam que aquelas pessoas, obrigadas a partir sem dizer nada, definitivamente estiveram ali.
O que Tamiki Hara registrou são símbolos que captaram algo impossível de verbalizar, que emanava dos mortos e daqueles que iam morrer
No alicerce da escrita de Hara, que enfrentou a bomba atômica em meio à solidão de ter perdido sua esposa para uma doença, há sempre o silêncio dos mortos. Em pé no centro de Hiroshima, o escritor e poeta não grita suas objeções para a sociedade, mas suporta, calado, a contradição de dar palavras às vozes mudas de quem teve sua língua roubada.
Há um pequeno poema escrito por ele, chamado “Isto é um ser humano”. Um poema que transcende o ódio e a amargura e apenas acolhe, delicadamente, a voz frágil de quem se tornou algo que não parece mais ser humano.
Isto é um ser humano
Observem as mudanças causadas pela
[bomba atômica
O inchaço assustador da carne
dá a mesma forma para homens
[e mulheres
Oh — As palavras frágeis
Da voz que escapa dos lábios espessos
no rosto inflamado e desfigurado pelo
[fogo
“Me ajude”
Isto — Isto é um ser humano
Este é o rosto de um ser humano
Ao ler esse poema é impossível não se lembrar de É isto um homem?, do químico italiano Primo Levi, que escapou com vida dos campos de concentração nazistas. O livro começa colocando esta pergunta:
Pensem bem se isto é um homem
Que trabalha no meio do barro
Que não conhece paz,
Que luta por um pedaço de pão,
Que morre por um sim ou por um não
Para mim, as palavras desses dois homens que não deviam se conhecer — Levi e Hara — ressoam em concordância. Um pergunta: isto é uma pessoa? E o outro responde: sim, isto é uma pessoa. Um se debate para continuar sendo humano, o outro se esforça para não perder de vista a humanidade. É através da linguagem da literatura que ambos se encontram e que o eco de suas palavras alcança o futuro. No mundo da literatura, coisas que podem ser vistas como meras coincidências são as que refletem as verdades mais importantes. Com a ajuda dela, é possível recolher as palavras dos mortos em pequenos barcos que seguirão navegando, um após o outro, pelo rio da realidade.
Mais uma coisa que podemos chamar de coincidência: como se tivessem intuído que sua missão como sobreviventes chegara ao fim, ambos os homens se suicidaram, Tamiki Hara em 1951 e Primo Levi em 1987.
Agora, tenho em mãos o livro Hiroshima Collection, uma coleção de fotografias (por Hiromi Tsuchida) dos artefatos reunidos no Museu Memorial da Paz de Hiroshima. Estou olhando para a foto da marmita e o cantil de Shigeru Orimen, um estudante de treze anos. Sua turma havia sido mobilizada como parte dos esforços de guerra e trabalhava a quinhentos metros do epicentro da bomba no momento da explosão. Esses objetos foram encontrados por sua mãe dentro de sua bolsa, junto ao corpo que fora empilhado à margem do rio. Segundo ela, ele saíra de casa animado naquela manhã, pois tinha arroz com grãos de soja para o almoço. A marmita de lata está deformada, seu conteúdo completamente carbonizado.
Nessa pequena lata estão contidos o amor de uma mãe que cuida do filho e a inocência de um menino que se alegra com um prato tão simples como arroz com grãos de soja. Mesmo se não restar mais nenhum sobrevivente da bomba, mesmo que essa lata se torne um fóssil petrificado, enquanto houver alguém disposto a escutar com atenção as vozes escondidas em seu interior, a conexão da memória não se romperá. Pois a voz dos mortos é eterna, e nós, humanos, temos um barco para carregá-la: a linguagem da literatura. (Tradução de Rita Kohl)
Este texto foi realizado com o apoio da Japan House São Paulo
Editoria com apoio Japan House São Paulo

Desde 2019, a Japan House São Paulo realiza em parceria com a Quatro Cinco Um uma cobertura especial de literatura japonesa, um clube de leitura e eventos especiais.
Matéria publicada na edição impressa #39 nov.2020 em outubro de 2020.