
Ciências Sociais,
A floresta está viva
Novo tratado de Davi Kopenawa e Bruce Albert reflete sobre os espíritos animais, o sopro vital da floresta e o estatuto das imagens
19maio2023 | Edição #70O que acontece quando um antropólogo, xamãs, artistas indígenas e não indígenas, um matemático e um astrofísico se reúnem na floresta ou em um café parisiense para conversar sobre imagens e sonhos?
Bruce Albert, antropólogo franco-marroquino, então aluno de doutorado em Paris, segue para o território yanomami, em Roraima, em 1975, com 23 anos de idade. Nos anos subsequentes, conhece ali duas pessoas que terão enorme influência em sua vida: Davi Kopenawa, futuro xamã, e Claudia Andujar, fotógrafa que vivera entre os yanomami alguns anos antes. Com o xamã fez um pacto etnográfico, tornando-se, a seu pedido, o portador de suas palavras para o mundo. Com a fotógrafa fez um pacto ativista de luta pela demarcação do território yanomami. Andujar por sua vez o apresenta a Hervé Chandès, diretor-geral da Fundação Cartier, com quem inicia uma conversa intensa sobre arte e xamanismo, à qual são introduzidos diversos artistas plásticos e fotógrafos brasileiros e estrangeiros que, junto com Chandès, seguem em turnos para a floresta a fim de conhecer os xamãs e entabular diálogos sobre “fazer descer as imagens”. Entram em cena então artistas de outro tipo: um matemático e um astrofísico igualmente versados em concretizar imagens mentais ou reais em objetos concretos, suas fórmulas, que conversam com Albert e Kopenawa em um café parisiense transformado em uma espécie de segmento da casa coletiva yanomami, onde as sessões xamânicas acontecem.
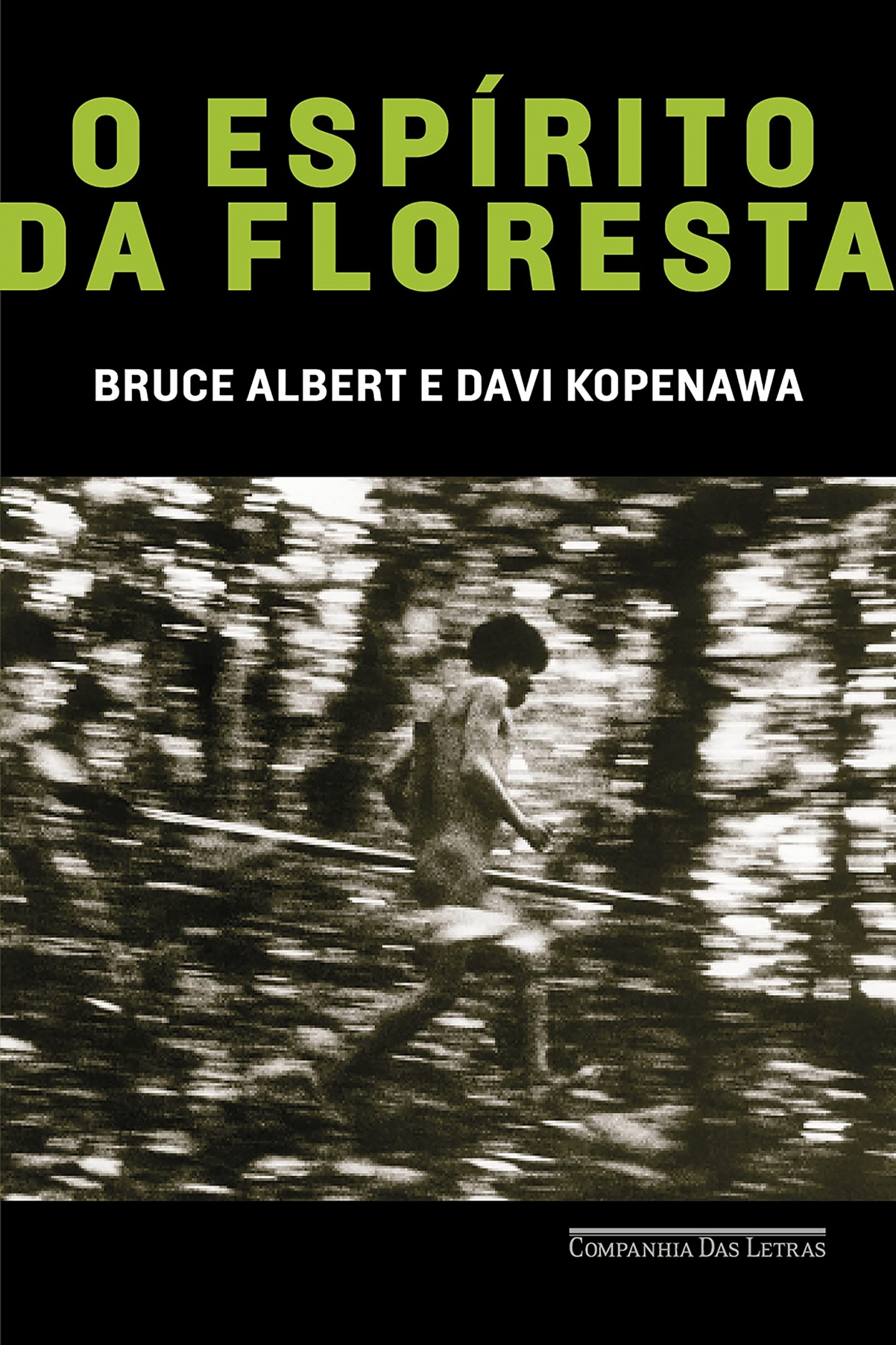
Todos esses encontros resultam em uma série de exposições realizadas entre 2003 e 2022 na Fundação Cartier em Paris, nas quais artes e matemáticas ocidentais dialogam com o pensamento xamânico yanomami e com a obra de artistas indígenas informada pelo xamanismo. O espírito da floresta é outro dos resultados desses diálogos ou desse “ciclo de aventuras intelectuais e estéticas”.
Tratado xamânico
Lançado na França em 2022, o livro chega ao Brasil — e já está na lista dos mais vendidos em livrarias on-line — com tradução de Rosa Freire D’Aguiar e selo comemorativo de trinta anos da demarcação da Terra Indígena Yanomami, fruto da luta dos autores, de Andujar e de outros colaboradores. Ricamente ilustrado por fotos de Andujar e desenhos de Kopenawa e artistas yanomami, o livro é composto por um prefácio de Emanuele Coccia, dezesseis capítulos e três anexos, em que as vozes de Kopenawa e Albert se alternam em uma polifonia que não fica atrás da polifonia florestal detalhada em algumas páginas. Essa é uma nova parceria dos autores do tratado xamânico e obra-prima A queda do céu: palavras de um xamã yanomami, lançado em 2015 também pela Companhia das Letras, traduzido para diversos idiomas e leitura obrigatória para qualquer antropólogo, ambientalista ou interessado no mundo indígena.
Os textos foram em sua maioria escritos para os catálogos das exposições parisienses. Detalhadas explicações de Kopenawa sobre os espíritos animais e o sopro vital da floresta, entremeadas com exortações dirigidas a nós, “o povo da mercadoria”, se alternam com artigos de Albert sobre temas diversos: o encontro com Claudia Andujar, minibiografias de artistas yanomami e reflexões filosóficas e antropológicas sobre o estatuto das imagens. Se no livro anterior da dupla o vasto conhecimento de Albert sobre o pensamento e a vida yanomami foi circunscrito a notas de rodapé, neste ele ganha as páginas principais — não mais exclusivamente um portador-tradutor das palavras de Kopenawa, mas um autor propriamente dito. Para nós antropólogos que há muito conhecemos e admiramos o seu trabalho, é com deleite que encontramos esses textos reunidos, em grande parte inéditos no Brasil, escritos em linguagem clara e acessível ao público leigo.
O livro é resultado desses diálogos ou “ciclo de aventuras intelectuais e estéticas” cinquentenários
O livro começa com a fala sempre sofisticada de Kopenawa sobre a diferença entre a nossa visão utilitarista e predadora da floresta e aquela dos yanomami, que a veem como um ser vivo, um sopro vital que é responsável por sua exuberância, umidade e frescor, e dotada de um espírito-imagem que se faz presente nas visões xamânicas. Seguem-se as reflexões de Albert em torno do mesmo tema, mas a partir de outra perspectiva, aquela da mitologia de criação e transformação do universo yanomami que fundamenta a narrativa de Kopenawa.
Mais Lidas
Esse capítulo é dedicado a Claudia Andujar e contém um saboroso relato do primeiro encontro entre Albert e a fotógrafa, em 1978. Proibida pela ditadura militar de voltar ao território yanomami, Andujar conseguiu o direito a uma rápida visita à área para recolher os seus pertences.
Acordado em sobressalto pelo ronco inopinado de um motor de vw 1300 na noite da floresta, logo desabei, titubeando, pela trilha que ia da casa coletiva yanomami onde eu dormia até a casinha de madeira da missão. Ofuscado pela luz dos faróis amarelos e com auréolas de nuvens de insetos, de repente avistei confusamente a silhueta de Claudia. Esfumada num halo de luz difusa, tal como uma aparição xamânica, ela parecia brotar do chiaroscuro de uma de suas próprias fotografias.
Claudia havia dirigido sozinha o seu fusca preto pela Perimetral Norte, em uma longa viagem desde a capital Boa Vista. Não à toa os yanomami a chamam de mulher intrépida.
Boas histórias
Da terra-floresta a narrativa dialógica se volta para a relação entre os yanomami e os artistas vindos de longe para um período de residência na aldeia watoriki, interessados em conhecer as imagens xamânicas e dialogar com elas. Deixando clara a diferença entre eles e os brancos locais, que vêm há muito predando e dizimando seu povo, Kopenawa explicita o propósito político do intercâmbio:
Só a gente de longe quer nos conhecer e nos defender […]. Brancos vieram de longe para fazer uma exposição de nossas imagens. Viveram entre nós e ouviram nossas palavras. Viram-nos com seus próprios olhos e comeram nossas comidas. Agora, o pensamento deles é direito, e eles estão ao nosso lado […]. Quando a gente de longe nos conhece e fala de nós, a gente de perto hesita em nos destruir.
Ele também deixa claro que não se trata de nenhum favor:
É graças ao trabalho dos xamãs que estamos vivos. Por isso, vocês devem pensar que, quando nos defendem, os xamãs yanomami continuam a proteger vocês também. A terra de vocês parece muito distante. Não é o caso para os espíritos.
O contexto dos encontros com os artistas é detalhado por Albert em um texto produzido para a primeira da série de exposições na Fundação Cartier, em 2003, intitulada Yanomami: L’Esprit de la Forêt. Nas palavras do autor, a exposição tinha como objetivo articular as diferentes artes, sem hierarquias ou paternalismo, de modo a propiciar ao público o “confronto com a perspectiva de uma alteridade radical a fim de desestabilizar os quadros de nossa visão e desenraizar os registros de nossa sensibilidade”. E novamente boas histórias, como quando os xamãs de watoriki examinavam com cuidado reproduções de azulejos viscerais e cerâmicas canibais da artista plástica Adriana Varejão, enquanto jovens rapazes, encantados com o seu charme, desenhavam para ela imagens de animais e pássaros da floresta.

Depois da caçada (Brasil, 1995). Fotografia de Valdir Cruz
Albert aproxima os xamãs dos matemáticos enquanto seres de exceção, ambos obcecados pela estética
Albert rememora as noites passadas na floresta com o artista de som norte-americano Stephen Vitiello, que gravava os sons dos animais do crepúsculo ao amanhecer, e das incursões acrobáticas com o artista de vídeo norte-americano Wolfgang Staehle para instalar câmeras no alto da grande Montanha do Vento, como que tentando emular o olhar excêntrico dos não humanos sobre os humanos. Lembra também do interesse do xamã L., sogro e mentor de Kopenawa, pelo fotógrafo francês Raymond Depardon, que ele reconheceu ser, por sua idade, um “grande ancião”, e com quem fez um pacto que o autorizava a dar a conhecer as imagens da floresta e dos xamãs para as pessoas de longe, para que elas pudessem ajudar a “defender nossa floresta contra os brancos comedores de terra”.
A melhor história de todas, entretanto, tem como protagonista o artista de vídeo norte-americano Gary Hill e ilustra a ação xamânica de torção de perspectivas. Hill andava incessantemente pela aldeia com uma pequena câmera de vídeo e frequentava com assiduidade as sessões xamânicas, interessado em experimentar os efeitos do pó psicotrópico yãkoana (feito com a resina da casca da Virola sp.) que os xamãs sopram nas narinas uns dos outros e os permite fazer “descer os espíritos”. Albert pediu ao mesmo xamã L. que se encarregasse do visitante e que, por prudência, administrasse somente uma pequena dose do pó. Fingindo ter concordado, L. soprou em seu nariz uma dose enorme, que fez Hill cair para trás, desmaiado. Xamanizado pela yãkoana e pelos cantos, Hill, “tornado espectro” ao modo dos xamãs, serviu de canalizador para uma guerrilha cosmopolítica. Em torno dele os xamãs se puseram a cantar e a dançar, evocando imagens dos ancestrais dos brancos que então passaram a ser combatidas pelos espíritos ancestrais yanomami, em uma batalha em defesa da terra-floresta.
Mundos invisíveis
Na inauguração da exposição de 2003, em Paris, Kopenawa comentava de modo tão sofisticado a relação entre os seus sonhos xamânicos e obras como os globos oculares de Tony Oursler, o emaranhado de espelhos de Naoki Takizawa e insígnias animais cintilantes de Vincent Beaurin que os jornalistas buscavam entrevistá-lo longe de Albert, suspeitando que ele estivesse replicando as observações do antropólogo, o que evidentemente não era o caso. O que Kopenawa observava não era a simples continuidade entre imagens; ao contrário, buscava tornar clara a diferença entre o “pôr em imagem” dos artistas e o “tornar-se imagem” dos xamãs, ou seja, entre “arte e cosmopolítica”. Nas palavras de Kopenawa:
Os artistas sonham quase que como nós, xamãs, mas seus sonhos são outros. Eles se tornam como que peles de imagens, só para se olhar. Nós fazemos dançar as imagens dos animais do primeiro tempo para cuidar dos nossos e proteger a floresta.
A discussão sobre o estatuto das imagens aqui e lá se adensa nos capítulos de autoria de Albert dedicados à obra de dois artistas yanomami: o xamã André Taniki e Joseca Mokahesi, filho de um xamã. O primeiro, nos anos 70, recebeu folhas e canetas hidrográficas de Albert e se pôs a desenhar. O resultado foi se tornando uma profusão de imagens relacionadas às visões xamânicas. Não eram consideradas imagens propriamente ditas, como aquelas trazidas pelos xamãs dos tempos ancestrais, mas seus rastros, pegadas, de maneira inédita, davam a conhecer um mundo invisível que até então não podia ser representado, apenas vivido — “mitogramas experimentais, ao mesmo tempo individuais e para uso externo”.
O xamanismo yanomami está mais perto da ciência de ponta do que das versões banais dos livros escolares
Essas imagens-rastro se caracterizam por seu policentrismo, onde diferentes pontos de vista se multiplicam em uma espécie de “eco pictórico da ontologia multiperspectivista que caracteriza os mundos xamânicos indígenas”.
O mesmo se vê nos desenhos de Mokahesi, inspirados pelas “palavras dos espíritos que escuto em nossa casa […] e transformo em desenhos”. Seus desenhos, embora influenciados por um realismo figurativo oriundo da iconografia escolar, mantêm a multiplicidade de perspectivas que caracteriza as obras de seu ancião Taniki: em um mesmo desenho os espíritos surgem tanto na forma humanoide, tal como percebidos pelos xamãs, quanto sob a aparência animal, tal como vistos pelos humanos comuns.
Um dos pontos altos de O espírito da floresta é o capítulo subintitulado “O matemático e o xamã”, referente ao encontro, em um café parisiense, entre os autores do livro e o matemático Cédric Villani, nada menos do que ganhador da medalha Fields, o Nobel da matemática. Intrigado pela capacidade de Villani de “fazer descer” na tela do computador as imagens das equações, Kopenawa pergunta: “Você sonha muito?”. Villani responde positivamente: “Vocês não podem imaginar como para mim são preciosas essas pistas de sonho”. Albert então aproxima os xamãs dos matemáticos enquanto seres de exceção, ambos obcecados pela estética e submetidos a um treinamento rigoroso para exercer o seu ofício. Tal como para os xamãs, as imagens matemáticas não se referem ao mundo visível, pois são oriundas de um “olhar para dentro”, um “olhar revirado”. Matemáticos e xamãs, nos termos do astrofísico Michel Cassé, presente à conversa, são ambos “antenas de um mundo invisível que ajudam os outros a estruturar os seus próprios pensamentos e a se comunicar entre si”. O xamanismo yanomami e de outros povos amazônicos está mais perto da ciência de ponta do que das versões simplificadas e ultrapassadas de ciência que aprendemos nos livros escolares.
Outras artes
Além das plásticas e matemáticas, o livro aborda as artes sonoras e poéticas. O capítulo “A floresta poliglota” é dedicado a uma apresentação detalhada do vasto conhecimento biológico dos yanomami. Desde criança se aprende a reconhecer e imitar os sons dos animais da floresta, de modo a seduzi-los e atraí-los em direção ao caçador. Mais do que isso, aprende-se que os sons de determinados animais evidenciam, além de sua própria presença, aquela de outras espécies, a frutificação de árvores e até eventos climáticos. Esse sons serão incorporados, como onomatopeias, na fala cotidiana, assim como em um tipo de canto minimalista que Albert compara aos haicais, oferecendo-nos um exemplo que certamente suscitaria a admiração de Bashô: “Ele sobe e desce!
O rabo do cuxiú-preto sobe e desce”.
O que chamo aqui de conhecimento biológico é, do ponto de vista yanomami, fruto de relações entre pessoas propriamente ditas, e não, como para nós, entre humanos e uma natureza a ser controlada e dominada. Como nos alerta com insistência Kopenawa, tendo sido humanos os animais no passado, a “vocação mimética” seria uma espécie de regressão ontológica, uma volta ao tempo mítico em que animais e humanos eram iguais e se comunicavam livremente. E mais: os cantos não são criações individuais ou coletivas, mas oriundos das “árvores dos cantos”, criadas pelo demiurgo Omama na origem dos tempos. Além dessas, outras árvores têm sensibilidade humana e sentimentos, sofrendo de dor quando atingidas por machados. Kopenawa explica:
A floresta está viva […]. Os brancos talvez não ouçam seus lamentos, mas ela sente dor, como os humanos. Suas grandes árvores gemem quando caem e ela chora de sofrimento quando é queimada.
Albert segue, fazendo uma ponte entre os conhecimentos xamânicos e as descobertas recentes da neurobiologia vegetal, concluindo que “a atribuição de uma sensibilidade aos vegetais não é, porém, tão ‘simbólica’ como se poderia pensar na primeira leitura”, de modo que devemos “dar a essas observações xamânicas mais crédito do que estávamos acostumados a lhes conferir”. É passada a hora de darmos a devida atenção à densidade e à longevidade das experiências dos povos da floresta, que teimamos em ocultar com nosso “narcisismo antropocêntrico”.
Epidemias
A ignorância dos brancos e suas consequências é o tema dos capítulos finais do livro. Passamos das memórias de Kopenawa sobre as epidemias do passado, que dizimaram seus parentes e conterrâneos, à Covid-19, sobre a qual discorrem o xamã e o antropólogo. Narrativas que, em linguagens distintas, convergem na constatação do espírito predador dos brancos — o desrespeito à floresta e aos seus habitantes, humanos e não humanos, e os danos que acabam por nos atingir a todos, como se constata não só pelo sofrimento global com a pandemia, mas também pelos desastres climáticos e humanitários que se adensam.
Falta atenção à densidade e à longevidade das experiências dos povos da floresta
O fato dos desastres atingirem a todos não nos permite dizer que sofremos do mesmo modo. A tragédia vivida hoje pelos yanomami, que replica situações do passado, dificilmente pode ser compreendida por nós, povo da cidade, embora volta e meia as suas imagens nos cheguem. Grandes extensões de floresta destruídas (Albert nos oferece alguns números); rios contaminados por mercúrio, um mal invisível que atinge principalmente grávidas e seus bebês, que nascem com dificuldades motoras e cognitivas; garimpeiros que entram em aldeias levando doenças de todo tipo, além de engravidar meninas jovens, deixadas depois à própria sorte. São tantos os doentes, disse-me um aluno que se encontra em Boa Vista, que a Casai, ambulatório indígena, está superlotada, com doentes misturados a tal ponto que já não se sabe mais a doença de um ou de outro.
Um estadista
Davi Kopenawa alterna os cuidados com a sua gente com viagens a lugares distantes, mantendo firme seu propósito de fazer conhecer os yanomami aos estrangeiros, para que possam admirá-los e respeitá-los, colaborando na desintrusão de seu território e proteção de seu povo. Tive a sorte e o prazer de presenciar a sua atuação em um desses locais em janeiro último. Kopenawa estava nos Estados Unidos para a inauguração, no museu The Shed, em Nova York, da exposição The Yanomami Struggle, em que as fotos de Anjudar dialogam com obras de artistas yanomami. Acompanhado de seu filho Dário Yanomami, hoje importante liderança local, dos artistas yanomami Joseca Mokahesi, Morzaniel Iramari e Ehuana Yaira, e de Bruce Albert, Davi Kopenawa foi recebido com honras de chefe de estado pelo reitor da prestigiosa Universidade Princeton, para em seguida falar para um auditório lotado.
Mesmo há muitos anos fascinada por sua inteligência e seu senso político, sua capacidade de falar as coisas certas, do jeito certo, na hora certa, fui surpreendida por seu golpe de mestre. Diante de sua fala sobre a crise humanitária vivida pelos yanomami, alguém da plateia perguntou como poderia ajudar, pensando, imagino, em doações. Kopenawa pensou um pouco e disse: “Querem mesmo me ajudar? Ajudem-me a escrever uma carta para Joe Biden!”, suscitando risos sem graça da plateia. Não resisti e me levantei para aplaudi-lo. Estava diante do maior estadista que conheci. Seu pedido teve eco. Um grupo de alunos indígenas norte-americanos estava, no momento em que voltei para o Brasil, de fato escrevendo a carta.
Matéria publicada na edição impressa #70 em junho de 2023.
Porque você leu Ciências Sociais
Fábulas reais para tempos modernos
Ensaio sobre teorias da conspiração e livro-reportagem da compra do Twitter mostram como redes sociais criaram um mundo paralelo
OUTUBRO, 2024






