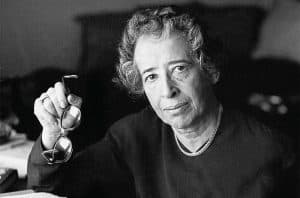Filosofia,
Breve depoimento sobre um professor
Provocador, o filósofo José Arthur Giannotti morreu aos 91 anos, no final de julho
12ago2021Parto de um pressuposto que é de bom tom explicitar: qualquer coisa que se diga ou se escreva sobre o professor José Arthur Giannotti e sua obra ficará aquém de ambos. Não há escapatória, nem mesmo o recurso à cronologia. O que se segue, pois, é apenas um depoimento pessoal, confuso e escrito a quente, não um exame do pensamento vário de José Arthur Giannotti, algo de que não seria capaz. Parece que há uma gíria em redações de jornal, o termo “eubituário”, para descrever textos em que o autor acaba falando mais de si do que do próprio homenageado. Pretendo usar essa estratégia.
Início da década de 90. Eu havia acabado de ingressar na pós-graduação do departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP). Meu orientador à época, o professor Ricardo Terra, ele mesmo ex-aluno do Giannotti, me chamou para uma conversa. Em meio aos temores de praxe — “O que foi que eu fiz de errado? Deixei de entregar algum relatório?” —, descobri que na verdade ele queria fazer um convite: participar do grupo de Lógica e Ontologia que o Giannotti acabara de criar no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap). “Mas Ricardo, pelo amor de deus, o que eu vou fazer lá? Não tenho nada a contribuir.” E ele, de modo lapidar: “A gente não vai lá para contribuir. A gente vai lá para ouvir o Giannotti pensando em voz alta”.
Rigoroso com si mesmo, jogava fora capítulos inteiros de um livro em construção, para desespero de seus interlocutores. E para uma espécie de educação de como se exercita o pensar
O grupo, formado por alguns professores (além dos citados, outra presença decisiva era a do professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, também ex-aluno do Giannotti) com um bando de doutorandos e mestrandos mais perdidos que cachorro caído de mudança, durou dez anos. Dez anos. Reuniões semanais ou quinzenais, com a leitura a cada semestre (ou ano inteiro, conforme o texto) de algum clássico da filosofia. Os mestrandos e doutorandos perdidos se encarregavam de apresentar os seminários, e o Giannotti se encarregava de uma única tarefa: dizer que estava tudo errado e explicar, tintim por tintim, o que nos havia escapado da leitura desse ou daquele trecho do livro em discussão.
Na pandemia ele passou por diversas internações hospitalares breves, por problemas variados. Numa delas, recebi uma foto dele, no hospital, sentado na cama e lendo a Ética do Espinosa. Junto, a mensagem: “Que texto lindo é a Ética”. Fico um pouco preocupado — quem leva a Ética prum quarto de internação? — e faço sugestão modesta: “Você quer que eu leve aí uns romances policiais?” (gênero que ele adorava). Resposta: “Não precisa. Eu tô relendo também os Pensamentos, do Pascal, trouxe pra cá, fico alternando entre ele e o Espinosa”. “Lindo” era um de seus adjetivos preferidos, e que cobria da filosofia à culinária, das viagens mundo afora às óperas de que ele tanto gostava — Monteverdi acima de todos, em séria disputa com os deuses em geral. Ele só não usava “lindo” para seus próprios textos, preferindo expressão mais chã: “Você leu meu texto? Ficou do caralho, não?”.
Pensar e provocar
Mais Lidas
Começo dos anos 80. Giannotti ia voltar a dar aulas no departamento de Filosofia, depois da cassação pelo AI-5 e do afastamento. Mas com uma condição: ele só aceitaria dar um curso se fosse para as turmas de primeiro ano. A disciplina, Filosofia Geral, tinha como programa uma completa insensatez: os tópicos eram “Lógica”, “Ontologia”, “Teoria do Conhecimento”, “Ética”, “Filosofia Política”, “Estética”, e por aí vai. Uma ou duas aulas para cada área. A sala, os alunos, era um misto de espanto (não, não o thaumazein grego, era apenas pavor simples) e de encantamento, pelo modo como ele passava de um assunto a outro como quem troca de camisa. Numa mesma aula apareciam palavras ou citações em grego, latim, alemão etc., e um aluno olhava pro outro em busca de ajuda, que nunca vinha. Lembro, por exemplo, de algumas barbaridades ditas por ele em sala: “Dá pra ler toda a literatura ocidental relevante em dois anos — basta ter afinco”. Ou: “Pra aula da semana que vem quero que vocês leiam a Ética a Nicômaco, do Aristóteles”. Algum aluno mais precavido perguntava: “Qual trecho?”, ao que ele respondia: “Ué, o livro todo”. Numa das aulas de estética, ele começou a implicar com o dodecafonismo na música e soltou: “Não consigo ouvir Schönberg o dia inteiro”. Levantei timidamente a mão: “Mas, professor, isso não pode ser critério. Ninguém ouve Mozart o dia inteiro”. Sua resposta: “Eu ouço”.
Cabe aqui, também, uma pequena confissão: numa das aulas, uns dez minutos antes que ele chegasse, fui até a lousa e escrevi com giz, em caixa alta, “não entre aqui quem não souber grego e alemão”, paródia da máxima que estaria na entrada da Academia de Platão, “Não entre aqui quem não souber geometria”. Giannotti entra na sala, vê a lousa, vai até ela e pega o apagador. No lugar de “grego e alemão”, ele apaga e escreve “pensar”. Vira-se para a classe e dá um sorriso de moleque, infantil. Um sorriso sapeca, como se dizia antigamente.
Nos primeiros meses de 2021, Giannotti recebe uma indicação a um prêmio internacional, recém-criado (em 2016), vindo da Fundação Berggruen, por sua “contribuição para o desenvolvimento das ciências humanas”. Um milhão de dólares era o valor do prêmio. Havia apenas três exigências vindas do comitê avaliador: que ele escrevesse um breve relato sobre sua trajetória, que fosse apresentada uma lista com sua produção (tarefa que coube a mim compilar: mais de trezentas publicações, entre livros, artigos acadêmicos e textos de intervenção para jornais e revistas ao longo de seis décadas), e que ele estivesse presencialmente na cerimônia em Nova York, para a premiação. Sobre essa exigência, ele apenas disse: “Se precisar, vou até lá nadando”.
Giannotti, em meados dos anos 1990, passou por cirurgia séria no coração, pontes de safena, stents, pacote completo. Depois, já recuperado e andando pimpão pelos corredores do departamento, era abordado com frequência pelos alunos, com a piada pronta: “Mas, professor, estamos aqui com uma dúvida. Ao abrir o peito, os médicos encontraram o coração ou havia apenas um vazio na caixa torácica?”. Ele ria, gargalhava, e às vezes emendava com uma contra-piada. Era sensacional ver sua atuação ao vivo, sendo provocado. O professor, como é amplamente sabido, adorava uma provocação, com a mesma intensidade que detestava puxa-saquismos de toda ordem. Tremo ao pensar em sua opinião sobre estas linhas aqui, por exemplo.
Adorava uma provocação, com a mesma intensidade que detestava puxa-saquismos de toda ordem
Talvez final de 2017, começo de 2018. Giannotti andava incomodado há algum tempo com textos, bons textos, a seu respeito, que insistiam em ler sua produção filosófica a partir do conceito de reflexão e, principalmente, a partir de seu livro clássico Trabalho e reflexão, publicado em 1983. Para encerrar de vez essas leituras, Giannotti avisa a pessoas mais ou menos próximas que estava pensando e preparando um novo livro, uma justaposição inusitada entre o segundo Heidegger e os últimos textos de Wittgenstein, pós-Investigações filosóficas. Amigos existem para acolher: “Você tá maluco, Giannotti?”, “Não, pelo amor, Heidegger não”, em meio a outras frases gentis. Tive o privilégio de receber os capítulos conforme ele ia escrevendo, porque ele queria saber a opinião de várias pessoas.
O procedimento da conversa obedecia, quase invariavelmente, à seguinte ordem: “E aí, leu o texto?”, “Sim, professor, achei bom, talvez ficasse melhor se…”, “Não, pode jogar fora. Percebi que cometi um erro, uma coisa que não havia entendido direito, e tá tudo errado. Vou refazer e mando a seguir a nova versão”, que era, óbvio, inteiramente diferente da anterior. Podemos repetir a rotina ao longo daquele ano de 2018: “Eu errei”, ou “Acabei de descobrir uma besteira que escrevi”, ou “Agora, só agora, entendi tal conceito”. E assim vai, ou foi, até que as quase quinhentas páginas do livro Heidegger/Wittgenstein: Confrontos ficassem prontas. Um rigor aplicado a si mesmo que fazia com que ele jogasse fora capítulos inteiros de um livro em construção, para desespero de seus interlocutores. E para uma espécie de educação, claro, de como se exercita o pensar. Trocando em miúdos, a gente faz, tenta, erra, corrige, acerta, erra de novo, acerta parcialmente e seguimos. Com esforço mínimo, pode-se aumentar o escopo desse exercício do pensar em outras direções, e acho que o Julio Cortázar tinha uma frase mais sucinta a respeito: “Entre viver e escrever nunca admiti uma clara diferença”.
Pra encerrar: no começo dos anos 2010, fiz a besteira de ligar para ele a propósito de um texto muito bom que ele publicara na revista Novos Estudos, do Cebrap, um exame de certos conceitos marxistas à luz do segundo Wittgenstein, utilizando, no início da argumentação, alguns filmes como exemplo, e não meras ilustrações, da discussão feita ali.
Recebi como resposta: “Gostou? Então faça um doutorado a respeito de filosofia e cinema”. Fiz os protestos de costume, fazia mais de uma década que me encontrava longe da pesquisa acadêmica. Quem o conheceu sabe da impossibilidade concreta de dissuadi-lo fosse lá a respeito do que fosse. Semanas, meses a fio ele me ligava sobre a sugestão, melhor, a imposição, insistindo, e eu repetia minha ladainha contrária. Numa das conversas, ele aparece com um argumento que só posso chamar de honesto: “Hoje em dia qualquer idiota tem doutorado. Você consegue”.
O resultado dessa candura foi, de fato, a escrita do texto. Antes de submeter o exemplar da tese à banca final de exame, no final de 2017, mostrei a ele o agradecimento que havia escrito na abertura e que reproduzo aqui, com as desculpas pelo cabotinismo da auto-citação: “A José Arthur Giannotti, que, desde 1983, vem tentando me desasnar com seu rigor, seu exemplo e — como se vê pela data — sua paciência. Se não foi inteiramente bem-sucedido nessa tarefa, a culpa, por certo, encontra-se na outra ponta. Sem suas preocupações disfarçadas em cobranças, os conselhos disfarçados em impropérios — alguns dos quais dificilmente aprovados pela ABNT —, e o afeto gigantesco disfarçado em mau humor, este trabalho sequer teria se iniciado”. Ele leu o texto, por uma fração de segundo seu rosto se fechou, depois riu muito, riu a valer, do mesmo jeito infantil que eu havia presenciado em sala de aula quase quatro décadas antes.