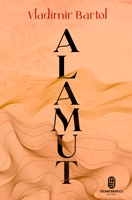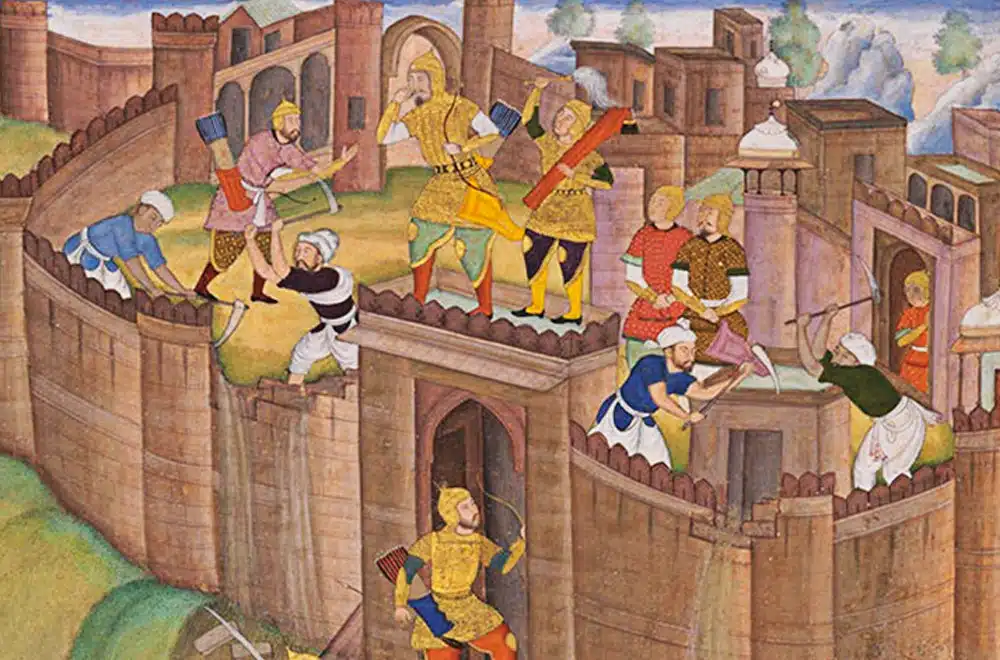
Literatura,
Na trilha dos Assassinos
Da criação dos poemas de Omar Khayyam à crítica ao totalitarismo, dois livros tratam da origem da Ordem dos ‘Hashashyin’
27maio2022Há muitas lendas em torno da Ordem dos Assassinos, assim como da origem da palavra que passou a significar “aquele que mata”. Uma das mais difundidas vem da época de Marco Polo: o termo “assassino” viria do árabe “hashashyin” — “fumador de haxixe” —, pelo fato de seus seguidores estarem sob efeito do haxixe ao realizar missões perigosas e, por vezes, suicidas. Já outra possível gênese da palavra é menos emocionante: ela viria de “base” e “fundamento” — ou “asa”, em árabe — da fé islâmica, que seria seguida à risca pelos “asasiyun”.
O que se sabe mais factualmente é que a ordem foi criada por Hasan ibn Sabbah, nascido no século 11 na cidade de Qom (atualmente no Irã, é um dos principais centros de ensino islâmico do país). Seguidor de uma vertente xiita do islã, chamada ismaelismo, ele serviu ao Império Seljúcida na época do califado islâmico de Bagdá; fugiu para o Egito, onde trabalhou para o califado fatimida, rival de Bagdá e dos turcos seljúcidas; e depois se entrincheirou em uma fortaleza no Irã chamada Alamut, construída por dinastias precedentes. Ali, Hasan fundou uma sociedade aquartelada, que seguia rígidas regras religiosas e onde era treinada uma ordem de elite conhecida como Assassinos.
O grupo matou vizires, atentou contra sultões, conquistou outras cidades e fortalezas (criando o Estado ismaelita nizari), fez alianças questionáveis com os cruzados e desequilibrou a balança de poder do Oriente Médio ao longo dos séculos 11 e 13. Contudo, não há fontes históricas dos ismaelitas que corroborem alguns dos mitos em torno dos hashashyin, pois Alamut e todos os seus registros foram destruídos pelos mongóis em 1282.
O conhecimento das ruínas do Castelo de Alamut por parte dos europeus também é digno de ser mencionado. A viajante britânica Freya Stark (1893-1993), que falava persa, se aventurou sozinha pelo Oriente Médio vestida de homem, conviveu com as populações locais e visitou Alamut, nas montanhas de Alborz, em 1930. Essa viagem foi narrada por ela no livro The Valleys of the Assassins and Other Persian Travels (Os vales dos assassinos e outras viagens persas), de 1934, que fez muito sucesso na época do seu lançamento.
Mais recentemente, o grupo inspirou a popular série de jogos Assassin’s Creed, assim como o filme homônimo com Michael Fassbender e Marion Cotillard, de 2016. E também é tema de dois livros lançados agora no Brasil: Samarcanda, de Amin Maalouf, e Alamut, de Vladimir Bartol.
Rubaiyat
Samarcanda, do franco-libanês Amin Maalouf, chega em uma edição caprichada da Tabla, editora voltada para a publicação de escritores do Oriente Médio, do norte da África e de autores com ligação com a cultura árabe. Ao abrirmos o volume, deparamos com um belo mapa feito pela artista Ana Cartaxo (uma das sócias da Tabla), que retrata a Rota da Seda, que vai de Kachgar (hoje no oeste da China) chegando até Alexandria, no Egito, e Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia. A tradução fluida de Marília Scalzo mantém o tom onírico e sublime da principal narrativa de Maalouf: a trajetória do manuscrito do Rubaiyat, do pensador persa Omar Khayyam (1048-1131), grande astrônomo e matemático, além de poeta. O livro se tornou um clássico mundial através da tradução inglesa do britânico Edward FitzGerald em meados do século 19, que deu início a uma febre mundial, com os Clubes Omar Khayyam (onde admiradores liam e conversavam sobre o Rubaiyat), e influenciou autores como Fernando Pessoa e movimentos artísticos como o pré-rafaelismo.
Mais Lidas
A história, dividida em quatro partes, se inicia em Samarcanda, uma das principais cidades da Rota da Seda (e que hoje fica no Uzbequistão), com a prisão de Khayyam, que é presenteado com um caderno em branco de um juiz para que ele escrevesse as suas quadras, ou rubaiyat (plural de rubai, um tipo de poema formado por quatro versos seguindo uma métrica específica), consideradas imorais por alguns por celebrar o vinho, as mulheres e outros prazeres mundanos, ao mesmo tempo que relembram a efemeridade da vida.
É na primeira seção que o jovem Omar Khayyam conhece, em uma viagem até a corte seljúcida em Isfahan (cidade que hoje está no Irã), Hasan ibn Sabbah, um estudante brilhante que já tinha lido e memorizado todo o conhecimento da época. Em Isfahan, Khayyam cai nas graças do poderoso vizir Nizan al-Mulk (1018-92), conseguindo financiamento para construir um observatório astronômico na cidade. No livro de Maalouf, é através do poeta persa que Hasan e Nizan se conhecem. De aliados, os dois se tornam rivais dentro da corte de Malikchah. Nessa disputa, Nizan acaba saindo por cima, obrigando Hasan a fugir.
Na segunda parte de Samarcanda, encontramos Khayyam como um intelectual consolidado em Isfahan, escrevendo por prazer as suas quadras “vulgares”. É aqui que vemos o poderio de Hasan crescer e ameaçar a ordem estabelecida no Oriente Médio. Tanto que um de seus hashashyin consegue assassinar Nizan al-Mulk, embaralhando a corte seljúcida. Essas duas primeiras partes são as mais emocionantes do livro, lembrando a atmosfera da saga A guerra dos tronos, de George R. R. Martin. (Se tivesse origem europeia, com certeza a história dos Assassinos já teria dado origem a várias adaptações audiovisuais de tirar o fôlego.)
As partes finais seguem o verdadeiro narrador do livro, o fictício Benjamin O. Lesage, que supostamente tirou o manuscrito do Irã e o levou para a Europa. A terceira seção mostra a disputa de poder no Irã no começo do século 20, enquanto a quarta traz o destino do Rubaiyat, que naufragou com o Titanic em 1912 — na realidade, é o exemplar mais luxuoso do manuscrito já feito até aquele momento que está no oceano.
Tudo é permitido
Se em Samarcanda Hasan ibn Sabbah é um rapaz brilhante e carismático, um muçulmano devoto que acredita estar fazendo o bem para o mundo — o que humaniza essa figura controversa —, o Hasan de Alamut é muito mais cínico. Nesse romance, o líder ismaelita não passa de um manipulador que se aproveita da credulidade alheia para construir um regime niilista do qual ele é o líder supremo. O Profeta Muhammad e o Corão não passam de armas nas suas mãos para convencer jovens rapazes de que ele possuiria as chaves do Paraíso, onde teriam acesso a todos os prazeres terrenos: da boa comida ao vinho e até a belas virgens, as huris. Esse Hasan criou artificialmente um jardim das delícias, com belas jovens escravizadas que aprendiam os ditames religiosos e as técnicas da sedução para enganar os jovens Assassinos, que, após passar uma noite inesquecível naquele local sob o efeito de bolas de haxixe trazidas da Índia, fariam de tudo para retornar àquele paraíso. Tudo não passava de um grande experimento. “Nada é verdadeiro, tudo é permitido” é o lema supremo dos ismaelitas — além de ter inspirado a Magia do Caos, uma manifestação contemporânea do ocultismo e da tradição esotérica ocidental.
Enquanto o Hasan de Maalouf segue uma vida espartana, o Hasan de Vladimir Bartol se deleita com álcool e os prazeres carnais, ao passo que proíbe esse tipo de comportamento aos seus oficiais. Na verdade, a única coisa que os dois personagens têm em comum é o prazer em ler algumas das quadras do Rubaiyat e sentir falta do amigo Omar Khayyam.
Essa diferença é explicada pelo momento em que o autor de Alamut escreveu as quase seiscentas páginas do romance: o entreguerras. Nascido em 1903 no Império Austro-Húngaro, Vladimir Bartol, autor de ascendência eslovena, demorou dez anos para escrever sua grande obra, que foi publicada em 1938 como uma crítica à ascensão de regimes totalitaristas que ele observava na Europa. Ao se valer de Hasan, Bartol, seguidor de Carl Jung e Sigmund Freud, mostra os mecanismos psicológicos e emocionais por trás da figura de um líder carismático de quem emana todo o poder. Seu Hasan chega a convencer os jovens Assassinos de que ele está acima de Deus, de Muhammad e do Corão.
O grupo matou vizires, atentou contra sultões e desequilibrou o poder do Oriente Médio
A edição trazida pela editora Morro Branco começa com um bem-vindo aviso para os leitores da atualidade não verem em Alamut um reforço aos estereótipos orientalistas, mas sim um alerta de que qualquer ideologia religiosa ou nacionalista pode ser usada de forma periogosa e influenciar o destino de milhões de pessoas. Algo parecido acontece com a série Duna (1965), cujo autor, Frank Herbert, com certeza se inspirou nos hashashyin de Bartol.
Essa reflexão é importante principalmente porque, em uma leitura rápida, é fácil fazer a ponte entre os Assassinos e os estereótipos dos terroristas islâmicos perpetrados pela imprensa. Ainda assim, o orientalismo corre solto nas páginas — o que não é de espantar, visto que o livro foi escrito nos anos 20 e 30, quando o mundo ainda era bastante dominado pela mentalidade imperialista e colonialista europeia.
Nesse sentido, poderia ter havido um cuidado maior na tradução (feita por Alexandre Boide, que, no geral, é muito boa) e na revisão de alguns termos, em especial “Alá”, que em árabe significa simplesmente “Deus”, pois é o mesmo deus das religiões monoteístas judaico-cristãs. Ao escolher manter o termo em árabe, a edição cimenta linguisticamente a separação do islã tanto do judaísmo quanto do cristianismo, algo defendido pela Arábia Saudita, por exemplo, justamente para fazer essa diferenciação que é de interesse da monarquia saudita. O mesmo acontece para outros grupos religiosos, tanto judaicos como cristãos, mais conservadores que procuram intensificar essa cisão — algo que, na minha interpretação, vai na contramão do romance de Bartol.
Porque você leu Literatura
Um planeta possível
Livro da premiada ilustradora portuguesa Eduarda Lima leva leitores a uma viagem por lugares de natureza deslumbrante para refletir sobre o futuro possível para as grandes cidades
ABRIL, 2024