
Literatura,
Filha do pai
Em ensaio sobre a morte do pai, Chimamanda Ngozi Adichie retira a película de banalidade com que a morte tem sido noticidada
18ago2021 | Edição #49“Como as pessoas andam pelo mundo, funcionando, depois de perder um amado pai?” Em junho do ano passado, no meio da pandemia do coronavírus, a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie perdeu repentinamente seu pai, James Nwoye Adichie, com quem tinha uma relação próxima e um vínculo profundo. Embora a morte dele não tenha tido relação com o vírus, a autora se viu confrontada por seu luto pessoal, enquanto o mundo vivia um processo de luto coletivo.
Foi por uma ligação de vídeo que ela recebeu a notícia. A pandemia não apenas aproximou a morte do dia a dia de todos nós, mas também formatou a vida por meio das telas de nossos computadores e telefones celulares. Por isso também há algo de estranhamente familiar na leitura de Notas sobre o luto, breve ensaio em que a autora relata essa experiência autobiográfica, que também é uma reflexão sobre amor e dor, presença e ausência, vida e morte, pares de opostos que quando se aproximam são capazes de causar vertigem. Há algo de universal na vivência narrada por ela, ainda que Chimamanda faça questão de ressaltar a especificidade daquela história, na busca de colocar em palavras as singularidades de seu pai tão querido e de sua preciosa relação com ele.
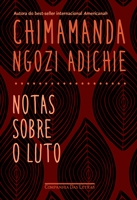
Dividido em capítulos curtos, o livro é breve, denso e bonito. Nele, Chimamanda relembra momentos alegres e amorosos compartilhados com seu pai e sua família numerosa e unida, bem como resgata episódios ancestrais da cultura igbo, da qual descendem. Mas, mais do que uma homenagem e um livro de memórias, o que parece guiar a escrita de Notas sobre o luto são o absurdo e a dor.
Nesse percurso, a autora rememora alguns momentos-chave de seu processo de luto com riqueza de detalhes. Conta, por exemplo, que quando recebeu a notícia tirou o casaco que chama de uniforme de confinamento e o jogou no chão, o que mais tarde rendeu uma piada entre os irmãos: “Tomara que você nunca receba nenhuma notícia devastadora em público, já que a sua reação ao choque é arrancar as próprias roupas”, diz seu irmão Kene. Dá a impressão de que é a própria pele que ela gostaria de arrancar, como se fosse possível sair de si mesma no momento mais agudo da tristeza.
Em outro momento, a autora menciona um comentário do marido: ela tinha uma risada diferente quando estava com o pai. Uma risada que só a presença dele, a interação com ele, era capaz de causar. Essa risada se perdeu para sempre. Ela se ressente também das partes de si que não existem mais depois da morte do pai.
Reordenamento
Para a psicanálise, o luto é mais do que um estado de pesar e sofrimento. Em “Luto e melancolia”, texto de 1915, Freud o conceitua como um trabalho psíquico que busca reordenar a libido antes investida no objeto. De outro lado, o luto também é um trabalho de reordenamento da posição que nós ocupamos em relação àquilo que foi perdido. Portanto, não é apenas um pai amado que se vai, mas também a posição de filha dele. Não à toa, enquanto prepara camisetas para o rito fúnebre, Chimamanda escolhe as palavras que afirmam, em igbo, algo como “filha do pai”.
Mais Lidas
Embora não encontremos nada exatamente novo sobre o luto nesse material, seu valor reside num outro lugar, de quem agora não se preocupa com feitos notáveis, nem em evitar lugares-comuns, se eles forem a maneira mais honesta de expressar algo. O valor da obra está justamente na sua honestidade, na ausência de afetação, na recusa da teorização. É a partir de uma ferida aberta que a autora fala.
Não é apenas um pai amado que se vai com a morte, mas também a posição de filha dele
O texto cristalino transmite a impressão de que a autora escreve de forma genuína, esmiuçando o que sente. Depois de romances bem recebidos, como Hibisco roxo, Americanah e Meio sol amarelo, em que aborda temas difíceis sem recorrer a simplificações, a autora se volta para sua própria história de vida e a transforma em literatura. Retira a película de banalidade com que a morte tem sido retratada nos noticiários atuais. Tem raiva de quem diz que o pai já tinha 88 anos, que descansou, que foi para um lugar melhor.
É como se acompanhássemos alguém que se confronta com a morte pela primeira vez, quase como se estivéssemos na posição privilegiada da sua filha de quatro anos que passa a conhecer a palavra “morte” com a perda do avô. Há no livro uma certa ingenuidade que perdemos, a ingenuidade de alguém que estava habituado à felicidade e, de repente, é confrontado com a tristeza de maneira abrupta, como nunca antes.
Chimamanda Ngozi Adichie cresceu em uma família de classe média, com pais bem-sucedidos profissionalmente: o pai, um prestigioso professor de estatística na Universidade da Nigéria; a mãe, a primeira vice-reitora negra dessa mesma universidade. A autora, a quinta filha de seis irmãos, foi profundamente amada, respeitada e estimulada desde a infância. O pai, que retrata de forma idealizada — no mínimo, um bom marido, um bom pai, um bom profissional, um homem bom —, sempre a apoiou e continuava apoiando.
Se ela se transformou na potência que é, uma parte importante do mérito se deve ao fato de que cresceu em uma família estável, com pais extraordinários que abriram as primeiras portas do caminho impressionante que depois ela continuou a desbravar. Nesse percurso de inúmeras conquistas, o pai sempre estava lá, acompanhando cada passo. Esse é o primeiro livro dela como órfã (sua mãe morreu em março deste ano), o primeiro que não será lido por ele. Em poucas páginas, Chimamanda se certificou de garantir que James Adichie continue a ser admirado e reconhecido, talvez em uma proporção que mesmo em vida ele não alcançou. Uma leitura que emociona e traz alento em um momento tão difícil para todos nós.
Matéria publicada na edição impressa #49 em setembro de 2021.
Porque você leu Literatura
Uma ode ao desejo
Em romance de estreia, Selby Wynn Schwartz transforma precursoras do feminismo em herdeiras da poeta grega Safo
JULHO, 2025






