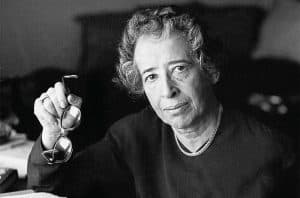Crítica Literária, Filosofia,
Ler, um ato político
Filósofo francês mostra como o reconhecimento da equivalência dos juízos de gosto abriu caminho para a democratização da sociedade
15nov2018 | Edição #8 dez.17-fev.18“O animal político foi de início animal estético”: com essa formulação, Jacques Rancière resume toda uma vertente de sua reflexão filosófica. Mas o livro do qual foi extraída — O desentendimento, de 1993 — não chega a desenvolver suas implicações. Estas serão exploradas em La parole muette [A palavra muda], de 1995, e numa série de outros livros, dentre os quais os que nos interessam aqui: O fio perdido, lançado na França em 2014, e Políticas da escrita, reedição revisada de um volume publicado apenas no Brasil em 1995.
Em todo caso, é de relações entre política e estética que se trata. Mas não interessa a Rancière estabelecer uma ordem causal entre esses elementos, como se a política tivesse de ser compreendida em chave estética ou o contrário. Política é aí o nome de uma situação em que há um conflito entre uma comunidade fraturada em dois grupos: os que detêm o poder institucional e a propriedade, portam títulos e outorgas, e o povo, desprovido de tudo, exceto do direito de reivindicar para si a participação integral e igualitária na esfera das decisões que determinam a configuração dessa mesma comunidade.
Essa definição, um pouco abstrata, é encontrada por Rancière junto a Platão e Aristóteles, ou melhor, é extraída destes em leitura altamente idiossincrática. Segundo Rancière, certas teorias do contrato, surgidas a partir do século 17, se insurgem contra a aberta problematização proposta pelos gregos. Ao relegarem esse conflito, constitutivo do corpo político, à situação ideal de uma “guerra de todos contra todos”, tais teorias suprimem a igualdade como fato e como ideia e instauram ou justificam o seu contrário: uma ordem hierárquica, em que cada um tem um lugar preciso em relação à posição do soberano, seja ele um indivíduo, um grupo ou o “povo”.
Tudo isso, porém, não passaria de mera especulação, se Rancière não apontasse para a situação histórica em que as teorias do contrato são subvertidas e a tópica da igualdade torna-se, mais uma vez, uma questão premente, e deixa de ser o nome de uma quimera. O evento responsável pela instituição do desentendimento no cerne da política moderna é, segundo se depreende de sua leitura, a Revolução Francesa, com suas palavras de ordem detestadas pelos conservadores, mas que, uma vez lançadas, tornam-se, elas mesmas, fatos políticos. Pois a igualdade não se esgota nas instituições republicanas que pretendem operar em nome dela; torna-se uma ideia que permite vislumbrar, em situações concretas, a possibilidade de uma ordem diferente da que conhecemos. O destino dessas ideias é encontrado pelo autor nos movimentos sociais e políticos que, a partir do século 19, inundam os Estados com suas pautas de reivindicação de igualdade.
Quais são, na opinião de Rancière, as condições que teriam gestado essa revolução, responsável, em última instância, pela reintrodução do elemento político na política? Não interessam as supostas causas históricas, econômicas ou políticas desta ou daquela revolução perpetrada em nome da igualdade. O filósofo ajusta o foco e encontra, na segunda metade do século 18, um evento que precede e prepara a era das revoluções. Trata-se do advento do homo aestheticus.
Debruçando-se sobre um ponto controverso, debatido à exaustão por estetas, historiadores e críticos, Rancière declara que nem sempre existiu um domínio da atividade humana chamado “arte”. O que havia, no mais das vezes, eram artes — o desenho e a poesia, representantes das artes nobres, ou liberais, e as técnicas, do lado das artes vis, ou mecânicas. A existência de “artes”, no plural, é sintoma de uma ordenação, de uma escala hierárquica pela qual a atividade humana por excelência, a fabricação de objetos — em que a razão, a imaginação e a sensibilidade concorrem juntas — era compartimentada. Consignavam-se assim as artes intelectuais a pessoas de boa extração, as demais ao resto.
Mais Lidas
E não é tudo. Como observa Rancière, a divisão de cada arte em gêneros obedece, por sua vez, a uma lógica, de adequação, ou decoro, que, movida por pretensões metafísicas, contribui decisivamente para a configuração hierárquica dos diferentes membros de uma comunidade no espaço político. Os atos dos deuses, as ações dos heróis, a punição dos mortais, essas ações e feitos, localizados no centro da tragédia e da epopeia, organizam o mundo à sua volta e mostram à percepção da ouvinte/ espectadora/leitora como ela deve se portar em relação ao que sente.
Mas aí também outra clivagem incide. Se é certo, por um lado, que a natureza dotou cada um com a capacidade de experimentar sensações, em diferentes graus de indivíduo para indivíduo, não menos certo é que nem todos, na verdade só uns poucos, conseguem desenvolver esses talentos sensíveis a ponto de torná-los um parâmetro na arte de julgar.
No século 18, um evento precede e prepara a era das revoluções, em que a igualdade ocupa o centro da arena política: o advento do ?homo aestheticus?
Hierarquia das artes, ordenação dos gêneros, adequação e decoro, refinamento do gosto: será preciso pôr abaixo esses preceitos, ou, que seja, questionar sua legitimidade, para que a ideia de igualdade se torne concebível como fato concreto, ou seja, como operador de configuração da experiência sensível, como elemento doravante incontornável da vida política. Tudo se passa, nessa ousada proposição, que aqui resumimos de maneira muito geral, como se, para imaginar algo como a noção de igualdade, fosse preciso antes ter a experiência de algo assim, dada em uma sensação — o prazer estético, o sentimento do belo. Poderíamos dizer, inclusive, que, para Rancière, a condição de possibilidade de um evento político como a Revolução Francesa é esta outra revolução, pela qual as artes são paulatinamente niveladas, como se o homo aestheticus fosse a chave transcendental para a compreensão do homo politicus empírico.
Mas o que tudo isso diz, afinal, sobre literatura, ou sobre os livros, poemas e peças que interessam a Rancière em Políticas da escrita e O fio perdido? Pois, se o primeiro é uma reunião de ensaios entre os quais as conexões são tênues, e, portanto, pode ser tomado como um simples livro de filosofia, O fio perdido se apresenta — desde o subtítulo: “ensaios sobre a ficção moderna” — como peça de crítica literária. E, podemos adiantar, crítica do mais alto calibre, atenta aos textos comentados, que não impõe a eles uma tese, mas parece, ao contrário, extrair suas teses, todas elas conectadas, por uma via ou outra, à “filosofia política” de Rancière, dos textos mesmos, como se o pensamento do autor tivesse sido moldado, em parte, pela frequentação dos textos, de poetas e romancistas, mas também dos críticos que escreveram sobre eles.
Basta ler as primeiras páginas da introdução para ver que é o caso. Dedicada tanto a Flaubert quanto a dois de seus leitores mais célebres, e antípodas — Jean-Paul Sartre e Roland Barthes —, essa abertura substitui as generalizações historicistas de um e as abstrações estruturais de outro por uma abordagem que se revela, além de astuta, bastante palatável. Como explicar, pergunta-se Rancière, o apego da prosa de Flaubert ao insignificante, ao irrelevante, ao detalhe frívolo, à trama inconsequente? Seria um defeito do burguês encantado pelo mundo que sua classe social criou? Ou então o resquício derradeiro de um realismo caduco?
Evitando essas saídas, Rancière examina, como exímio arquivista, a recepção crítica de Flaubert por alguns de seus contemporâneos, e descobre, na comedida indignação dos resenhistas do século 19, o verdadeiro ponto de escândalo: o desprezo do romancista pelos preceitos da retórica clássica, que se traduz na ausência de elevação das ações, de nobreza dos personagens e, para completar, na promoção de uma estranha adequação, entre uma prosa esmerada e sofisticada e os temas e objetos mais banais. Em vez de impor seu esquema de leitura a Flaubert, como uma grade de interpretação, Rancière ilumina as páginas de seus livros e compreende o que elas representam, através do modo como foram lidas, e não como outros gostariam que elas o fossem.
Já na primeira parte do ensaio “Transportes da liberdade”, incluído em Políticas da escrita, Rancière se debruça sobre o poeta inglês William Wordsworth, cujas Lyrical ballads, publicadas em 1798 (juntamente com Samuel Taylor Coleridge) costumam ser apontadas como um dos marcos inaugurais do Romantismo inglês. É um livro curioso, que, como reconhece o próprio Wordsworth em prefácio anexado à edição de 1800, traz em seu cerne um dilema, que poderia ser resumido assim: como dar voz às pessoas comuns, desprovidas de títulos de nobreza ou de posses de fortuna, como retratar suas ações, expressar seus sentimentos, quando estes não têm nada de especialmente elevado, se a linguagem da poesia é calcada, ainda no século 18, para o nobre e altivo, não para o reles e chão?
Para haver poesia, deve haver arte: o poeta não poderia simplesmente reproduzir, sem mais, a linguagem que seria falada por suas personagens se elas existissem de fato. Mas também incorreria no ridículo, se colocasse em sua boca a dicção elevada de um escritor elegante ou as refinadas expressões dos letrados nos salões de Paris ou de Londres. Encontramo-nos aqui em plena vigência do decoro e da graça, preceitos da poética clássica.
Natureza humana
Face a esse dilema, Wordsworth recusa a solução tradicional, que diz mais ou menos o seguinte: um camponês ou um artesão deve falar como alguém de sua condição, e logo, só é aceitável que um indivíduo como esse seja retratado em uma peça de gênero inferior, como uma comédia, ou, que seja, um drama burlesco. Pois seria absurdo introduzir alguém assim em uma tragédia ou poema épico, às voltas com ações históricas, ou seja, aquelas que, na explicação certeira de Rancière, são tais que definem um espaço sensível, instituem um sentido, definem, a partir de si mesmas, o lugar de todas as ações menos importantes, e relegam à insignificância o fazer trivial — do lavrador, do artesão, da prostituta, do soldado, dos serviçais.
A saída de Wordsworth não poderia ser mais genial: buscar pelo sublime não na elevação das ações, mas na nobreza dos sentimentos intrínsecos ao que os filósofos da geração anterior à sua chamavam de “natureza humana”. Daí o arrojado título Lyrical ballads, a rigor um híbrido de dois gêneros, um deles elevado e nobre, o outro baixo e popular. Daí também a dicção única de seus poemas.
Na voz de Wordsworth, o homem comum recobra a nobreza que é própria do gênero humano, qualidades que, de acordo com Rancière, afirmam-se de maneira contundente em uma espécie de liberdade natural, pela qual é facultado a mulheres e homens deslocarem-se pelos campos e pelas cidades, não porque o trabalho ou a vida social os obriga a tanto, mas porque imperativos morais os impelem a fazê-lo. É uma forma de expressão direta, no plano da poesia, de uma prerrogativa tolhida na vida cotidiana, em que nos vemos privados dessa liberdade pela necessidade de satisfazer desejos artificiais.
Ligar-se à natureza, descobrir-se no outro, voltar-se para si mesmo: para tanto, é preciso estar vivo, e ter a vida em mãos, por assim dizer. Reitera-se assim uma indiferenciação originária entre seres humanos que portam os mesmos sentimentos, se veem como iguais e encontram na Natureza (com maiúscula) a gênese e o princípio dessa condição — a mesma que a Revolução Francesa projetara, na época em que Wordsworth escreve, no centro da cena, introduzindo, com o gesto da refundação do Estado, uma fissura no confortável consenso da Europa das Luzes, monárquica, autoritária e, eventualmente, tolerante.
Rancière lembra o quanto a poesia de Wordsworth é marcada por seu entusiasmo e sua decepção com a Revolução Francesa (assim como a de Coleridge o será pelo Idealismo Alemão), e sugere com pertinência que haveria em sua lírica uma espécie de aprofundamento reflexivo da revolução política. A poética forjada pelos românticos ingleses é também uma política — e não seria difícil estender essa consideração, como faz Rancière, a Byron e a Keats (este último objeto de um ensaio incluído em O fio perdido).
É claro que sem um público leitor nada disso teria o menor interesse. A poesia filosófica dos românticos, a poética sem forma dos romancistas, hoje confundidas com objetos de “alta cultura”, não foram calculadas para pessoas especiais. Dirigem-se, pelo contrário, a uma sensibilidade equiparada à falta de elevação dessas mesmas obras, nivelada ao denominador comum de um sentimento estético geral e difuso que permite a qualquer um decidir por si mesmo se um conto é belo ou não, se um poema agrada ou desagrada, e assim por diante.
Com o advento da “literatura”, completa-se o ciclo pelo qual a política, como conflito entre a reivindicação de igualdade por muitos e a imposição da desigualdade por poucos, vem se instalar no centro da vida contemporânea. Rancière mostra que não é preciso se submeter a um mestre para que cada um de nós possa interpretar o significado de uma “obra de arte”. Nesse sentido, sua crítica é transitiva: tem por intenção devolver-nos à poesia, ao romance, à filosofia, que poderemos frequentar por conta própria, livres das amarras da compreensão profunda e cautelosos diante da interpretação especializada. A leitura como ato político é uma ideia bastante pertinente, dado o teor da época em que vivemos.
Matéria publicada na edição impressa #8 dez.17-fev.18 em junho de 2018.
Porque você leu Crítica Literária | Filosofia
A encruzilhada da verdade em Foucault
Conjunto de textos ajuda a entender a torção teórica e o plano de voo do filósofo francês para uma nova maneira de pensar
JANEIRO, 2025