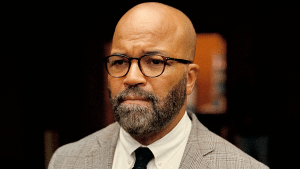Djaimilia Pereira de Almeida
Onde queremos viver
Enquanto queimo as pestanas
Reconheço em nós matéria que a natureza não consegue destruir ou decompor: não o lixo, mas a pérola dentro de cada um
23abr2021A erva, alta e fofa, quase chega aos joelhos dos abetos. A estrada é dura e esburacada, balançamos. Entreabro o vidro do carro e cheira a mimosas. “O meu pai um dia trouxe-nos a almoçar aqui. Olha, era aqui. Cantou-nos uma canção e assobiou-a, guardei esse assobio por muitos anos. Olha, fechou, era aqui. Eu devia ter dezassete anos.”
No vale não há pandemia. Os cães olham-nos, atrás das grades. Os franceses estão entretidos em corridas, os carros seguem sem pressa.
Falamos sobre despedidas, sobre não sentir nostalgia quando tivemos a oportunidade de nos despedir das coisas. Vem à cabeça uma canção: “I love my mother, I love my father, I love my sister too. I bought this guitar to pledge my love to you. I am a rock bottom riser and I owe it all to you” (Amo minha mãe, amo meu pai, amo minha irmã também. Comprei esta guitarra para jurar meu amor a você. Eu me elevo do fundo do poço e devo tudo a você).
No vale não há pandemia. Os cães olham-nos, atrás das grades. Os carros seguem sem pressa
Tudo me é água em abril. Mergulho e venho à superfície, o rio entra por todas as janelas. Os sonhos e o passado regressam como as marés, deixam na costa plásticos, pacotes, material que a água não degrada. Também em nós ainda reconheço matéria que a natureza não consegue destruir ou decompor: não o lixo, mas a pérola dentro de cada um, qualquer coisa de precioso que permanece (ou que preciso de acreditar que permanece: minha reserva de optimismo), apesar da dor e dos safanões. Dou com isso na rua, observando os miúdos fartos da pandemia, Dezassetes.
Ainda que cegos, se pararmos de resistir, a dor leva-nos longe. O pressentimento da pérola coincide com o mergulho no imaginário. Terei eu tido dezassete anos? Merecerei tê-los tido? Não tenho a certeza. Chegar aos dezassete obriga-me a saltar do barco, a não temer ver encurtada a distância entre quem sou e quem fui, paralela à distância entre o que quero escrever e aquilo que sou capaz de escrever. Entre mim e os dezassete, um canal eléctrico, a longa chuvada de raios após a qual uma dor se liberta. A dor é a mão que abre a porta e é também o manto que nos vai tornando cínicos.
Literatura
Todo o passado é literatura. Nesse livro, Dezassete, os dezassete, são capítulo rasurado de que sobram apenas breves linhas truncadas. Não existimos bem após termos vivido o que vivemos. Somos personagens na nossa vida, conduzidas ao presente pela narração do tempo aldrabão, incertos de termos sido realmente alguma vez, de lá termos estado, de ter sido assim, de como era a vida, de como foi o almoço, de como eram os lugares, as caras, os nomes, o que sentimos. Os dezassete, ruído indistinto ouvido na cama antes de adormecer, grito de vizinho em parte incerta, conversa ouvida através das paredes, de que só me chega um bichanar de sibilantes. Quem fui, um lugar onde nunca entrei: a casa dos vizinhos de baixo, a loja de ferragens à porta do prédio, o quintal que espreito da janela, a ruína do outro lado da estrada só visitada pelos gatos vadios. Sei lá eu se fui alguma vez rapariga, sei lá quem fui. Se era amarelo ou magenta, homem ou mulher, se havia igreja ou pestana. Se foi coragem ou frio, cigarro ou prosa. Somos literatura.
Outras colunas de
Djaimilia Pereira de Almeida
Dezassetes passeiam-se pela rua. Aos primeiros raios de sol, elas saem de umbigo à mostra, exibem as tatuagens, cabelos soltos, fotografam-se umas às outras. Eles topam-nas, sentados no muro, mandam bocas, desviam a rota do skate para as ver de mais perto. Estão aos pares ou em grupo, divertidos ou bisonhos, ou sentados à beira do lago. Riem mais e mais alto do que as outras pessoas, ou só sussurram. Não há pandemia que os cale. Eles são o vírus, a vida. Encostadas à porta do mosteiro, um grupo de três dezassetes leva a cabo uma sessão fotográfica. A modelo, uma delas, veste uma minissaia preta e maquilhou-se. As outras dividem esforços na produção: fazem retoques, orientam as poses. A cada disparo, empoleiram-se as três na câmara para ver como ficaram as fotografias. Passamos por elas e sorrimos-lhes. Baixam os olhos, envergonhadas. Fingem não reparar que as olhamos. O meu olhar esconde malícia, entendo, que quero eu às raparigas — roubar-lhes um bocado? Mais à frente, dou passagem ao dezassete de gorro, quase esbarramos, “desculpe, senhora”.
Dezassetes passeiam–se pela rua. Não há pandemia que os cale. Eles são o vírus, a vida
Outro, triste e pálido, metido consigo, feliz por ter uma máscara com que se esconder. Cruzam a cidade em bandos, ostentam vida. Passamos, tangente ao suor, tristeza e alegria, mas o seu mistério está-nos vedado. Aproximam-se, trocando piadas e olhares codificados. Deixam um rasto de graça, mas, ainda que perto, nenhuma linha do seu segredo é transmissível. Guardam com a vida a vida que espalham. Não quero beber-lhes o sangue e não os olho com nostalgia. Nos seus segredos e urgência, zombam dos dias doentes. São uma janela para o outro lado da morte. Qual literatura? Enquanto queimo as pestanas há quem esteja bem vivo e cheio de sede.
Nota da autora
Queridas leitoras e queridos leitores,
Esta é a minha última coluna na Quatro Cinco Um. Queria agradecer-vos a leitura ao longo destes quase dois anos e a toda a equipa, em especial ao Paulo Werneck e à Marília Kodic, pelo maravilhoso e cuidadoso acolhimento e por todos os privilégios. A crónica alimenta-se do presente e rói o intervalo entre o que vamos vivendo e o que pensamos sobre ele. Que este tempo vos consiga trazer, apesar de tudo, a paz de espírito e o ânimo para irem distendendo esse intervalo. Coragem e saúde a todas e a todos, obrigada.
Porque você leu Crônica de Lisboa
Navios e asas
O espírito não coincide com um segredo escondido por mim na página onde nada escondi
ABRIL, 2021