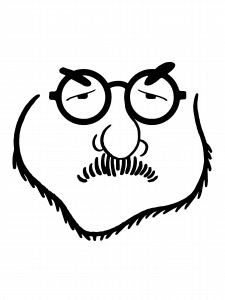Crítica Cultural,
Sobre lutos e lutas
Aline Motta e Eliana Alves Cruz narram as experiências de famílias negras no enfrentamento do racismo e do silenciamento
22jun2022 | Edição #59Um luto extenso, que se espraia por séculos, impregna A água é uma máquina do tempo, o desconcertante livro de estreia da artista visual Aline Motta. As perdas sucessivas, desde a tataravó até a mãe, memória recente e dolorida, embaralham história social e pessoal numa politização radical da experiência das famílias negras sob o vigoroso racismo brasileiro. Por caminhos e estratégias narrativas diversos, Solitária, o quarto romance de Eliana Alves Cruz, escancara a ficção para o factual, alimentando com o noticiário que nos é próximo o duro embate entre uma jovem médica negra e sua mãe, empregada doméstica, para romper ciclos de submissão.
Marcas profundas
A água é uma máquina do tempo tem sua origem nas artes visuais, hoje o campo mais aberto à discussão política a partir de fontes, meios e linguagens heterodoxos. Na fronteira da literatura com o ensaio, Aline Motta reelabora dados de uma ampla investigação sobre sua família que remonta a escravizados e libertos no século 19 reunindo documentos, anúncios de jornal, mapas e a presença contundente de Machado de Assis. Da década de 1970 vem um diário mantido por sua mãe e folhas de cadernetas escolares. Do passado recente, o testemunho da ação devastadora de um câncer.
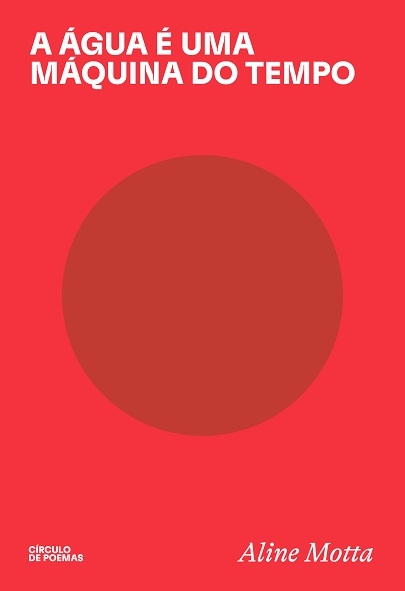

“Deixou um rastro de leite e sangue”, escreve Aline sobre Ambrosina, sua tataravó, mãe de sete filhos, que teria morrido de tuberculose, susto ou ambos, aterrorizada pelo impacto de explosões durante a Revolta da Armada, em 1894. Três anos antes, Ambrosina se vira obrigada a aceitar o casamento da filha Michaela com o homem que a violentara. Era o que se tinha como “reparação” possível para uma menina de treze anos que, aborto após aborto, jamais teria filhos — “Era o seu jeito de dizer não. A barriga não segurava bebês, ainda era um lugar impenetrável, inviolável, inquebrável”.
Da casa de cômodos em que vivia na rua Evaristo da Veiga, no centro do Rio de Janeiro, Ambrosina ouvia a sineta do convento em frente. A cada toque, um bebê era deixado pela mãe na “roda dos enjeitados”, plataforma giratória em que as freiras recolhiam os órfãos que criariam. A roda está no centro da mais explícita e brutal menção à escravatura na obra de Machado, o conto “Pai contra mãe”. Cândido Neves, o protagonista, é um homem sem qualidades que vive de caçar escravizados fugitivos. Com a abolição, o trabalho rareia e ele se vê na iminência de ter que abrir mão do próprio filho. A captura de uma mulher negra, grávida, financia a união de sua família.
“Nem todas as crianças vingam”, diz Candinho, impassível diante do aborto sofrido pela fugitiva. “Nem todas as mães vingam”, anota Aline, que com um efeito arrebatador recorta frases de Relíquias da casa velha, livro em que “Pai contra mãe” é publicado pela primeira vez, e as superpõe a um mapa de trechos desaparecidos da cidade. Descrevendo — sem exibir — a famosa fotografia em que Augusto Malta flagrou um Machado alquebrado, recuperando-se de um desmaio, ela imagina que, para recobrar a consciência, o escritor tentava refazer mentalmente os percursos de seus personagens na cidade.
As autoras advertem que o Brasil negro, da maioria dos brasileiros, jamais voltará a ser exceção tolerada e exótica
Se, como afirma a primeira frase do conto, “a escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais”, é da persistência de suas marcas que trata A água é uma máquina do tempo. Nos anos 70, a família da narradora ainda não compreendia a profundidade desses vincos históricos. “Discutir racismo na minha família era como entrar naquela parte do mar em que não dá mais pé”, escreve ela. “Se fosse chamado pelo nome, o equilíbrio familiar se quebraria, e a corrente nos levaria à deriva.”
Mais Lidas
Exploradora do vasto território do não dito, Aline dá a ver, na memória familiar e nos vestígios materiais da mãe, os momentos de violência. Cintilam aí os episódios de microagressões racistas da infância narrados ao modo de Claudia Rankine, poeta e ensaísta nascida na Jamaica cuja voz, única, também se afina nas fissuras entre os gêneros. Da narrativa fragmentária surge o positivismo à brasileira, reescrito na montagem de diversas referências e materiais:
“violência como princípio
racismo como base
genocídio como meta”.
Cabeça erguida
A maioria dos brasileiros de fato lê, no lugar de “ordem e progresso”, “racismo e genocídio”. Foi assim com Eunice e sua mãe, mas não será mais com Mabel, filha dela. A linhagem de mulheres de Eliana Alves Cruz nasceu e cresceu em torno da polissemia do título de seu romance: solitária como adjetivo, o atributo de quem vive só, e também como substantivo, na designação da cela em que se pune, com o isolamento, aquele que não abaixa a cabeça.
Na arquitetura classista, o quarto de empregada é sucedâneo da senzala e muitas vezes da cela. É no cubículo, servido por banheiro minúsculo e tendo a cozinha como uma fronteira social bem patrulhada, que Eunice cria sua filha. Da sala para dentro, todos desfrutam de extensos direitos e se comprometem com poucos deveres. Nas “dependências de empregados” do prédio criam-se as redes de solidariedade e amor que, com graus de maior ou menor resignação, permitem uma existência minimamente digna.
Já tendo explorado as histórias de sua própria família em Água de barrela (Malê), Eliana Alves Cruz faz de seus personagens de ficção arquétipos dessa estrutura de sujeição dos negros e pobres pela classe média. Da efetiva dominação sob a forma de trabalho escravo à violência de valores e padrões morais, o prédio em que se desenrola a ação de Solitária é uma súmula dos males de origem e dos mecanismos de perpetração do racismo.
As autoras advertem que o Brasil negro, da maioria dos brasileiros, jamais voltará a ser exceção tolerada e exótica
Às meninas negras, mal entradas na adolescência, são confiados os filhos de casais brancos; às jovens negras é reservado um vasto limbo afetivo; às mulheres maduras, a convicção de que nasceram para servir. Na vida de Mabel, a recusa é existencial e também histórica: ela não se submete porque sua geração não se submete, é a primeira a ter acesso mais amplo à universidade e, como vemos hoje no debate público sobre o racismo, faz valer com plenitude sua capacidade de intervenção.
O noticiário recente, da epidemia de Covid-19 ao caso do menino João Miguel, no Recife, alimenta a trama numa arriscada manobra de mistura do ficcional com o factual — como é arriscada a solução não realista da terceira parte do romance. O que se lê traz, no entanto, a força avassaladora de um manifesto e a delicadeza de momentos como a descoberta, por Mabel, da literatura de Conceição Evaristo, homenagem comovente e, também, declaração de princípios.
A água é uma máquina do tempo e Solitária trazem alento e incômodo ao Brasil despolitizado que, com docilidade aterradora, se entregou à extrema direita e aos valores da destruição. Assim como James Baldwin, que em 1953 lembrou que “este mundo não é mais branco, e nunca mais voltará a ser”, Aline Motta e Eliana Alves Cruz advertem em seus livros que o Brasil negro, o Brasil da maioria dos brasileiros, jamais voltará ser exceção tolerada e exótica. Nele está a altivez da insubmissão, a dignidade do levante que é nossa única saída — para a construção de um futuro possível e a obrigatória reconstrução do passado.
Matéria publicada na edição impressa #59 em julho de 2022.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025