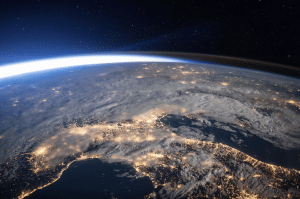Literatura,
Vidas palestinas importam
Em suas memórias, Mahmud Darwich denuncia os bombardeios israelenses que expulsaram os palestinos de Beirute em 1982
01fev2022 | Edição #54Ao discutir o conceito de tradução cultural, Stuart Hall transcreve a seguinte passagem da escritora sul-africana, de origem indiana, Sarat Maharaj: “O tradutor é obrigado a construir o significado na língua original e depois imaginá-lo e modelá-lo uma segunda vez nos materiais da língua com a qual ele ou ela o está transmitindo. As lealdades do tradutor são assim divididas e partidas. Ele ou ela tem que ser leal à sintaxe, sensação e estrutura da língua fonte e fiel àquelas da língua da tradução. […] Estamos diante de uma dupla escrita, aquilo que poderia ser descrito como uma pérfida fidelidade.”
Reflexões adequadas para falar da tradução de Memória para o esquecimento, de Mahmoud Darwich, feita diretamente do árabe por Safa Jubran, professora da Universidade de São Paulo, que tem se dedicado não só a traduzir como também a formar uma geração de tradutores dessa língua no Brasil. Essa é a terceira obra de Darwich lançada pela Tabla, editora que publica obras do Oriente Médio. Depois do livro de poesias Onze astros, agraciado com o Prêmo Turjuman de tradução (feita por Michel Sleiman) em Sharjah, em 2021, e a prosa poética Da presença da ausência, traduzido por Marco Calil, chegou a vez de Memória para o esquecimento que é, como afirma o escritor palestino Nafiz Abu Hasna, um livro em prosa tão belo quanto os poemas de Darwich.
Com toda a certeza Memória para o esquecimento é um belo livro de prosa, de poesia e sobretudo de denúncia diante do esquecimento do drama palestino, o mais longevo dos últimos séculos e que continua ainda mais trágico num mundo pandêmico. O título é tão ambíguo como presença e ausência, partir e ficar, viver e morrer, lembrar e esquecer. Como a memória poderia ser para o esquecimento? O que deveríamos rememorar e o que deveríamos esquecer? O que devemos lembrar para esquecer? É esse paradoxo que a leitura da obra de Darwich nos convida a enfrentar.
Entre a memória e o esquecimento estão as camadas do tempo: 1982, o tempo do acontecimento vivido, e 1987, o tempo em que o acontecimento é narrado. Nesse espaço de tempo, o que o autor-narrador lembrou, esqueceu, silenciou, disse e não disse, é uma batalha entre a memória coletiva e a memória individual, como nos alerta Michael Pollak em Memória, esquecimento, silêncio.
Na prosa do livro podemos perceber o jornalista, pensador e ativista que narra e reflete sobre a invasão israelense do Líbano, no contexto da guerra civil iniciada em 1975, que, de um conflito local, se estendeu por algumas décadas como um conflito regional no Oriente Médio. Em 6 de junho de 1982, com o pretexto de proteger sua fronteira sul contra os ataques da Organização para a Libertação da Palestina (olp), o governo do então primeiro-ministro israelense Menachem Begin, que havia ganhado em 1978 o Nobel da Paz em conjunto com o presidente egípcio Anwar Sadat pela assinatura dos Acordos de Paz de Camp David, invadiu o Líbano, estendendo sua ação até a capital do país.
Beirute, mais precisamente a parte ocidental, onde as lideranças palestinas se instalaram e resistiram à ingerência israelense, ficou sob cerco por mais de dois meses. O dia do acontecimento que puxa o fio da memória e desencadeia a narrativa é 1º de agosto de 1982. Foi quando Beirute sofreu o mais violento ataque por treze horas consecutivas e ininterruptas. Como lembra Darwich, que não quer esquecer: às 11 horas da manhã, 20 mil bombas em trinta segundos caíram sobre a cidade. A pergunta que ronda esse dia é: estamos vivos ou mortos? O bombardeio era para quebrar a resistência palestina, era para obrigá-los a partir, ou era para impedi-los de sair vivos?
Presença incômoda
Mais Lidas
Os palestinos se tornaram um problema sem solução. Os palestinos devem partir e deixar Beirute para que ocorra o cessar-fogo, para que volte a água, a comida, a eletricidade e, por fim, a paz. Os palestinos que, irmanados aos libaneses, reivindicaram uma identidade, haviam se tornado um incômodo nas férias de verão, no mesmo ano da Copa do Mundo. Como acentua Darwich: “Ninguém concorda com nossa permanência: nem os de dentro nem os de fora. Não esqueça, o país não é nosso e o período da hospitalidade expirou”. Beirute já não era mais dos palestinos, não era para os palestinos. Ao mesmo tempo, resistir e permanecer em Beirute, a cidade que se tornou o hino dos apátridas. Beirute, a cidade que os acolheu como uma mãe e os rejeitou como madrasta.
A saída dos palestinos seria inevitável. No entanto, era necessário resistir e garantir a saída das lideranças e reivindicar a proteção dos civis e dos refugiados. Ao sair de Beirute, a pergunta que pairava era: para onde ir? Para onde voltar? Darwich faz um circunlóquio sobre o tema da saída: “Eu não vou embora porque eu não sei para onde ir. Como não sei para onde irei, não vou partir”.
É no jogo das contradições que Darwich também denuncia o momento em que os palestinos se tornaram um incômodo, não apenas para os israelenses desde 1948, mas também para o mundo árabe a partir de 1967 e, em especial, para os libaneses naquele verão de 1982. A política israelense é clara: aniquilar os palestinos não apenas como povo, mas como seres humanos; destituí-los de sua humanidade e assim justificar seu extermínio. No Líbano, é com grande ironia e sarcasmo que o escritor denuncia o apoio da população cristã maronita à invasão israelense: “Apenas bombardeie ali, por mim, ali!”. A política sectária libanesa tornou-se transparente e contaminou, além das pessoas comuns, os intelectuais que assumiram seu sectarismo, rejeitaram o secularismo e proclamaram em seus versos “vamos limpar o Líbano de seus estrangeiros”.
Ele denuncia e desmascara a política árabe, suas lideranças, seus silêncios, sua paralisia, sua conivência, sua traição. Darwich faz uma reflexão histórica sobre o pan-arabismo, o nasserismo, a guerra de junho de 1967, o acordo de Camp David, o “faraó Sadat”, e de como o Egito criou o slogan e o símbolo da nação árabe sob a égide da desgraça do povo palestino para ser usado quando fosse conveniente às lideranças. De símbolo de luta e resistência, os palestinos tornaram-se um incômodo que atrapalhava as noites árabes, as férias de verão, a Copa do Mundo, a temporada de criação de rãs. De vítimas tornaram-se os culpados pela sua própria desgraça e por toda a “miséria da nação árabe”. Sem os palestinos e sem a Palestina, haveria “mais liberdade, mais conforto e mais luxo”. Darwich é enfático: “Os governantes árabes traíram seu jogo ambíguo, banindo a Palestina da arena nacional e… do discurso da nação árabe”.
Ao mesmo tempo, Darwich quer acreditar que os palestinos ainda importam. Afirma que a identidade palestina é parte da identidade árabe; que os palestinos não são os estranhos ou os estrangeiros em terras árabes. Justifica a resistência em Beirute como uma forma de “despertar o gigante árabe”, um apelo ao arabismo. Mas, como Darwich nos lembra e não nos deixa esquecer, os palestinos estavam sozinhos.
Por fim, estão as gerações de palestinos nascidos fora da Palestina, sem “certidão de nascimento ou registro de nome”. Darwich sente vergonha de ter contribuído para incutir nesses jovens uma “avassaladora memória”, de ensinar-lhes uma história de luta e resistência, de impregnar em seus corpos, suas almas e suas mentes uma identidade que, no final, lhes serviu apenas como forma de alienação, negação e expropriação da sua própria existência: não são de lá (da Palestina), não são daqui (Beirute); não são cidadãos libaneses, porque seus pais eram hóspedes no Líbano; não são exilados palestinos, porque não nasceram na Palestina.
Beirute
Junto com a prosa, há espaço para a poesia, mesmo que o poeta afirme: “Não há papel para mim na poesia agora. Meu papel está fora do poema. Meu papel é estar aqui, com os cidadãos e os combatentes”. O poeta lembra-nos que “a literatura tem um papel: enquanto escrevemos, estamos expressando a nossa crença na potência da escrita”. É com poesia que Darwich também trata, no mesmo dia longo e insano de agosto, de sua relação com a cidade cuja beleza raramente se nota. O poeta viveu em Beirute quando tinha seis anos de idade, quando sua família, expulsa da Palestina na Nakba de 1948, buscou na cidade um refúgio temporário. Já adulto, poeta e ativista, estabeleceu-se na capital libanesa por uma década.
Para o poeta, Beirute não é velha, não é nova, não é bonita em si mesma, não é para ser cantada, mas é o local do encontro de contrários, é o refúgio para o refugiado, para o comerciante e para o poeta. Beirute como uma condição, um paradoxo e um reflexo do mundo; Beirute como “uma flor nascida de um texto, uma garota que perturba a imaginação”. Em Beirute é possível flanar, fluir, aparecer, desaparecer, juntar e dispersar. Para cada morador de Beirute, um cidadão ou um estrangeiro, que a adotou ou que por ela foi adotado, há a ilusão de ver nela sua cidade particular. O poeta entoa:
Que Beirute seja o que quiser ser
Que Beirute seja o que quiser
Ela vai me esquecer
para que eu a esqueça
Em Beirute se vê o mar, que é o mesmo mar de Haifa. O mar de onde bombardeiam a cidade, o mar pelo qual “dissemos que iríamos embora”.
O dia longo e interminável de agosto é realidade ou é sonho? O poeta está vivo ou existe? Pode se esquecer de não morrer? Em meio a esses pensamentos, Darwich se lembra do seu amor por uma israelense, a única mulher para quem “não disse eu te amo porque eu não sabia se eu te amava tanto”. Um amor impossível de ser vivido, porque há entre eles guerra, amor e ódio, a impossibilidade de ir (para Jerusalém) ou ficar (no Líbano). Se não há tempo para o amor na guerra, há tempo de sobra para o amor na memória. O poeta declama: “Quem dera um de nós odiasse o outro para que o amor fosse acometido pelo amor! Quem dera um de nós se esquecesse do outro para que o esquecimento fosse acometido pela memória!”
Sob um intenso bombardeio do qual não se sabe quem saíra vivo ou morto, há tempo para um desejo banal, mas tão intenso: preparar uma xícara de café! Sentir seu aroma, seu sabor, sua geografia, seu preparo, seu silêncio, até mesmo carregar a culpa de negar um gole a um condenado. No meio do bombardeio uma pausa para o café, para o cigarro e para o jornal porque “os invasores podem tudo, mas não podem arrancar de mim o aroma do café”. Preparar o café se traduz como um ato de rebeldia diante da morte e de resistência diante do invasor.
Por fim, devemos nos perguntar ao ler Memória para o esquecimento do que se trata essa obra: é uma escrita de memória, de história, de esquecimento ou de antiesquecimento, termo lançado por Darwich. O que é a memória para o esquecimento que dá título a essa obra tão instigante? Darwich nos lembra que ninguém quer ser esquecido, em vida ou mesmo depois da morte, por isso geramos filhos, para que eles nos perpetuem além da morte; para que vençamos a perenidade da existência e a finitude da vida. Somos essa memória, mas antes somos a história que precisa ser escrita, narrada, disputada, pois, como afirma o poeta, ela não é dócil, é subornável e precisa enfrentar as “longas caravanas do esquecimento”.
Se, como tragicamente, Darwich considera que a História nada fez pela Palestina, é a memória que vai travar uma longa batalha contra o esquecimento do drama palestino, do cerco de Beirute naquele longo e interminável dia de agosto, e dos massacres dos refugiados palestinos de Sabra e Chatila em 19 e 20 de setembro de 1982 que, estranhamente, Darwich esqueceu em meio a suas memórias… Por esses mortos, a memória e o esquecimento podem ser pensados além: Memória com esquecimento, Memória sobre o esquecimento. Memória contra o esquecimento, Memória diante do esquecimento. Não esqueçamos.
Matéria publicada na edição impressa #54 em fevereiro de 2022.
Porque você leu Literatura
O animal incomum de Leonard e Virginia Woolf
A partir de diários e cartas dos Woolf, novo romance de Sigrid Nunez recria a vida da sagui de estimação do casal, que os ajudou a escapar de nazistas
JUNHO, 2025