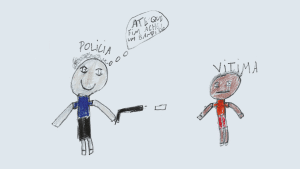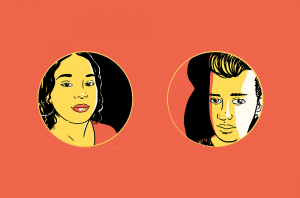Literatura,
Ironia e preconceito
Com o pseudônimo masculino de George Eliot, autora britânica desafiou tabus sociais e compôs obra que prefigurou a de Woolf
13nov2018 | Edição #6 out.2017Na edição de julho da Quatro Cinco Um, resenhei A senhora de Wildfell Hall, romance de Anne Brontë, que vinha na ótima tradução de Julia Romeu. Comentei que valeria a pena relançar a tradução que Leonardo Fróes fez de Middlemarch, romance de sua contemporânea e conterrânea George Eliot (1819-80). Eu não imaginava, porém, que pouco tempo depois me chegaria às mãos Silas Marner: o tecelão de Raveloe, justamente de George Eliot, traduzido pela mesma Julia Romeu, e ainda com orelha de Leonardo Fróes.
Cito essas coincidências porque elas nos fazem parecer três personagens num romance de Eliot, onde vidas desconhecidas estão sempre se cruzando. Os envolvidos normalmente não sabem, mas suas histórias fazem parte de tramas maiores, visíveis apenas porque a autora gosta de nós o bastante para nos mostrar.
Silas Marner é um romance breve, pouco maior que uma novela. É como se, antes de criar a imensidão de Middlemarch (pela quantidade de tramas e personagens, poderia ser parente de Guerra e Paz), Eliot precisasse condensar ao máximo as questões que lhe interessavam. Simplificou as coisas: para cenário, contenta-se com uma cidadezinha, para personagem principal, um homem solitário.
A história começa com Silas sendo traído pelo melhor amigo e, em seguida, desacreditado por todos ao redor — injustamente. Decepcionado com a humanidade, muda-se para a pequena Raveloe, onde se isola no trabalho de tecelão e transfere toda a energia afetiva para a pilha de moedas de ouro que começa a juntar. “Sua existência foi reduzida às funções de tecer e poupar, sem que ele contemplasse um objetivo para o que fazia. O mesmo tipo de processo talvez já tenha sido adotado por homens mais sábios, depois que se afastaram da fé e do amor — mas no lugar do tear e do monte de moedas, esses homens se dedicaram a alguma pesquisa erudita, a um projeto engenhoso ou a uma teoria bem fundamentada.”
Trabalhando sozinho durante dezesseis horas por dia, Silas começa a se tornar fisicamente semelhante aos objetos de seu ofício. A transformação só não é completa porque, no mundo de Eliot — uma versão otimista do ambiente da Revolução Industrial — pessoas não podem ser coisas. Se ela cria personagens de ideias fixas, é para em seguida os forçar a sair de suas rotinas, inserindo-os em contextos onde deverão necessariamente agir (o mais das vezes, às cegas).
Experimento
Até certo ponto, Eliot parece escrever como quem faz um experimento, analisando os efeitos que as pessoas têm umas sobre as outras, e o jeito que cada uma transforma isso em pensamento. A experiência é especialmente gratificante porque a narradora é onisciente: é muito bom ser cientista da vida humana quando se sabe tudo. A obra poderia se chamar “O que acontece com um homem que perde tudo?”. Silas começa perdendo a cidade de origem, os amigos, a convivência com os homens. Depois, perde o ouro, o trabalho e o conforto estéril que havia criado no isolamento.
Editora e tradutora, Eliot só não foi a inglesa mais influente de sua época porque existia a rainha Victoria (que lia seus livros)
Mais Lidas
A maneira como isso se dá é econômica a ponto de ser inverossímil. Há críticos que comparam este romance a um conto de fadas, porque cada perda é logo compensada. As moedinhas de ouro de Silas são substituídas por uma criança órfã de cabelos dourados. Esse equilíbrio das imagens — moedas de ouro; cabelo dourado — se deve sobretudo ao caráter enxuto da obra, que faz os fatos se seguirem com proximidade o suficiente para que quase tudo pareça uma coincidência. Há, no entanto, pontas que sobram, sem resolução — a vida não é necessariamente mais bem-acabada dentro de um romance. Eliot parece estar sempre concentrada em descobrir algo, não apenas em criar uma história. Que ela consiga fazer ambos simultaneamente — descoberta e ficção — já seria interessante o suficiente. Mas ela vai além: consegue compor obras vigorosas, com tramas que parecem ao mesmo tempo inevitáveis e inimagináveis. Uma das poucas que escrevia romances “para gente grande”, segundo Virginia Woolf.
Anos antes de ser ficcionista, Eliot ficou conhecida como autora de críticas radicais sobre história da religião cristã, ciências dos homens e literatura feita por mulheres — e assinava com seu nome de registro, Mary Ann, Mary Anne ou Marian Evans (a grafia não era rigorosa). Foi editora (anônima) da importante revista Westminster Review e tradutora do alemão. Só não foi a inglesa mais influente de sua época porque existia a rainha Victoria (que, por sinal, lia seus livros).
Por 24 anos, viveu com o intelectual e jornalista George Henry Lewes, e assumiu publicamente o nome Mary Anne Evans Lewes, embora ele fosse casado com outra mulher. Fazia parte de um mundo cultural agitado, mas, por causa de sua posição, não recebia convites para jantares. Somente aos 37 anos estreou na ficção, e passou a adotar o pseudônimo masculino para que os livros não fossem associados à sua figura polêmica.
Com o sucesso imediato, muitos quiseram se passar por George Eliot, o que a levou a revelar seu segredo, mas nunca deixou de assinar também como Mary Anne. Teve vitalidade e paciência o bastante para estar sempre disposta ao confronto, sem se transformar em personagem de si própria, presa a ideias fixas. Casou-se legalmente aos 61, com outro homem, e passou a ser Mary Anne Cross. Meses depois “morreu exausta”, como fraseou Woolf, uma de suas maiores sucessoras.
Em meio à vida agitada, encontrou, porém, um modo de dar atenção ao “silêncio e calma das coisas mudas”, como escreveu William Wordsworth, cujos versos servem de epígrafe ao livro. Pensava, por exemplo, no som que a grama faz enquanto cresce, ou no palpitar do coração de um esquilo, e os chamava de “estrondo que mora do outro lado do silêncio”.
Herdou a sensibilidade de Wordsworth, poeta de um olhar calmo num mundo inquieto. A principal diferença entre eles é que George Eliot tem senso de humor. Sua ironia, mais do que uma forma de superioridade, é um movimento ágil que funciona em contraponto a seu ritmo habitual de pensamento, pesado, intenso. É uma ironia estranha, acolhedora. Seu principal efeito é nos deixar mais george-eliotianos, sinônimo para mais inteligentes.
Matéria publicada na edição impressa #6 out.2017 em junho de 2018.
Porque você leu Literatura
O contador de histórias
Morto na terça (30), Paul Auster (1947-2024) lembrou que literatura de qualidade não é incompatível com narrativas bem engendradas
MAIO, 2024