
História, Páginas da Independência,
Visita ao passado
Historiadores refutam o pensamento nostálgico (e delirante) de que o Império foi uma época de prosperidade
26ago2022 | Edição #61No ano do bicentenário da Independência é interessante pensar no que nós, brasileiros, sabemos a respeito do regime que sucedeu ao período colonial. Os contornos da história são conhecidos. Com a invasão napoleônica, milhares de portugueses, incluindo a família real, se refugiaram no Brasil e, com pouco planejamento, nos tornamos o centro político do Império. Logo veio a separação política. Há interpretações clássicas do processo. Uma, nacionalista, argumenta que se tratou de um “desquite” amigável. É uma idealização que não informa e até infantiliza o leitor. A segunda, dominante na segunda metade do século 20, é a marxista, que interpreta 1822 como a resolução do conflito entre a Fazenda brasileira e o comércio português. É também errada, porque o movimento não nasceu de uma disputa entre brasileiros e portugueses. As desavenças políticas surgiram, paradoxalmente, de um movimento que a princípio unia portugueses, europeus e americanos contra o absolutismo do rei.
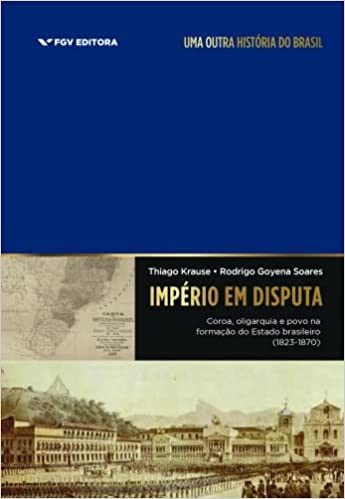
Se até hoje não existe uma compreensão clara do processo de Independência, não chega a surpreender que a história das décadas seguintes tampouco seja bem conhecida. Existia um imperador, escravos, café, houve uma guerra no Paraguai. Mas os detalhes se perdem na névoa do passado. Os prováveis motivos para a compreensão superficial do período são citados por Rafael Marquese no prefácio de Império em disputa. Segundo o historiador, o predomínio de dois tipos de obras dificulta uma compreensão abrangente para leitores não familiarizados com o século 19. Por um lado, obras acadêmicas frequentemente analisam períodos específicos em um nível de minúcia que é do interesse de poucos. A alternativa recai sobre os livros que buscam apresentar o passado por meio de “grandes nomes”. Aliás, a existência de biografias de baixa qualidade talvez ajude a entender o pensamento nostálgico (e delirante) daqueles que acham que o Império foi uma época de prosperidade. É a pior forma de idealização do passado.
A era das constituições
Reduzir a escassez de obras que apresentem uma síntese sobre a época do Império é o objetivo dos historiadores Thiago Krause e Rodrigo Goyena Soares. Império em disputa conta a história política do período entre 1822 e 1870, com a preocupação de apresentar de forma concisa os projetos de diferentes grupos políticos que influenciaram os rumos da nova nação. A história é dividida em um momento de estruturação política, até 1848, e outro que marca a consolidação de grupos conservadores no poder. Os autores começam a história não com o imperador, mas com o documento de fundação de qualquer nação da era moderna: a Constituição.
Ao inserir a fundação do Estado brasileiro na “era das constituições”, os autores enfatizam a descontinuidade que representou a Independência, com marco inicial na Assembleia Constituinte, em 1823. Limitar o poder régio era o principal caminho para que demandas de diferentes grupos políticos tivessem possibilidade de sucesso. Diante de objetivo tão explícito, d. Pedro 1º fechou a Constituinte e impôs o Poder Moderador, uma tentativa de dar sobrevida ao passado em um momento em que a divisão de poderes se tornava inevitável. O autoritarismo, no entanto, não conseguiu barrar o desenvolvimento de uma monarquia constitucional. A sequência de revoltas em diversas partes do Brasil entre 1824 e 1848 deixou claro que a busca por espaço político também ocorreria de forma não pacífica.
As revoltas regionais aumentaram após a deposição de d. Pedro 1º, em 1831. Como forma de apaziguar os ânimos, o governo abriu mão do poder na medida necessária para mantê-lo. Com a reforma constitucional em 1834, as Assembleias Provinciais conseguiram reduzir a transferência de recursos fiscais para o Rio de Janeiro, uma fonte de insatisfação desde o tempo de d. João.
A competição política e econômica foi fundamental para se contrapor à imobilidade do status quo
O novo poder orçamentário e legislativo das províncias ainda era insuficiente para atender os projetos de autonomia regional. A multiplicidade de demandas à época fica evidente nos levantes armados conhecidos como Sabinada e Praieira. A primeira revolta, na Bahia em 1837, uniu militares que demandavam reajustes nos soldos a grupos federalistas que denunciavam a estrutura tributária centralizadora. Na Praieira, em Pernambuco em 1849, questões econômicas se misturavam com demandas por voto livre e universal, liberdade de imprensa e independência dos poderes, propostas consideradas como “pregação comunista”.
Mais Lidas
Revoltas como essas mostram que a reação à centralização do poder não partia de desejos separatistas, como na interpretação comum. O que aparentemente ocorria em diversas partes do Brasil era consequência da disseminação da ideia liberal, que havia ganhado força no final do século 18, segundo a qual a tributação seria ilegítima sem representação política dos pagadores de impostos.
O atraso em movimento
A discussão desses temas é essencial para evitar o argumento de que nada mudou com o Império. A manutenção da escravidão, a permanência do Poder Moderador e a vitaliciedade no Senado eram símbolos de uma estrutura política atrasada. Mas as mudanças que ocorreram, mesmo quando formuladas por grupos conservadores, representaram avanços. Por exemplo, a Constituição de 1824 deu poderes ao Legislativo para aprovar o orçamento, o que representou um claro limite ao imperador.
A redistribuição do poder econômico teve consequências políticas. Krause e Soares enfatizam que o controle do orçamento pelo Parlamento fragilizou o Exército, uma das bases do poder de d. Pedro 1º. Eram mudanças que surgiam a partir de disputas e negociações, algo possível depois de superado o regime absolutista. A passos lentos, o Brasil ia mudando na direção de projetos iluministas. Não todos, ainda, mas o rumo estava estabelecido.
Entender mudanças, mesmo quando ocorrem a partir de concessões para que determinados grupos se mantenham no poder, é algo possível na estrutura de livros que propõem uma síntese de períodos tão longos como o que traz Império em disputa. É, também, a melhor forma de se contrapor à visão de que o progresso vem a partir da vontade individual de “líderes ilustrados”. O que os autores mostram é que a competição política e econômica foi fundamental para se contrapor à imobilidade do status quo. Grupos no poder não possuem incentivos para realizar mudanças porque seu objetivo é preservar a “ordem social” vigente. Essa visão era explícita no debate público. Ao questionarem quem deveria governar o país, periódicos ressaltavam que deveria ser a “classe conservadora”, que era “composta dos capitalistas, dos negociantes, dos homens industriosos, […] daqueles que nas mudanças repentinas têm tudo a perder [e] nada a ganhar”. Nenhum tópico da história nacional mostra a imobilidade da busca pela “ordem” de forma tão transparente quanto a escravidão.
Os escravizados
A escravidão define o Brasil. No entanto, seu significado não se manteve constante durante os mais de três séculos em que pessoas foram traficadas para o país. Na época do Império, poucos achavam o cativeiro moralmente aceitável, mas durante boa parte desse período sua existência não era contestada. O problema, para as elites, era econômico. Além do trabalho no café, açúcar e algodão, os escravizados realizavam todo tipo de serviços em áreas urbanas. Mesmo que autores como Adam Smith tivessem defendido a superioridade do trabalho livre, e políticos como Lino Coutinho argumentassem que a escravidão desestimulava a inovação tecnológica, para as elites econômicas adotar o trabalho assalariado na ausência de estrangeiros (brancos) seria a “ruína econômica do país”. Lamúrias sobre a inevitabilidade econômica do cativeiro eram utilizadas para justificar a imobilidade política.
Deputados declaravam que os filhos dos negros eram nascidos no Brasil, mas não eram brasileiros
Krause e Soares mostram como o debate a respeito do futuro dos escravizados foi silenciado na fundação do Brasil. Enquanto a Assembleia Constituinte discutia qual seria o projeto brasileiro, estava claro que parte da população não entraria no pacto social. Deputados declaravam que “os filhos dos negros, crioulos cativos, são nascidos no território do Brasil, mas […] não são brasileiros”. Os Estados Unidos, símbolo da prosperidade nas Américas, serviam de exemplo contra a obtenção de direitos políticos pela população negra, e argumentos contrários eram silenciados pela falsa dicotomia entre estabilidade e liberdade. A violência no Haiti servia como um alerta de qual seria o futuro dos defensores dos escravizados se suas vontades fossem atendidas.
Ao longo do século 19, no entanto, a defesa da escravidão foi enfraquecendo e a necessidade de reconhecimento internacional do Brasil gerou acordos que fragilizavam a estabilidade tão desejada pelos donos de escravizados. A primeira mudança significativa veio em 1831: a partir daquele momento “todos os escravos, que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, fica[va]m livres”.
A continuação do tráfico após 1831 fez com que essa lei ficasse conhecida pela sua inocuidade, mas a pesquisa recente mostra que ela teve efeitos. Como lembram os autores, “o clima no mundo atlântico era abertamente desfavorável ao comércio de almas” no início da década de 1830. No Brasil, surgiu uma imprensa negra que demandava a “efetivação das promessas constitucionais de igualdade”. Além disso, antevendo outras mudanças, diversos traficantes abandonaram o comércio. Aos poucos, o Brasil ia ficando sozinho na sua defesa da escravidão. Primeiro, o tráfico transatlântico foi fechado, em 1850. Depois, com a libertação dos escravizados nos Estados Unidos durante a década de 1860, a Abolição no Brasil passou a ser questão de tempo.
A Inglaterra e o Brasil
Inserir as transformações políticas e econômicas brasileiras no contexto internacional é um dos pontos fortes do livro. A Inglaterra sempre esteve presente na história brasileira do século 19, mas Império em disputa atualiza esse debate. É conhecida a história de que, para reconhecer a Independência brasileira, a Inglaterra colocou como condição a prorrogação do tratado comercial de 1810 e o fim do tráfico de escravizados. Os autores, no entanto, diferem de parte da historiografia ao não repetirem uma visão simplista da relação brasileira com outros Estados. Sim, a Inglaterra esteve envolvida em assuntos centrais para a política imperial, mas o Brasil não era refém de suas posições.
Não existe evidência quantitativa de que os tratados de 1810 e 1827 foram uma imposição que inviabilizou a economia brasileira. Quando d. João chegou ao Brasil, em meio ao bloqueio napoleônico, um grande volume de importações era necessário. Tributar em excesso os importados seria contra os interesses da Coroa e existiam incentivos econômicos para que navios ingleses chegassem ao Brasil. A proposta inicial do governo britânico, aliás, foi a abertura do porto de Santa Catarina, não de toda a costa. Assim como as elites brasileiras resistiram ao fim do tráfico transatlântico, os tratados comerciais também não foram unilaterais.
Ao nos distanciarmos da interpretação de que o atraso brasileiro veio especialmente da sua relação com a Inglaterra, resta pensar quais foram os efeitos das políticas do governo imperial. Aqui é onde o livro mostra que precisamos de mais estudos para entender o passado brasileiro. Como exemplo, a manutenção da tarifa de importação no tratado de 1827 teve impactos fiscais negativos, mas a historiografia não esclarece qual teria sido o efeito de maior arrecadação em um sistema tão centralizado. A tarifa aumentou em 1844, mas os recursos não foram repassados para as províncias e municípios durante todo o Império, e o aumento não resultou em mais investimentos em educação e saúde. Além disso, a evidência quantitativa, citada brevemente no livro, mostra que as importações de produtos ingleses não foram afetadas pelo aumento tarifário.
A quatro mãos
Em Império em disputa, a dificuldade de escrever a quatro mãos é evidente na mudança de estilo entre a primeira e a segunda parte. O livro começa com um texto simples e direto e acaba se transformando em um texto mais monográfico, com expressões e detalhes que não ajudam o leitor. Além disso, algumas discussões econômicas assumem uma relação simplista entre as variáveis envolvidas. Um exemplo é que frequentemente os autores não levam em conta a alta inflação do período para avaliar o efeito de mudanças institucionais, como no caso do aumento do preço dos escravizados após 1850. Mostrar a magnitude dos valores também ajudaria o leitor a avaliar a importância de determinadas mudanças. Os autores argumentam que a redução na importação de escravizados permitiu um “reequilíbrio superavitário da balança de transações correntes, com efeito multiplicador, via decréscimo das importações de seres humanos, sobre os capitais agora disponíveis”.
Essa frase assume que importações possuem um efeito negativo no investimento e que os valores envolvidos com o tráfico estariam disponíveis, em sua totalidade, para diferentes tipos de empreendimento. Além de o primeiro efeito não ser correto, a lucratividade do tráfico não era equivalente ao valor total das importações. Além disso, a produção de commodities continuava pagando pela mão de obra escravizada. O debate sobre os efeitos da lei de terras também poderia ser contextualizado com a literatura que analisa os efeitos (às vezes, negativos) do Homestead Act, nos Estados Unidos.
Esses problemas, no entanto, não diminuem a importância do livro, que nos ajuda a olhar o passado de forma abrangente sem renunciar ao rigor acadêmico. Compreender a forma como avançamos durante o século 19, mesmo em um ambiente político que privilegiava a imobilidade, também nos ajuda a pensar de forma menos fatalista sobre nossas possibilidades para o futuro.
Matéria publicada na edição impressa #61 em setembro de 2022.
Porque você leu História | Páginas da Independência
Independências: a história é essa
Minissérie de Luiz Fernando Carvalho mostra na TV aberta novas narrativas sobre o país e nosso presente repleto de passado
SETEMBRO, 2022




