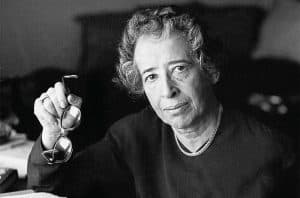Filosofia,
Década de ouro
Livro narra como Benjamin, Heidegger, Cassirer e Wittgenstein deram cara e pensamento aos dez anos mais influentes da filosofia
01dez2019 | Edição #29 dez.19/jan.20O narrador de A montanha mágica (1924) — obra-prima de Thomas Mann e uma das principais realizações do período de intensa efervescência cultural e crise política do Entreguerras — adverte o leitor logo na primeira página: “Acontece com [esta] história o que hoje em dia também acontece com os homens e, entre eles, não em último lugar, com os narradores de histórias: ela é muito mais velha do que seus anos; sua vetustez não pode ser medida por dias, nem o tempo que sobre ela pesa, por revoluções em torno do sol. Numa palavra, não é propriamente ao tempo que a história deve seu grau de antiguidade”. O caráter “problemático e peculiar” do tempo, esse “elemento misterioso”, é central no romance. Hans Castorp, seu herói, precisa lidar com a angústia de um tempo simultaneamente suspenso e comprimido, no sanatório aonde fora visitar o primo Joachim e do qual se transforma lentamente em interno.
De forma semelhante, o curto e atormentado período entre 1919, ano da assinatura do Tratado de Versalhes, que selou o fim da Primeira Guerra, e 1933, ano da ascensão dos nazistas na Alemanha, foi sentido pelos intelectuais como um de intensa descontinuidade histórica. A Alemanha imperial (satirizada por Heinrich Mann, irmão de Thomas, em O súdito, de 1919), derrotada na Grande Guerra, tornara-se irremediavelmente do passado, assim como o Império Austro-Húngaro, em que pesem as bravatas dos nazistas, nas décadas de 1930 e 40, de restabelecimento do Reich. Por outro lado, a democracia parlamentar tentava se estabelecer como uma forma política, social e cultural viável, e os governos social-democratas flertavam constantemente com o caos econômico, a crise cultural e, após um breve período de aparente estabilização e prosperidade econômica, o colapso político.
É natural que o tema da crise fosse prevalente em todas as frentes culturais nesses anos tão seminais para a cultura moderna, período identificado na Alemanha com a República de Weimar (1919-33) e na Áustria com a experiência da “Viena Vermelha” (1918-34). São os anos do teatro de Brecht, da fotomontagem de Hannah Höch, das fotos de László Moholy-Nagy, da arquitetura da Bauhaus, das composições de Paul Hindemith, dos romances de Heinrich e Thomas Mann, Erich Kästner e Alfred Döblin, da teologia de Gershom Scholem, do pensamento de Carl Schmitt e Hans Kelsen, do jornalismo de Joseph Roth, Siegfried Kracauer e Karl Kraus, do cinema de Fritz Lang e Robert Wiene, de Marlene Dietrich e da criação de instituições como o Instituto de Pesquisa Social, em Frankfurt, e a Biblioteca Warburg, para ficar em apenas alguns exemplos — a lista poderia preencher todo o espaço desta resenha.
Para o historiador Detlev Peukert, a República de Weimar é o auge da crise da “modernidade clássica”, marcada por um paradoxo: o período combinou “o quadro otimista das realizações das vanguardas culturais” com “o quadro sombrio do colapso político e da miséria social”. Na filosofia não foi diferente. À sua maneira, filósofos de orientações intelectuais e políticas tão diferentes como Benjamin, Heidegger, Cassirer e Wittgenstein encarnaram este sentimento de crise: o velho mundo da filosofia da época dos impérios agonizava, mas o novo ainda não havia tomado forma definitiva.
Tempo de mágicos, de Wolfram Eilenberger, parte do famoso debate entre Heidegger e Cassirer em Davos, na Suíça, em 1929, para reconstruir um panorama da filosofia europeia entre a Primeira e a Segunda Guerra. A tarefa é desafiadora: cada um dos quatro filósofos é figura totêmica de movimentos intelectuais mais amplos, e falar de qualquer um separadamente implicaria deslindar uma rede quase infinita de escritos, ideias, polêmicas, pessoas e instituições. Eilenberger, no entanto, satisfaz de forma surpreendente a curiosidade do leitor que, ainda que não especialista, tem interesse nesse capítulo rico e extenso da história da filosofia contemporânea.
Eilenberger assume a estratégia de combinar trajetórias individuais (com alguns entrecruzamentos biográficos inevitáveis, dado que as redes intelectuais da primeira metade do século 20 eram relativamente pequenas) com exposições do desenvolvimento teórico de cada personagem do livro e de seus principais trabalhos: o Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein (1921), A filosofia das formas simbólicas de Cassirer (1923), O ser e o tempo de Heidegger (1927) e Rua de mão única de Benjamin (1928). O resultado é um livro útil, equilibrado, cativante e atual do ponto de vista historiográfico.
Mais Lidas
Quarteto fantástico
Na narrativa de Eilenberger, Cassirer encarna o acadêmico judeu burguês estabelecido, a última grande voz do neokantismo do século 19 e baluarte de uma concepção humanista da tarefa da filosofia. Heidegger, um outsider em sua origem camponesa, formado nas tensões entre o circuito teológico católico, minoritário na universidade alemã, e a revolução humboldtiana que difundiu um ideal secular no sistema educacional, representa uma nova geração de acadêmicos, simultaneamente irreverente com as etiquetas da vida intelectual “burguesa” e portadora de um neotradicionalismo nacionalista e conservador (sua combinação de catolicismo antimodernista e fenomenologia anticientificista provaria ter afinidades eletivas com os ideais do Partido Nacional-Socialista, do qual Heidegger se aproximou nos anos 1930).
Benjamin é epítome do intelectual berlinense freelancer, eterno aspirante a uma posição segura na universidade mas figura central dos círculos vibrantes, embora precários do ponto de vista profissional, do jornalismo, do mundo editorial e das vanguardas europeias (Richard J. Evans estima que houvesse cerca de 4 mil títulos diários ou semanais em circulação na Alemanha em meados da década de 1920). Wittgenstein sintetiza as muitas contradições de sua Viena natal, dividido entre uma crise pessoal que o levou a renunciar à fortuna familiar e um apego a ideais burgueses de cultura e, do ponto de vista intelectual, entre o cientificismo modernista dos círculos intelectuais de Viena e um misticismo religioso tolstoiano que se infiltra em sua filosofia por meio de uma teoria do “indizível”. Todos compartilham um interesse teórico pela linguagem; todos são marcados pela violência da Primeira Guerra e pela crise que se seguiu à derrota da Alemanha e ao fim do Império Austro-Húngaro.
Eilenberger, no entanto, às vezes pesa a mão em seu esforço de caracterização. Seu retrato de Benjamin, por exemplo, é algo cômico: mulherengo, procrastinador, perdulário, incapaz de se concentrar em um trabalho acadêmico sério que garantisse uma posição em alguma universidade. Em eterna dependência financeira da família paterna e da mulher, a economista e militante feminista Dora, Benjamin parece preferir gastar seu tempo e dinheiro em viagens de lazer pela Europa. A injustiça é dupla. Em primeiro lugar, as condições de concorrência haviam transformado o acesso a uma carreira universitária na Alemanha do período, como notou Max Weber em “A ciência como vocação” (1917), em uma “questão de pura sorte” — e se o aspirante fosse judeu, ressaltou Weber, ele devia “abandonar toda esperança” de ingressar na carreira. Em segundo lugar, o jornalismo e a vida editorial não foram apenas prêmios de consolação para Benjamin, que se tornou figura central das vanguardas intelectuais europeias progressistas, uma correia de transmissão de inovações teóricas, artísticas, literárias e filosóficas no circuito Berlim-Paris-Moscou.
Da bibliografia extensa e atualizada de Tempo de mágicos, uma ausência é notável. No seminal O declínio dos mandarins alemães (1968), Fritz Ringer mostrou que os anos da República de Weimar foram não apenas uma época de ouro da filosofia de língua alemã, mas também que a intensa criatividade filosófica do período foi impulsionada por duas linhas de conflito político-intelectual sobrepostas: entre modernistas (republicanos e democratas) e antimodernistas (monarquistas e posteriormente simpatizantes do Partido Nacional-Socialista), por um lado, e, por outro, entre o cosmopolitismo racionalista dos neokantianos e um antirracionalismo que se apropriou de tendências nacionalistas conservadoras gestadas fora do campo estritamente intelectual. Se avançarmos a cronologia de Eilenberger alguns anos até o início da década de 1930, não teremos dificuldade em descobrir quem foram os vencedores.
Matéria publicada na edição impressa #29 dez.19/jan.20 em novembro de 2019.