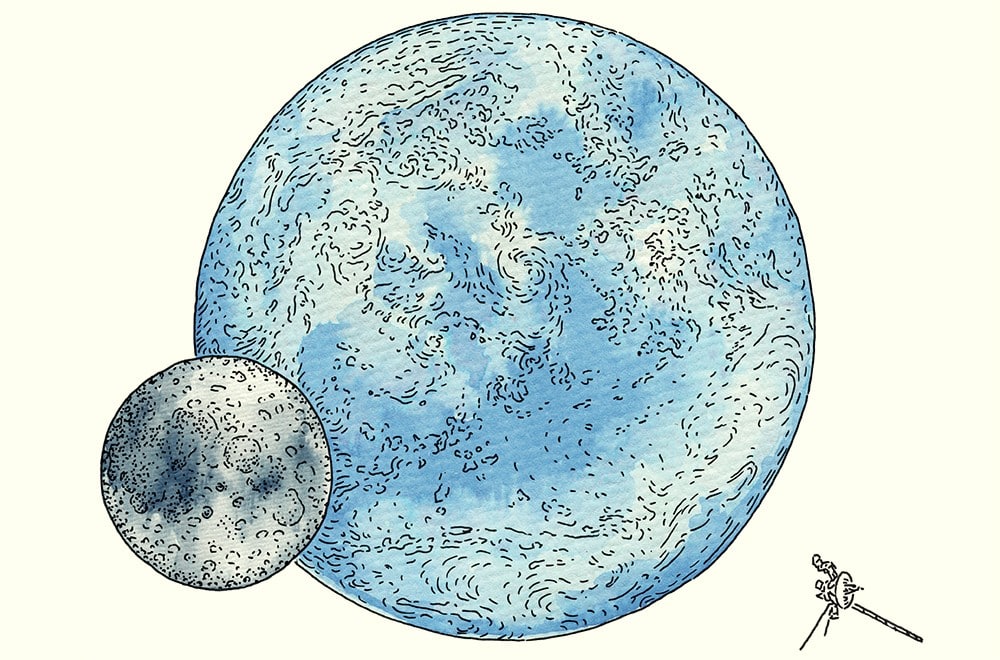
Divulgação Científica,
Para um catastrofismo esclarecido
Economista José Eli da Veiga amplia o debate sobre o Antropoceno e nos diz que não há resposta simples diante do colapso da civilização
01jun2019 | Edição #23 jun.2019A palavra “Antropoceno” poderia ser só um termo técnico, referindo-se à época geológica que começa quando a humanidade passa a causar impactos em escala planetária. Mas transbordou e, hoje, é uma expressão corrente, que encontramos nas humanidades, na imprensa e no ativismo. Tem servido para tratar da enrascada em que nos metemos, carregando um certo sentimento de culpa.
Quando se fala em Antropoceno, vem junto a ideia de que é preciso viver de outro modo. Após décadas de atividade frenética, nos deparamos com o perigo de grandes desastres; para muitos, isto inclui o risco de extinção da espécie. Tudo isso ocorreu num período extremamente curto para os padrões geológicos (a Terra tem 5 bilhões de anos), e até mesmo para a civilização humana, com seus poucos milênios de história.
Esse átimo cósmico, menor do que a expectativa de vida de uma pessoa hoje, é conhecido como “Grande Aceleração”. Embora a Revolução Industrial tenha intensificado as emissões de carbono, a parte mais significativa dos impactos está concentrada nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, marcadas pelo crescimento contínuo das rendas nacionais, pela competição econômica e militar da Guerra Fria e pela inauguração da era nuclear.
Um complicador é que todos os parâmetros pelos quais organizamos nossas vidas, concebemos o futuro e até mesmo conjecturamos sobre o Antropoceno (o uso do termo ainda não é oficial, e depende da ratificação da Comissão Internacional de Estratigrafia, em 2020) estão fincados na lógica desse período. As expectativas de cada um sobre o futuro profissional, o funcionamento das cidades, a aquisição de alimentos e as telecomunicações são dependentes de tecnologias disseminadas a partir de 1945.
Assim, o problema que conecta as noções de Antropoceno e “Grande Aceleração” se põe nestes termos: se o que está nos matando é o único mundo em que sabemos viver, como vamos conceber as diretrizes para uma vida diferente? Os esforços em torno de ciências climáticas são assombrados por essa pergunta. Em última instância, buscamos compreender a interação da meteorologia com as emissões industriais ou o impacto da acidificação dos oceanos sobre algas e corais porque precisamos saber quais são as condições para a vida nesse cenário que muda tão rapidamente.
As divisórias com as quais os cientistas se acostumaram a trabalhar estão derretendo
O Antropoceno e a ciência do sistema Terra, do economista José Eli da Veiga, é uma obra admiravelmente concisa, que, em cerca de 120 páginas de texto, explicita o impacto da emergência climática nos nossos hábitos, métodos e pensamentos. Focado na história que, ao longo do último meio século, forjou os campos científicos dedicados ao estudo do clima, do planeta e, portanto, do Antropoceno, mostra bem como o conceito começou a transbordar e irrigar outras áreas além da geologia.
Mais Lidas
No limite, o ensaio epistemológico de Veiga leva a pensar que a emergência climática exige uma revolução científica tão grande quanto a do início do século 20, quando a física quebrou a cabeça para conciliar mecânica clássica e teoria eletromagnética, dando origem à teoria da relatividade. Não é um exagero. O problema com a emergência climática é que os novos paradigmas não se restringem a uma única disciplina; o desafio do pensamento — indissociável do desafio político — abala tanto as ciências da natureza quanto as humanidades. E ainda se pode ir além: as barreiras entre esses dois campos do saber parecem ser cada vez mais arbitrárias.
Gaia e Medeia
No livro de Veiga, essa discussão atravessa sua crítica à chamada “ciência do sistema Terra”. Na década de 1970, a constatação de que o ser humano estava provocando transformações no clima deu início a todo um campo científico que buscava pensar o planeta como um sistema coeso e unificado. É com ele que o autor dialoga e que considera ser, em suas próprias palavras, promissor, mas insuficiente.
O primeiro ensaio de uma teoria sistêmica do planeta foi a “hipótese de Gaia”, que remete ao químico James Lovelock e à bióloga Lynn Margulis. Nos anos 1970, eles sugeriram que pensássemos a Terra como um grande organismo, recuperando seu nome de divindade grega. O que subsiste dessa hipótese, para além de seu espírito romântico e da inspiração que pode oferecer aos ecologistas, é a ideia da autorregulação do clima, desde o recebimento de energia solar e as marés até a respiração dos seres vivos.
Mas há limites, como aponta o paleontólogo Peter Ward, criador da proposta inversa, a “hipótese Medeia”: assim como a heroína trágica grega, que matou os próprios filhos, o sistema Terra não é só a bondosa mãe que sustenta a vida de todos. Ocasionalmente, ocorrem grandes catástrofes naturais que varrem da face do planeta entre 75% e 90% das espécies.
No caso das mudanças climáticas, a dificuldade para o pensamento vem, antes de mais nada, porque elas dinamitam um pilar — ou antes, um hábito — das ciências modernas: a especialização disciplinar. Isso não significa que essa compartimentalização científica deva desaparecer, o que seria impossível, dado o grau de complexidade a que o conhecimento chegou. Mas as divisórias com as quais os cientistas se acostumaram a trabalhar estão derretendo, assim como os icebergs. Isso exige ampliar o escopo teórico, desenvolver uma linguagem comum e, principalmente, exige a interação de dois campos que viraram as costas um para o outro: as ciências da natureza e as humanidades.
José Eli da Veiga desenha esse problema epistemológico explicando que a mudança climática é um processo com ao menos quatro camadas. E que não chegaremos a nenhuma descoberta ou resposta satisfatória sem levá-las em conta todas juntas. Duas dizem respeito às ciências naturais: a geologia e a biologia. O termo Antropoceno, como vimos, nasceu da primeira. Registros geológicos recentes já revelam claramente a atuação do ser humano — em resquícios dos testes nucleares e no acúmulo de partículas de plástico, por exemplo.
A vertente biológica também é evidente. O aquecimento se soma à expansão das cidades e da agricultura, à engenharia genética, à poluição e tantas outras coisas como causas do desaparecimento de inúmeras espécies e diminuição das populações daquelas que ainda resistem. Podemos estar à beira do sexto episódio de extinções em massa no planeta. E até onde se sabe, nenhuma das anteriores foi causada pela atividade frenética de uma de suas espécies.
As outras camadas dizem respeito às humanidades. Primeiro, está em questão o ser humano enquanto ser vivo como as demais espécies, dotado de corpo e sujeito à evolução. Por último, aparece o problema do dito “processo civilizatório”, isto é, a noção de que a vida humana não se resume a seus determinantes biológicos porque o desenvolvimento das sociedades é um fenômeno histórico que não obedece às leis de seleção natural descritas por Charles Darwin — ao contrário do que quiseram crer os proponentes do “darwinismo social”, de triste memória.
A ciência do sistema Terra é a tentativa de conjugar essas dimensões com rigor metodológico e matemático. É reconhecível pelas grandes tabelas e gráficos de difícil leitura que mostram a interação de sistemas atmosféricos, ecossistemas, influências cósmicas e atividades humanas. Os alertas sobre a trajetória suicida do consumo de energia fóssil (como petróleo e gás natural) se apoiam nesses estudos. Porém, não é raro encontrar filósofos da ciência que, apontando a posição lateral que o humano ocupa nessas pesquisas, prenunciem a superação do antropocentrismo moderno e de sua parcela de culpa no frenesi de produção e consumo que arrisca nos levar ao colapso.
O desafio é encontrar o modo de nos organizarmos entre o ‘teto ecológico’ e a ‘fundação social’
O intuito de O antropoceno e a ciência do sistema Terra é mostrar a insuficiência do pensamento sistêmico e propor a reflexão em termos de “pensamento complexo”, conceito cunhado por Edgar Morin (1921), filósofo francês que publicou uma gigantesca obra em seis volumes chamada O método. Em poucas palavras, Morin defende a importância da noção de que os fenômenos mais complexos emergem dos mais simples, criando, a cada vez, novas camadas da realidade. Essas novas camadas, por sua vez, impactam as anteriores, numa alimentação recursiva que modifica o sistema como um todo.
Problema econômico
José Eli da Veiga foi professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo durante três décadas, trabalhando em temas de agronomia e, em seguida, economia do desenvolvimento sustentável e economia institucional. São áreas um pouco marginalizadas no universo acadêmico da economia. É de Veiga o esforço para divulgar no Brasil a obra de um célebre economista ambiental que seus pares praticamente ignoraram: o romeno Nicholas Georgescu-Roegen (1906-94), que ousou alertar para os limites termodinâmicos da atividade econômica.
O mergulho na economia institucional, em diálogo com o britânico Geoffrey Hodgson (1946), conduziu Veiga a uma aproximação com o evolucionismo aplicado aos sistemas econômicos. Como realidade social, esses sistemas se constroem sobre o aprendizado e sobre o que persiste dos períodos anteriores, adaptando suas instituições e seus métodos aos problemas que surgem. Aplicado à emergência climática, esse princípio levanta a questão das formas econômicas que surgirão em resposta aos desafios do período.
Esse percurso intelectual deixa Veiga em boa posição para pensar sobre o risco climático em relação a nossa maneira de pensar. Afinal, quando se fala em “processo civilizatório” ou “ação humana”, a referência é claramente à atividade econômica. E é justamente esse tipo de atividade que está na berlinda quando nos referimos a descarbonização, sustentabilidade e decrescimento, termos com que o leitor de jornais se depara diariamente.
Nesse campo, a proposta que atrai a atenção de Veiga é um modelo proposto pela britânica Kate Raworth (pesquisadora na Universidade de Oxford), em Economia donut (Zahar, 2019). A autora propõe limites superiores e inferiores para a atividade econômica: os superiores são o “teto ecológico”, e contêm termos como “aquecimento global”, “acidificação dos oceanos”, “erosão da biodiversidade”; os limites inferiores são a “fundação social”: “educação”, “saúde”, “alimento”, entre outros. O desafio está em encontrar a melhor maneira de organizar as sociedades no intervalo entre esses dois parâmetros. Publicado originalmente em 2017, o livro de Raworth não esconde sua ambição, explícita no subtítulo da edição em inglês: Sete maneiras de pensar como um economista do século 21.
Tudo somado, o pendor evolucionista e a complexidade inspirada em Morin levam José Eli da Veiga a afirmar que a resposta, pronta e objetiva, simplesmente não existe. Ao contrário, seu propósito é justamente mostrar que as respostas se constroem historicamente, a partir das pressões que a sociedade sofre e, por sua vez, exerce sobre o sistema político. Mas como se trata principalmente de um livro sobre ciência, é importante frisar que isso vale tanto para a ação política — ativismo, mobilização etc. — quanto para os princípios científicos que orientam essa ação.
Daí as críticas de Veiga às posições extremas sobre o Antropoceno: aquela que enxerga uma catástrofe inescapável, contra a qual não há nada a fazer já que a humanidade está condenada; e aquela que vê a adaptação à mudança climática logo ali na esquina, graças à desmaterialização da economia. Esta última promove o conceito de “decoupling”, segundo o qual o crescimento pode continuar indefinidamente, sem causar impactos ambientais, graças à evolução tecnológica — ao menos nas economias desenvolvidas.
No esforço de escapar tanto do niilismo (se a catástrofe é certa, por que, então, agir?) quanto do otimismo cego (a inventividade tecnológica como panaceia), José Eli da Veiga recorre ao filósofo francês Jean-Pierre Dupuy (1941), que se dedicou ao estudo da ameaça de guerra nuclear e desenvolveu a noção de “catastrofismo esclarecido”. A lógica é bastante simples: já que o colapso da civilização é uma possibilidade bem concreta, devemos ter a prudência de agir como se fosse quase certo, mas não completamente. Esse fio de esperança deve nos impulsionar a fazer de tudo para evitar o pior.
Este texto foi realizado com o apoio do Instituto Serrapilheira
Matéria publicada na edição impressa #23 jun.2019 em maio de 2019.






