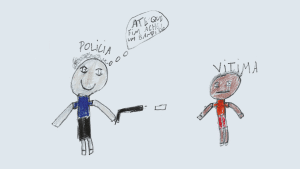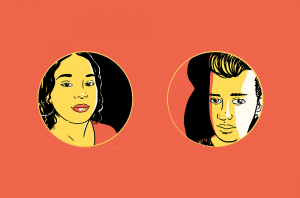Literatura,
Através do espelho
Emmanuel Carrère fala de jornalismo, depressão, ioga e o narcisismo como ferramenta de escrita
22mar2023 | Edição #68A certa altura de Ioga, Emmanuel Carrère escreve: “Sou um homem narcisista, instável, saturado pela obsessão de ser um grande escritor”. De fato, o francês começa o livro falando de si, de como e por que chegou a um retiro de ioga em janeiro de 2015. Em seguida, porém, ele passa a observar os demais participantes para descrever o que vê — e também imaginar o que não pode ser visto. Esta é a síntese do trabalho de Carrère: um narcisista que escreve sobre seu lugar no mundo, mas que o faz se relacionando com ele.

Ioga, de Emmanuel Carrère
Não é novidade para alguém que tenha lido qualquer dos seus trabalhos anteriores, dos quais foram lançados no Brasil O adversário (Record, 2007), Um romance russo (Alfaguara 2008), Outras vidas que não a minha (Alfaguara, 2010), O bigode/A colônia de férias (Alfaguara, 2011), Limonov (Alfaguara, 2013) e O reino (Alfaguara, 2016). Não espanta que, nesta entrevista, ele compare a escrita à meditação: seus livros costumam se assemelhar a um fluxo de consciência reflexiva. Carrère é, essencialmente, um homem curioso e inquieto, que parece constantemente engajado em entender o mundo.
Comecemos pelo começo: diferentemente do que sugere o título, Ioga não é um livro didático sobre essa atividade física tão popular no nosso tempo. Que livro é esse?
Além de uma ótima atividade física, a ioga é uma atividade mental, espiritual até: um trabalho não apenas do corpo, mas da consciência. É uma atividade que nos torna mais conscientes da própria consciência. É um pouco pedante dizer isso, mas eu pratico ioga há mais de trinta anos e, quando se reúne alguma experiência sobre algo, pode acontecer de querermos escrever sobre isso. De forma alguma como mestre — eu sou apenas um aprendiz —, mas como alguém que pratica há muito tempo e tem algo a dizer.
Inicialmente me propus a escrever um livro não didático, uma narrativa íntima como fez Murakami com a corrida [em Do que eu falo quando falo de corrida, lançado pela Alfaguara em 2010]. Para isso, decidi fazer um retiro de meditação Vipassana, algo muito exigente: dez dias sem falar com ninguém, oito horas de meditaçao por dia. Uma espécie de treinamento militar de meditação. Mas foi então que o projeto começou a descarrilar. Uma erupção de violência terrorista fez com que o livro que eu imaginei saísse dos trilhos.
Você se refere ao atentado contra a sede do Charlie Hebdo, em Paris.
Dentre os mortos do atentado estava o escritor e economista Bernard Maris. Ele não era um amigo próximo, mas nos últimos meses antes do atentado havíamos nos aproximado muito por causa de uma amiga em comum. Não posso dizer que perdi um membro da família, mas aquilo mexeu muito comigo. E precipitou a minha volta a Paris de forma completamente inesperada, pois minha amiga pediu que eu falasse no enterro de Bernard.
E então se seguiu um descarrilamento da sua vida pessoal, com uma depressão, o divórcio…
Eu me comprometi com esse livro em um momento de extrema harmonia na minha vida. Tinha a impressão de estar finalmente navegando águas serenas, levando uma vida harmoniosa. Talvez seja sempre assim, como diz aquele ditado da tradição judaica: “Se você quer fazer Deus rir, conte a ele sobre seus planos”. Eu tinha planos coerentes que a vida se encarregou de explodir. Tudo mudou de figura e se converteu em uma enorme crise pessoal que levou a uma depressão profunda e me colocou em um hospital psiquiátrico por quatro meses. São coisas que, enquanto a gente as vive, parece que não sairemos delas jamais, não conseguimos nos imaginar em outro lugar. E, de repente, estamos em outro lugar.
Pode-se tentar escrever durante a meditação, já a depressão profunda não o permite
Mais Lidas
Então eu poderia ter continuado o livro sobre ioga e considerar que tudo aquilo seria objeto de outro livro. Mas, na realidade, senti que tudo tinha lugar nesse livro. Percebi que a ioga não é para ser apenas sobre tudo que vai bem, é uma experiência integral, e isso inclui coisas cruéis, dolorosas. Senti que falar de depressão era também falar de ioga.
É interessante que você tenha escolhido escrever sobre duas situações pouco propícias para a escrita: um retiro sem falar e uma longa depressão. Como funcionou isso?
Bem, a gente não escreve durante, mas depois. No retiro Vipassana era inclusive proibido escrever, você tinha que se comprometer a não fazê-lo. É interessante, contudo, que a meditação e a escrita são duas coisas com muitos pontos em comum — e outros totalmente opostos. Pelo menos no tipo de escrita que pratico, que no fundo consiste em estar muito atento aos movimentos da consciência e identificar quais são as suas correntes, ao que se engajam. Na meditação a gente deixa elas passarem, como na superfície de um rio. Na escrita a gente tenta recolher suas marcas.
Eu diria que a meditação tem uma espécie de generosidade de não querer guardar nada, enquanto a escrita se propõe a tentar puxar tudo para si. Em tese, pode-se tentar escrever durante a meditação — é roubar no jogo, mas é possível. Já a depressão profunda não o permite. Os livros que foram feitos sobre o tema, como o de William Styron [Perto das trevas, Rocco, 1991], foram escritos a posteriori.
Em Ioga você faz algumas viagens. É um artifício que parece muito presente na sua obra, a viagem com a vocação de salvação.
De fato, viagens têm um caráter de abertura aos outros e também ao acaso, ao imponderável, algo que é muito precioso para mim. Meu grande pretexto para viajar tem sido o jornalismo, que é algo constante e precioso na minha vida. Comecei o trabalho como jornalista e nunca mais parei de exercê-lo, é uma atividade que faz parte da minha vida literária, não uma coisa periférica. Escrevo reportagens como um autor de romances escreve histórias curtas: são para mim atividades da mesma natureza. Sou muito agradecido aos jornais que me concedem tanto espaço, o jornalismo é uma espécie de canal essencial da minha relação com o mundo.
Na sua trajetória literária, você escreveu romances até O adversário (2000), que nasceu como texto jornalístico. Contudo, ao perseguir temas objetivos que lhe interessam, parece existir sempre um núcleo narrativo.
Absolutamente. Eu não sei escrever de outra forma que não narrativa. Não escrevo ensaios nem comentários jornalísticos, mas reportagens. Tenho necessidade de contar algo, não exprimir minha opinião. Na verdade eu desconfio muito das minhas próprias opiniões e prefiro me confrontar com a complexidade do real.
Ao mesmo tempo, seu ponto de vista está sempre inserido, já que fala frequentemente de si mesmo?
Sim, e mesmo quando não falo muito de mim estou inserido como narrador. Parece-me natural escrever na primeira pessoa, e eu não penso que seja por narcisismo — ou não só, pois há certamente uma parte de narcisismo. Mas acho que é também por honestidade, pois é uma forma de dizer que aquilo que falo não é a verdade revelada, mas apenas aquilo que pude observar e compreender com meus limites.
Como é essa negociação com a verdade quando você fala de outras pessoas cujo ponto de vista não está lá? Foi uma questão que você enfrentou em Ioga.
Sim, minha ex-mulher não quis aparecer no livro. Quando eu lhe dei o manuscrito — bem, você não tem obrigação nenhuma de acreditar no que eu estou dizendo —, não havia nada de duro em relação a ela. Mas ela se recusou a fazer parte e eu não tive outra opção que não aceitar. Só que isso me colocou em uma situação muito delicada. Porque mesmo ela não estando no centro do livro, um dos eventos narrativos é efetivamente nossa separação — da qual eu só falava de maneira alusiva e, de novo, de forma amigável. Então decidi suprimir isso e não sabia como fazê-lo. Primeiro me perguntei se deveria ficcionalizar, mas não funcionou, me soava falso. Então decidi cortar aquilo que dizia respeito a ela, simplesmente. E isso significa que há um buraco no livro, um efeito bizarro, um defeito, na minha opinião. É como se ele fosse um pouco manco. E eu adoraria que não fosse, mas prefiro aceitar que essa é a sua identidade ao invés de fingir que ele é outra coisa.
Você fala de um buraco, mas já declarou que inseriu pedaços de ficção e que isso lhe trouxe até algum prazer. Poderia dar um exemplo disso?
Para poder contar a história eu fui obrigado a deslocar algumas coisas em relação à realidade. Mas o uso da ficção no livro é puramente funcional, é muito, muito, muito pouco. Há um exemplo que é importante: a personagem do final que estava comigo em Leros e cuidava dos imigrantes. Ela existe e uma parte do que está lá é verdade, mas, como já tinha algumas coisas em que precisei mexer, houve uma espécie de contágio ficcional e eu me autorizei a inventar um pouco. Mas o essencial é verdade, ouvimos Chopin embriagados [no livro, os dois ouvem a Polonesa n. 6 “Heroica” quinze ou vinte vezes seguidas, o que o autor descreve depois como ter feito amor].
E com relação aos outros livros? Você já disse carregar uma espécie de incômodo moral por coisas escritas em Um romance russo.
Nunca tive esse problema antes, foi uma situação muito particular. Carrego de fato um incômodo com Um romance russo, primeiro em relação à minha mãe; depois, e principalmente, à minha companheira da época. Escrevi coisas dolorosas e acho que isso é mais grave do que qualquer ficcionalização. Ali não há nada de ficção, mas acho que deve existir essa regra de não escrever coisas que machucam as pessoas. E, naquele livro, eu o fiz. Felizmente, aquilo não provocou nenhuma catástrofe, mas eu certamente não farei isso de novo. Ultrapassei uma linha que não é bom ultrapassar.
O jornalismo é uma espécie de canal essencial da minha relação com o mundo
Você consegue identificar por que ultrapassou essa linha?
[Pausa longa] Porque aquele foi um livro escrito depois de uma crise profunda. Fazia anos que eu não escrevia um livro e eu achava que nunca mais o faria. Eu estava em um estado de forte depressão, e é o tipo de livro sobre o qual a gente se diz que é sem dúvida o último. É como a expressão em inglês: “Take no prisoners” (não faça prisioneiros). Eu o fiz e tenho uma vergonha moral em relação a isso, enquanto não tenho nenhum incômodo com as pequenas manipulações factuais de Ioga.
Você reconhece frequentemente seu narcisismo, mas para um narcisista até que presta bastante atenção no mundo e nos outros…
Ah, é gentil da sua parte dizer isso. Espero que seja verdade! [pausa] Confesso que acho que é verdade, de fato. É um pouco pretensioso dizer isso, mas é como se eu me servisse de mim mesmo como uma espécie de instrumento de aproximação e compreensão do mundo. Então, sim, eu reconheço essa parte narcisista, mas, enfim, espero que aquilo que eu faço não se resuma a isso.
Em seu perfil recente na revista New Yorker o jornalista Ian Parker fez uma formulação interessante a respeito: “Não é tanto autokaraokê, mas autocanibalismo”.
Sim, sim, é um pouco verdade, mas por conta do autocanibalismo a gente acaba tendo uma indigestão [risos] Sabe que eu escrevi um outro livro depois de Ioga, espero que saia em português. É uma espécie de continuação da parte sobre terrorismo em Ioga, pois segui os julgamentos dos atentados do Charlie Hebdo, que duraram quase um ano. Segui o processo todo e escrevi crônicas para uma revista [a publicação semanal L’Obs, antes conhecida como Le Nouvel Observateur]. Então podem pensar o que for, mas não me acusar de narcisismo nesse livro. Porque sou eu que conto em primeira pessoa, mas realmente não corro risco de má digestão por autocanibalismo.
Curioso, porque vi uma declaração em que você falava em ter reencontrado o prazer da ficção nesses pequenos enxertos em Ioga, e imaginei que pudéssemos esperar um retorno à forma ficcional.
A gente nunca sabe. Eu adoro ficção, sou grande leitor do gênero. Mas, a priori, por hora, isso me surpreenderia.
Já no audiovisual você trabalha principalmente com ficção.
É verdade. Ao mesmo tempo, Retorno a Kotelnitch (2003), que honestamente acho que foi o melhor que já fiz no audiovisual, é um documentário. E Ouistreham (2021), meu filme mais recente como diretor, parte de uma investigação jornalística e, nele, Juliette Binoche atua ao lado de atores não profissionais. Há uma qualidade documental ali.
Mas a série Les Revenants [A volta dos mortos no Brasil] é uma ficção pura, até sobrenatural!
Sim, embora a ideia original não seja minha e eu tenha trabalhado somente na primeira temporada. Acho a premissa extraordinária e me dei bem com o diretor Fabrice Gobert, foi uma alegria trabalharmos juntos. Mas acho que há um problema narrativo na série: a premissa é incrível e, nos primeiros episódios, tudo anda muito bem. Mas é como se tivéssemos usado os melhores cartuchos, uma corrida precipitada, e depois… sabe aquela série Lost? Era apaixonante, mas, quanto mais as coisas avançavam, mais gratuito tudo parecia, e você se dizia: só falta me dizerem que tudo foi um sonho. Ao escrever a série, no início, tínhamos muito entusiasmo e, no final, não sabíamos mais o que contar. Infelizmente… Mas nada disso tem a ver com o talento das pessoas envolvidas, é realmente a natureza do tema.
O que falo não é a verdade revelada, mas o que pude observar e compreender com meus limites
Seu livro Limonov também está sendo adaptado para o cinema. Você se envolveu no processo?
Não, prefiro deixar o diretor em paz e esperar que se torne algo que me surpreenda. Se bem que eu participei, com um papel minúsculo, desse filme! É um filme do diretor Kirill Serebrennikov. Tudo já está filmado há tempos, mas ele leva uma eternidade para finalizar. Eu e meu agente já perguntamos quando poderemos ver: “Quando estiver pronto”, eles dizem. [O filme está sendo cotado para entrar na seleção do Festival de Cannes deste ano.]
Você falou que faz literatura de não ficção, mas pode-se dizer também que você faz autoficção. Sente-se confortável com esse termo “da moda”?
Não me incomoda, mas acho que, na realidade, o que faço pode se chamar de autobiografia. Acho que faço uma mistura entre autoficção e reportagem. E sobre essa definição, não acho que seja falsa! Claro que depois de escrever precisamos dar forma àquilo, mas, na verdade, sentar e escrever o que se pensa é o que fazia Montaigne, meu escritor favorito. Como dizia Thomas Bernhard: “Escrever não é difícil, basta abaixar a cabeça e recolher o que cair”.
Isso me faz pensar no seu editor, que comentou certa vez que você escrevia com apenas um dedo e que, se mudasse isso, tornaria-se outro escritor.
Não necessariamente melhor!
Não é difícil seguir o seu pensamento com um dedo?
Bom, agora eu aprendi a datilografar com todos os dedos, quer dizer, com seis. Isso veio depois da morte de Paul, um pequeno ato de devoção a ele.
Em Ioga há um capítulo tocante intitulado “Eu continuo a não morrer”, um belo resumo do que significa estar vivo. Então lhe pergunto: o que você tem feito além disso?
É uma frase extraordinária. Por ora, livro nenhum, pois não tenho nada em andamento. Escrevo reportagens, roteiros, faço todas as coisas que costumo fazer quando não estou escrevendo um livro. E que não faço mecanicamente, mas sim porque gosto de fazê-las. E geralmente é daí que saem meus livros.
Matéria publicada na edição impressa #68 em março de 2023.
Porque você leu Literatura
De pai para filho
Com sua caracterísitca liberdade e fluidez na escrita, Alejandro Zambra narra o mundo que uma criança esquecerá
MAIO, 2024