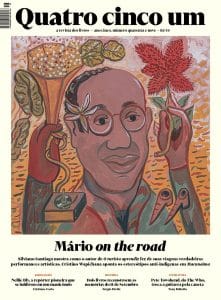Fichamento,
Antônio Xerxenesky
Novo romance é motivado pela tentativa de entender por que o Brasil aprovou um projeto de morte e destruição
30ago2021Em seu novo romance Uma tristeza infinita (Companhia das Letras), Antônio Xerxenesky retorna aos primórdios da psicanálise e ao pós-Segunda Guerra para tratar dos conflitos entre ciência e fé e do Brasil atual.
Por que escreveu um romance passado em uma vila isolada na Suíça, após a Segunda Guerra Mundial?
Comecei a escrever o livro em 2017, sobre dois irmãos em São Paulo, nos anos 30. Aí o Brasil foi tomando essa guinada que eu descreveria como criptofascista e decidi pensar no processo de desnazificação. A Suíça foi um caso muito curioso do “isentão”, da falsa isenção, porque se entregava muita gente [aos nazistas]. Há muitos paralelos com o Brasil atual: como lidar com o fato de a maioria ter aprovado, e muitos continuarem aprovando, um projeto de morte e destruição? Senti que falar disso diretamente seria quase jornalístico, então pensei em narrar uma história passada num universo tão distante para falar de hoje.
Como foi a escolha do protagonista, um psiquiatra vivendo uma crise ética e pessoal?
Uma sequência de leituras me levou para esse universo. Estava lendo sobre a epidemia atual de depressão e ansiedade. Há um fator histórico, estamos vivendo uma crise do humanismo, mas isso também se relaciona a causas inacessíveis, talvez por sermos uma geração muito pragmática. Não dá para naturalizar o fato de você chegar a um bar com os amigos e todos ficarem uns quinze minutos falando sobre qual remédio estão tomando. Não estou fazendo um discurso contra os medicamentos, acho a farmacologia um mal necessário, mas me recuso a achar isso natural. Há também uma questão pessoal, deixando muito claro que o personagem não sou eu, o conflito entre a ciência e aquilo de que ela não dá conta, uma espécie de percurso do ceticismo à dúvida, mas com uma possibilidade em relação à dúvida, uma abertura.
Há uma linha em comum entre Uma tristeza infinita e os seus livros anteriores?
É engraçado, esse é o meu livro mais comportado. Analisando friamente, é quase um romance realista. Tem algumas mudanças, vá lá, uns flashbacks, mas no geral é linear, um livro acessível. A escrita coincidiu com a leitura de O homem sem qualidades, do [Robert] Musil, um livro modernista, mas de escrita simples, em terceira pessoa, narrador indireto. Ele emite opiniões contrastantes tentando dar conta do debate intelectual. Será que não é hora de a gente ressuscitar o romance de ideias com alguma leveza, talvez, do contemporâneo?
Mais Lidas
O contemporâneo estaria nas várias citações ao cinema, às artes visuais e à própria literatura?
Começo a falar dessas coisas e pareço muito acadêmico, né? Não quis fazer um livro “cabeção”, de jeito nenhum. Pesquiso obsessivamente, coloco tudo no livro e vou cortando. A primeira versão estava muito fria, foi uma crítica inclusive de minha mãe e de meus editores, que me levaram a cortar muitos trechos de discussão intelectual e colocar mais questões emocionais, até chegar a um equilíbrio entre o debate filosófico e o mergulho psicológico no personagem. Deixei só o que é essencial para mim.
Como vê o papel da literatura hoje?
Já falei muitas vezes em entrevistas que o escritor é um parasita social, mas estou revendo essa posição. Deve ser porque tive um filho, envelheci, vai saber. Mudei de opinião e acho uma coisa boa. Estou mais interessado no potencial emancipador da arte, usando uma frase meio “paulofreiriana”. Penso também em Marcuse quando ele fala que uma obra literária não precisa expor didaticamente os conflitos contemporâneos e que sua função libertadora é abrir modos de consciência novos. Depois de tantos anos pregando o oposto, minha função agora é morder a língua.