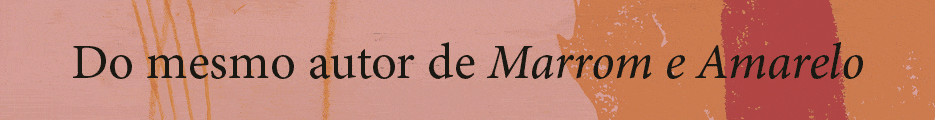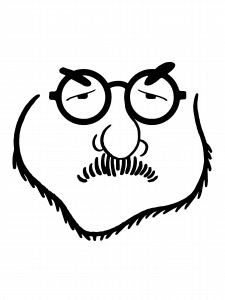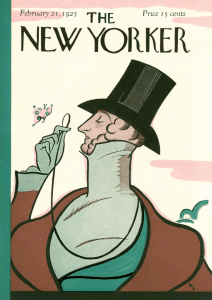Crítica Cultural,
Vidas narradas
Felipe Charbel e Mathieu Lindon dissipam a rotina em livros que embaralham classificações e expurgam o sentimentalismo que ronda a produção contemporânea
15jun2023 | Edição #71Talvez a decisão de escrever uma biografia comece por uma questão de escala: magnificar o pequeno, reduzir o gigante. Talvez por isso muitas vezes implique numa espécie de reparação: tornar visível o anônimo, humanizar o notório. Talvez seu fundamento seja o arquivo, comprovação do que se conta — ou, no outro extremo, o intangível esforço da memória. Talvez o rigor factual não passe de suposição circunstanciada; talvez, quem sabe, seja resultado de deliberada invenção. Talvez o único princípio possível de uma vida narrada seja a incerteza, aquilo que não se resolve. Talvez.
É certo, porém, que na tradicional divisão dos gêneros literários, cabe ao ensaio — e não à biografia — o benefício da dúvida. É o ensaio que incorpora, em origem e estrutura, marcas paradoxais: fronteiras disciplinares borradas, escrita indócil e especulação potencialmente infinita. Mais do que gênero, ensaio pode ser atitude, princípio ativo de um espectro cada vez mais amplo de projetos literários que minimizam, instabilizam ou apenas desprezam os conceitos fechados de fato, ficção, intriga, argumento, pesquisa, fabulação.

Saia da frente do meu sol, de Felipe Charbel, e Une archive, de Mathieu Lindon
É nesse terreno, fértil e pantanoso, que Felipe Charbel e Mathieu Lindon assentam seus mais recentes livros. Assim como Saia da frente do meu sol inventa Ricardo, o “tio esquisitão” de Charbel, Une archive depura Jérôme, o pai célebre de Lindon. Do primeiro, não sabemos nada; do segundo, sabemos demais: o mítico editor de Samuel Beckett, artífice do nouveau roman à frente das Éditions de Minuit, editora nascida na Resistência, em 1941, em Paris. Entre uma empobrecida classe média carioca e a burguesia intelectualizada parisiense que protagonizam os dois livros, o paralelo possível e notável está na determinação de seus narradores em tirar os leitores e a si próprios da letargia que, por gosto de convenção ou comodismo, é mais presente do que o desejável no que se vem publicando em universos literários tão distintos quanto os do Brasil e da França.
Tio Ricardo
Felipe Charbel é um sofisticado escritor-leitor, como ficou evidente pelo título e a forma de Janelas irreais: um diário de releituras (Relicário, 2018), livro vitaminado por outros livros e deliberadamente indeciso entre ensaio, romance e diário. Em Saia da frente do meu sol o leitor astuto continua lá, na raiz da escrita, mas divide protagonismo com o narrador insidioso que, no ritmo peculiar da hesitação, perscruta numa caixa de fotografias as lacunas que definem a existência apequenada do “tio Ricardo”.
O paralelo notável está nos narradores determinados em tirar os leitores e a si próprios da letargia
“Agregado a vida inteira”, o homem nada célebre de Charbel viveu mais de década nas chamadas “dependências de serviço”, à margem da vida conjugal da irmã e do cunhado e, depois, da família do sobrinho-narrador. Alheado, blinda o próprio silêncio com a algaravia de rádio e TV a altos brados. Chumbado por uma doença que não chega a se definir, viveu seus últimos tempos amparado por muletas, empurrando como podia o balde laranja em que escoava uma sonda urinária.
Mais do que nobres emoções e pontual repulsa, o que Ricardo desperta no sobrinho é o impulso romanesco. Seu passado é um enigma que, pelo menos em tese, instiga a curiosidade — um mistério que, como todo segredo de família, é um segredo de polichinelo. No final das contas, o que termina por desafiar o narrador não é exatamente a tarefa de desvendá-lo, mas a forma de narrar uma vida que parece escapar às estratégias consagradas da literatura. Que talvez esteja num ponto cego entre os epítetos que estimula: “o malandro emérito, o solteirão convicto, o boêmio da Lapa, o dândi do subúrbio, o cão que rosnava para a tevê, o monge fornicador, aquele que dominava o idioma dos passarinhos, o agregado, o petulante, os escombros de um ser humano, o inquilino do quartinho de fundos, o homem que arrastava pela vida um balde de mijo”.
Mais Lidas
“Falando dele, é de mim que falo”, frase anotada de Vidas minúsculas, o excepcional livro de Pierre Michon, é o ponto de inflexão de um narrador que o leitor encontra esmagado pelo peso do “literário”. “Quando se confunde com delírio de grandeza, o romance é uma peçonha”, anota ele depois de “vasculhar o tal ‘espaço interior’” e encontrar, no lugar de uma pródiga e idealizada imaginação, “um cômodo sem móveis, um baú vazio, um deserto”.
Quando se abandonam as certezas, na literatura e na vida, nem sempre é fácil ou simples discernir o importante do desprezível, o essencial do supérfluo. Passando os olhos em documentos, o narrador deduz seu método — “noto uns fiapinhos de narrativa querendo se soltar — aí é só puxar com muito cuidado”. De uma certidão de óbito, por exemplo, extrai a epígrafe lapidar — “Não deixou filhos, não deixou bens, não era eleitor e faleceu sem testamento conhecido”. E das fotografias, devidamente incorporadas ao texto, deduz a vida oblíqua de Ricardo, um Diógenes carioca de quem se pode garantir ao menos uma característica: “queria que se esquecessem dele, e até hoje é lembrado por esse motivo”.
Lindon pai
“Ele teria detestado que falássemos demais dele. E detestado ainda mais que não falássemos dele o suficiente”. O comentário de um rabino na cerimônia fúnebre de Jérôme Lindon sintetiza, não sem ironia, os ardis de Une archive. Em 1983, Mathieu Lindon estreou na literatura com pseudônimo, condição que o pai achou natural impôr para incorporá-lo ao catálogo da Minuit. Seguiram-se 26 livros distantes dos domínios editorias familiares, muitos deles ressonâncias autobiográficas. Mas foram necessários quarenta anos de jornalismo e literatura até enfrentar Lindon pai, personagem ciclópico, monstro de delicadeza em sua incansável “inteligentileza”.
Num modelo mais tradicional de memórias, Lindon evocara dois de seus melhores amigos, Michel Foucault e Hervé Guibert, em O que amar quer dizer (2011) e Hervelino (2021) — o primeiro, lançado pela Cosac Naify, será republicado pela Nós, que também lançará o segundo. Une archive toma caminho distinto, na preocupação do autor em amortecer o peso acachapante do passado, de não ser reduzido a um apêndice da história da edição ou da literatura francesas. “Estou me lixando para os arquivos. Eu sozinho sou um arquivo”, escreve Lindon, desde sempre mergulhado num presente que se projeta no futuro, resultado da aguda consciência de que Jérôme procurava escrever a História a cada dia.
Quando se abandonam as certezas, nem sempre é simples discernir o essencial do supérfluo
Os personagens que povoam esse peculiar arquivo têm qualidades demais, qualidades excessivas. Além de sua presença ostensiva, íntima em alguns casos, “Sam” Beckett, Alain Robbe-Grillet, Marguerite Duras, Pierre Bourdieu, Claude Simon ou Gilles Deleuze produzem aos borbotões documentos de suas vidas e obras. Eles sobrevivem no testemunho e na experiência do próprio narrador, é claro, mas sobretudo nas histórias familiares sobre eles, nos livros autografados da biblioteca dos pais do narrador, nos cuidados extremados de Jérôme com a própria posteridade — a ponto de, doente terminal, ter deixado cartas a serem lidas depois de sua morte. “É típico dos arquivos a oposição entre testemunhas e historiadores quando há divergência de interpretação”, escreve Lindon. “Ao construir os arquivos ao vivo, ele queria controlar os dois lados, o arquivo como uma ameaça não concretizada, sempre ao alcance de sua mão”.
Ostensivamente desorganizada, às vezes em excesso, a narrativa de Une archive se esgueira pela interpretação ubíqua de Jérôme sobre ele mesmo e os seus. “Escrevo esse texto porque escrevo esse texto porque escrevo esse texto”, observa Lindon ao misturar trechos de um livro abandonado, citações, anedotas familiares e, de forma tocante, sua relação com Paul Otchakovsky-Laurens, fundador da P.O.L., editora que acolheu toda a sua obra. Se seu editor não foi um pai, o pai sempre foi “o” editor. “Na melhor das hipóteses”, escreve ele, “ser filho é ser o camareiro do grande homem com um amor tamanho que o grande homem continua a ser grande mesmo quando confrontado com a verdade”.
Além da emoção
“Hoje em dia é assim que se faz, tem que ter um arquivo”, aconselha um amigo do narrador de Saia da frente do meu sol. “Pode ser um diário também, você se dá bem com diário. Ou algo nessa linha, o caderninho de notas de um gigolô amasiado que ficou esquecido num quartinho imundo cheirando a esperma, e que uma velha cafetina da Lapa encontrou e te mandou pelo correio.” E arremata: “Põe umas fotos também, dessas que vendem pelo peso nos balaios de saldos”.
Esse composto de ironia e cinismo funciona, na escrita de Felipe Charbel, como remédio para a autocomplacência, traço pronunciado na produção literária contemporânea. A memória, matéria quase sempre contaminada pela emoção, está aqui sanitizada do sentimentalismo, praga globalizada que tem mantido parte vistosa de autoras e autores longe da mesa dos adultos.
Ao lado de A água é uma máquina do tempo, de Aline Motta (Círculo de Poemas), e de O que é meu (Fósforo), de José Henrique Bortoluci, Saia da frente do meu sol ajuda a dissipar a bruma espessa da rotina. Lembra que experimentalismo não implica incomunicabilidade e prefere semear a dúvida a evangelizar certezas estéticas ou políticas — juntos, os três relatos pouco definíveis do ponto de vista dos gêneros literários sugerem um debate fundo sobre racismo, homofobia, classismo e desigualdade.
A empatite, mal do século, passa a quilômetros dessas páginas. Que dão algum alento de que ainda se possa falar em solidariedade, insubmissão e enfrentamento sem verter lágrimas de esguicho — ou tentar a todo custo provocá-las. Já deu de tanta gente emocionada com tudo.
Matéria publicada na edição impressa #71 em julho de 2023.
Porque você leu Crítica Cultural
Didion sem filtro
No vigésimo aniversário de O ano do pensamento mágico, o inédito Notes to John expõe a complexa simbiose da escritora com o marido e a filha
MAIO, 2025