As Cidades e As Coisas,
O baile todo na cidade
Livro analisa o complexo fenômeno que é o funk e as formas como o gênero musical impacta relações sociais e espaços urbanos
25ago2022 | Edição #61Com melodia longa e cambiante, o verso cantado em inglês anuncia, delicadamente, que você vai se apaixonar pela garota do Rio. O sample do maior clássico da bossa nova é entremeado com uma batida que promete contar sobre uma cidade diferente. Girl from Rio vem da favela, está em casa no espaço urbano tipicamente destinado ao pobre — “Honório Gurgel forever” — e muito longe de se balançar docemente a caminho do mar — “vai malandra, gringo canta, todo mundo canta”. Ao mesmo tempo que Anitta faz o mundo se ajoelhar ao funk carioca com recordes nas plataformas de streaming e show no festival californiano Coachella, milhares de operações policiais são realizadas em bailes funk em grandes cidades brasileiras. Em março de 2019, o DJ Rennan da Penha, do Baile da Gaiola, um dos maiores do Rio de Janeiro, teve sua prisão decretada. No mesmo ano, nove jovens viriam a morrer após uma ação policial no Baile da DZ7 em Paraisópolis.
O baile virou zona de contato de segmentos sociais, exigindo novas clivagens das classes altas para lidar com o incômodo
O funk na batida: baile, rua e parlamento explora com maestria a contradição entre a glamorização e o estigma do gênero musical. Danilo Cymrot, advogado e autor do livro, nos avisa que é preciso ter cuidado ao falar em criminalização do funk. Não há lei penal no Brasil que classifique o funk como crime. Tecnicamente, não é possível criminalizar um gênero musical, apenas condutas previstas na legislação. Mas isso não significa que a repressão sistemática simplesmente deixe de existir. Pelo contrário, normas jurídicas que regulam o espaço público das cidades — como as que pretendem combater a poluição sonora, por exemplo — são pontos de apoio suficientes para que a polícia possa se valer da arbitrariedade em nome da ordem. Além disso, a associação entre funk e crime é uma constante na imprensa.
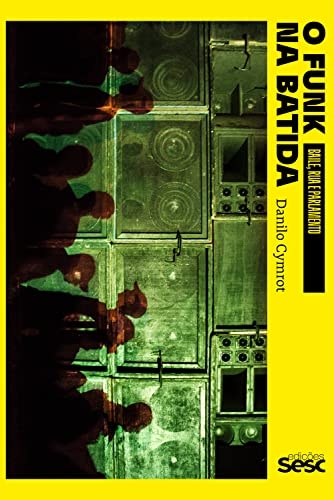
O autor também volta no tempo, diretamente para outubro de 1992. O mês em que acontecia o Massacre do Carandiru e a abertura do processo de impeachment do ex-presidente Collor também contou com um episódio não menos relevante. A praia que havia sido palco para o balançado da moça de corpo dourado dava lugar a um arrastão. O autor explica: “Até 1992, o arrastão era um fenômeno das noites sem lei dos bailes funk nos subúrbios. Ocorreu, então, que as galeras de Vigário Geral e de Parada de Lucas, que haviam se estranhado em um baile funk, marcaram um encontro no dia seguinte em Ipanema, um dos destinos favoritos dos funkeiros, devido também à linha de ônibus que tinha seu ponto final na praça do Arpoador. A própria polícia reconheceu que o arrastão não teve o propósito de roubar os banhistas, embora o número reduzido de roubos registrados tenha sido hiperdimensionado pela mídia como ‘a maior sucessão de arrastões da história do Rio de Janeiro’”.
Funkeiros e playboys
Esse foi um ponto de virada para que a mídia passasse a se referir ao “funkeiro”, uma identidade estabilizada pelas noções de desordem e vandalismo. A aglomeração de um grande número de pessoas negras nas praias da Zona Sul era uma ameaça. Colocava em xeque a ideia da praia como símbolo de território democrático, em que as diferenças sociais e raciais poderiam ser momentaneamente borradas. Os reflexos podem ser encontrados em demandas pela presença do Exército nas ruas e em tentativas de impedir a circulação de ônibus que conectavam a Zona Sul aos subúrbios nos finais de semana. As batidas policiais também se intensificaram.
Dois anos depois, o estigma seria desestabilizado com a incorporação do funk melody do DJ Marlboro e as coreografias do grupo You Can Dance na atração Xuxa Park, transmitida na TV Globo nas manhãs de sábado. Também em 1994, estreava na televisão o programa da Furacão 2000, apresentado por Veronica Costa, a Mãe Loira. Jovens da Zona Sul começaram a frequentar os bailes. O baile de comunidade exerceu o papel de zona de contato entre segmentos sociais diversos, exigindo novas clivagens sociais por parte das classes altas para lidar com o incômodo. Cymrot é preciso: “É nos momentos em que o funk se torna mais popular, fazendo sucesso entre a juventude das classes média e alta, que ele se torna mais ameaçador e é mais duramente reprimido. E, no sentido inverso, quanto mais reprimido, mais glamorizado ele é. Se, por um lado, há a necessidade de nomear e a tendência de demonizar o desconhecido e o exótico, por outro, à medida que o ‘outro’ se integra culturalmente e se torna mais parecido e próximo, paradoxalmente surge mais forte a necessidade de restabelecer o quadriculamento social, as diferenças, distâncias e divisões”.
Essas novas diferenças vão encontrar vazão justamente no espaço urbano das grandes cidades. Os bailes funk em favelas e periferias, os “bondes” como forma ruidosa e transgressora de ocupar a cidade, contrastam com condomínios e espaços fechados de lazer. Não é por outra razão que os “rolezinhos” vinculados ao funk ostentação são duramente reprimidos em 2013 e 2014 — ocupam espaços privados de consumo. O estigma não é fabricado contra o gênero musical, mas contra o grupo social que dele se apropria e o espaço que ocupa na cidade e na estratificação social.
Mais Lidas
O funk na batida trata o funk como o fenômeno complexo que ele é, sem se furtar a debater os proibidões, as acusações de machismo, a apologia ao crime, a presença de facções e sua mercantilização. Mas é, sobretudo, um livro imprescindível sobre nossas desigualdades e o direito à cidade de grupos sociais aos quais historicamente se atribui o lugar subalterno.
Matéria publicada na edição impressa #61 em setembro de 2022.
Porque você leu As Cidades e As Coisas
As Macondos brasileiras
Cidades criadas por escritores como Jorge Amado, Erico Verissimo, Dias Gomes e João Guimarães Rosa desvendam mundos maiores
JUNHO, 2025






