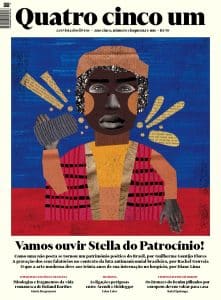Memória,
Gente boa
O mal das mães é que elas são teimosas, desobedientes e partem sem o nosso consentimento
11nov2021 | Edição #51Joana Josefina Evaristo, minha mãe, nasceu no dia 23 de outubro de 1922, no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Serra do Cipó, 34 anos após a assinatura da Lei Áurea.
Calculo que a minha avó materna, Lidumira de Miranda Pimentel, e meu avô, Luiz Floriano, tenham sido filhos do “Ventre Livre”, lei promulgada em 1871, considerando livres os filhos de mulheres escravas nascidos desde então.
Voltemos para 1922, pois outro acontecimento importante se deu. A realização da Semana de Arte Moderna em São Paulo. Evento que me instiga a perguntar sobre os diferentes Brasis, contidos no Brasil, desde ontem até hoje.
Serra do Cipó está localizada perto de Pedro Leopoldo, vizinho ao aeroporto internacional de Confins, em Minas Gerais. No tempo de minha mãe menina, Serra do Cipó era tudo roça. Quase todos os fazendeiros eram de mediana riqueza, penso eu, havia um pequeno comércio e uma população muito pobre, marcada pelos efeitos presentes da escravização. Entretanto, no mesmo ano em que a minha mãe nasceu, em São Paulo estava sendo realizada a Semana de Arte Moderna. E, mais ou menos sete anos após a Semana de 22, crianças no interior de Minas não tinham vestimentas, andavam nuas. Minha mãe ganhou a primeira muda de roupa quando tinha uns sete ou oito anos. Um camisolão dado pela madrinha de batismo, cerimônia realizada por um padre que passara pela região ou estava por lá em missão. Creio que o nome dele era padre Acácio.
Mais Lidas
Minha avó morreu cedo, meu avô alcoólatra teve os dias findos no famoso hospício de Barbacena. Essas e outras dificuldades foram vivenciadas por minha mãe. Um dia ainda escreverei a história dela. Os fatos que ela me contou, os que inferi e os que inventarei. É uma história para ser escrita, para passar adiante.
Hoje não falarei das humilhações passadas nas casas das patroas, das investidas dos patrões e dos filhos deles na porta dos quartos das empregadas, não direi, esses relatos ficarão para uma próxima escrita. Não contarei das dificuldades da mãe solteira com quatro meninas para criar, até chegar o meu padrasto, Aníbal Vitorino, homem com quem ela teve mais cinco filhos e se casou depois. Não revelarei nada sobre as dificuldades passadas na favela, assim como vou me esquecer de relatar a fome e o frio. E esconderei o pouco que sei da solidão dela, dos amores frustrados, dos homens que, semelhantes ao meu pai, aconteceram na vida de minha mãe só para deixarem mais três filhas, as minhas irmãs, e sumirem depois. Nem vou falar das lágrimas dela, a não ser dizer da beleza dos olhos d’água que verteram pranto até poucos dias, na semana passada.
Doces lembranças
Vou sussurrar para não acordá-la, dizendo que me lembro das flores de papel crepom, que ela fazia junto com a minha tia Lia, para enfeitar a Capela do Rosário. Vou relembrá-la de que ainda sinto o peso-leveza das mãos dela segurando as minhas, para me ensinar a grafar o meu nome e seguir cortando bonequinhas de papel. Ah, e do sol desenhado no chão. Fecho os olhos e vejo o círculo trazendo a estrela maior para enxugar o tempo. Minha mãe sabia fazer simpatia para a chuva parar, assim como sabia rezas milagrosas para fazer chover. Vou buscar na memória o cheiro das dálias, das margaridas e outras flores plantadas no pequeno pedaço de terra em frente ao nosso barraco. E juntas sentiremos o aroma das antigas flores. Quem sabe assim a respiração dela acalma e não temeremos mais que o seu envelhecido coração voe pela boca.
Vou recordar a sua voz contando histórias, entoando cantigas, fazendo a brincadeira da gata amarela. Aquela que subiu na janela, fez cocô, mexeu, mexeu, quem falar primeiro vai comer o cocô dela. Mãe e nós amarrávamos as vozes nas gargantas, por um milésimo de segundo, e depois, qualquer uma, podia ser até ela mesma, falava qualquer coisa por distração e comia o cocô da imaginária gata, como pregava a brincadeira. Ríamos sempre da voz distraída que rompia o silêncio. Trago também a lembrança do paladar, do café com leite, quando era possível o líquido branco e ralo em nossa casa. Escassas eram as tardes de sábado ou domingo em que a mãe e nós, meninas, bebíamos em nossas canequinhas de lata a bebida mais saborosa do mundo, segundo o nosso inexperiente paladar. Vou abrir a boca para mostrar à mãe que ainda tenho lá dentro os pedaços de nuvens colocadas por ela, apanhadas solenemente do céu. Um aviso era dado nessa brincadeira. Nada de mastigar os nacos de nuvens. Tinha de deixar derreter na boca, iguais à hóstia santa.
Um dia ainda escreverei a história dela. Os fatos que ela me contou, os que inferi e os que inventarei
Nesses dias de agonia final, acompanhada de minha filha, Ainá, brincamos com ela, cantamos com ela, rezamos na fé católica, vivida por ela e que, em parte, é também minha. Porém não a única, pois trago a confiança que tenho em nossas e nossos orixás.
Sei que ela escutava, responder com palavras não podia, pois havia perdido a voz, porém lentamente mostrava o terço que sempre tinha nas mãos. Busquei com ela todas as nossas doces lembranças, masm mesmo assim ela partiu. Fiquei órfã aos quase 75 anos. E ela se foi aos quase 99.
Um nó me cerra a voz, nem consigo falar desses últimos dias. Eu já disse uma vez que as palavras ficam mudas diante da morte. Tento escrever, mas também na escrita não cabe tudo. Escrevivência dolorida essa. Tenho os olhos d’água, entretanto bendigo a vida pelo tempo que nos permitiu tanto viver.
Nota da autora: Joana Josefina Evaristo Vitorino (23/10/1922— 20/10/2021). Agradeço as mensagens de conforto que temos recebido neste momento em que Mãe Joana se transformou em invísivel presença.
Matéria publicada na edição impressa #51 em novembro de 2021.