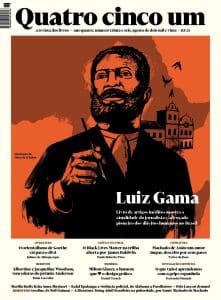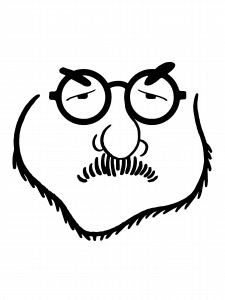Crítica Cultural,
Baldwin, a terceira onda
Como a faceta de militante e intelectual público do autor negro americano influencia os atos do Black Lives Matter
01ago2020 | Edição #36 ago.2020No dia 18 de fevereiro de 1965, Jimmie Lee Jackson acompanhava a mãe e o avô numa manifestação que tomou as ruas de Marion, no Alabama, como reação à prisão de um dos líderes do movimento de direitos civis. Tentando escapar da violenta polícia local, os três refugiaram-se num café — onde foram alcançados pelos guardas e espancados. Ao tentar defender a mãe, Jackson levou dois tiros na barriga e foi arrastado até a rua, onde continuou a apanhar. Morreu oito dias depois. Aos 26 anos, era pai de uma menina de quatro e o mais jovem diácono de sua igreja.
Naquela mesma quinta-feira, a Cambridge Union, “sociedade de debates” da universidade britânica, botava gente pelo ladrão. Antes mesmo de iniciada a discussão da noite, uma plateia jovem parecia já ter apontado James Baldwin (1924-87) como vencedor no embate com William Buckley Jr. (1925-2008), o jornalista conservador mais influente dos Estados Unidos. Não fora uma escolha difícil: em pauta estava a validade da proposição “o sonho americano existe à custa do negro americano”, referendada pelo público por 544 votos a 164. A certeza de que, sim, vidas negras pouco importavam seria reiterada três dias depois em termos mais brutais. Na tarde do domingo seguinte, Malcolm X , 39 anos, foi fuzilado quando começava a falar para simpatizantes no Audubon Ballroom, em Manhattan.
‘O futuro do negro nos EUA será tão promissor ou sombrio quanto for o futuro do país’, advertiu Baldwin
Exatos 55 anos depois, o 18 de fevereiro narrado em detalhes por Nicholas Buccola em The Fire Is upon Us: James Baldwin, William F. Buckley Jr., and the Debate over Race in America (O fogo está sobre nós: James Baldwin, William F. Buckley e o debate sobre raça na América) parece um sinistro dia da marmota: cidadãos negros continuam a ser executados pela polícia, perenizando a barbárie independentemente de a Casa Branca estar ocupada por um afro-americano democrata ou por um fascista. Nesse eterno retorno sombrio, não deixa de ser um alento que se volte a ouvir, uma vez mais, a voz única de James Baldwin. “O futuro do negro neste país”, advertiu ele em 1963, “será tão promissor ou sombrio quanto for o futuro do país.”
Atualidade
O que se entende por atualidade de um escritor é resultado de uma combinação complexa de fatores. A forma com que sua obra ilumina o presente, uma adaptação para o cinema, modismos e muito frequentemente sua própria morte podem sinalizar os caminhos tortuosos para as chamadas “redescobertas”. No caso de Baldwin, o curso cruel da história se encarregou de manter intacta uma visão pouco otimista das relações raciais e, também, a exortação a um levante permanente — fundamental nos Estados Unidos e em todos os países racistas como o Brasil.
Mais Lidas
“Ele expôs as causas profundas da violência neste país e se ainda fosse vivo teria continuado a fazê-lo, ano após ano, um levante após o outro”, escreveu Raoul Peck na The Atlantic de julho, relacionando os protestos desencadeados pelo assassinato de George Floyd com os sombrios e precisos prognósticos de Baldwin. Em Eu não sou seu negro, documentário indicado para o Oscar de 2017, o cineasta haitiano já tinha avivado a memória coletiva para a contundência das palavras do autor de Notas de um filho nativo mostrando o quanto elas ecoavam nos atos do Black Lives Matter.
O movimento, que começou em 2012, é apontado pelo biógrafo Bill V. Mullen como o marco de uma “terceira onda” do interesse por Baldwin. A primeira, lembra o autor em James Baldwin — Living in Fire (JB: vivendo em chamas), aconteceu com a típica revalorização póstuma, deflagrada em 1987 pela morte de um escritor então discreto, praticamente retirado da vida pública e literária. A segunda viria na década de 1990, quando a universidade começa a debruçar-se sobre livros como O quarto de Giovanni e Terra estranha (publicados pela Companhia das Letras), identificando nestes romances — e em sua obra em geral — princípios que fundariam os estudos de literatura e cultura queer.
O Baldwin desta terceira onda é mais o intelectual público do que o ficcionista, dramaturgo e poeta. De meados do ano passado para cá, pelo menos três livros importantes gravitam em torno de sua militância. Além do perfil biográfico assinado por Mullen e da reconstituição histórica de Buccola, Eddie S. Glaude Jr. acaba de lançar Begin Again: James Baldwin’s America and Its Urgent Lessons for Our Own (começar de novo: a América de James Baldwin e suas lições urgentes para a nossa). Num ensaio de difícil classificação, o professor de estudos afro-americanos de Princeton cruza questões contemporâneas com episódios da vida de Baldwin e seus escritos, muitos deles inéditos, garimpados nos arquivos do Schomburg Center for Research in Black Culture na Biblioteca Pública de Nova York.
Ativismo
Privilegiar o James Baldwin ativista é dar centralidade a The Fire Next Time. Lançado em 1963, o livro vendeu mais de 100 mil cópias e fez de seu autor figurinha fácil em talk shows, universidades e relatórios do FBI. Traduzido em 1967 e desde então sem novas edições por aqui, Da próxima vez, o fogo abre com um breve ensaio sobre integração racial sob forma de uma carta que Baldwin dirige a seu sobrinho, James. E segue num híbrido de autobiografia e reportagem, em que ele traça paralelos entre a influência do cristianismo sobre sua formação e os fundamentos muçulmanos da militância de Malcolm X. Homenageado em 2016 no título e no espírito da coletânea The Fire this Time — A New Generation Speaks about Race (O fogo nesse momento: uma nova geração fala sobre raça), organizada por Jesmyn Ward, o livro lança os princípios de um ensaísmo de combate único, em muito tributário da retórica incandescente dos sermões, treinada em púlpitos do Harlem quando, adolescente, Baldwin ainda cogitava ser pastor.
Por seu extraordinário talento de orador, o que Baldwin falava era, nos anos 1960, tão importante quanto o que escrevia — daí o valor do debate da Cambridge Union reconstituído em The Fire Is upon Us, de Buccola. Na sessão, transmitida pela BBC e disponível no YouTube, tanto Baldwin quanto Buckley não se fizeram de rogados em representar extremos. Um metro e setenta, magro e elétrico, Baldwin chega a Cambridge de terno, quebrando o protocolo observado por Buckley, que vestiu seu 1,85 com o smoking esperado. No jantar de congraçamento que precede o debate, cada um sentou numa ponta da mesa. Mal se falaram. Na tribuna, Baldwin consultava notas tomadas em papel de carta de hotel; Buckley não largou uma prosaica prancheta. Baldwin não economizou a expressividade de seus olhos enormes diante das invectivas de Buckley, poker face inabalável mesmo quando interpelado pelos estudantes.
A cena é complexa. Mais do que oponentes óbvios, enfrentam-se ali formas de pensar que sobrevivem no debate contemporâneo. O tempo, isso é certo, fez mais bem a Baldwin do que a Buckley — e não só porque este defende o indefensável. Recorrendo muitas vezes à primeira pessoa, Baldwin entende que a vida do negro americano é uma intersecção de fatores sociais, econômicos e culturais que se define pela raça, cruzamento esse que se evidencia em detalhes em sua experiência pessoal. O fundador e editor da National Review, bíblia do conservadorismo, recusa em bloco, como o fazem hoje tantos comentaristas, os argumentos que derivem de uma perspectiva racializada. E insiste que a discussão dos diretos deve ser “universalizada”, ou seja, mantida nos padrões de desigualdade naturalizados pela perspectiva branca.
Ao se ver como testemunha e não porta-voz, o autor politizou radicalmente sua experiência de vida
“Vou me dirigir a você sem levar em conta as proteções com que você está acostumado pelo fato de ser negro e pelo fato de sua raça ter sofrido terrivelmente nas mãos de minha raça”, fustiga Buckley em resposta a Baldwin, preocupado que está em invalidar o ponto de vista racial. Habilíssimo, tenta desapartar abismo social de segregação, ainda que soe pouco convincente ao afirmar que os valores do “sonho americano” não podem ser rejeitados em bloco pelas dificuldades de uma minoria — que segundo ele seria amplamente ouvida. Imprecando contra o que chama de “narcisismo racial”, defende que “a melhor chance” para o negro está na “mobilidade” própria da sociedade americana, devendo abandonar “o tipo de cinismo, a espécie de desespero, o tipo de iconoclastia” estimulados por Baldwin.
Em sua exposição, Baldwin evoca o “catálogo de desastres” que define a vivência do negro. Rememora “o grande choque” da criança que descobre não ser branca como o mundo à sua volta. “O solo americano está cheio dos cadáveres de meus ancestrais”, observa, para sublinhar como se perpetua a subalternidade histórica, de raízes escravocratas. Ironiza, certeiro, os fumos liberais com que Bobby Kennedy previa, “em quarenta anos”, um “presidente negro” — “estamos aqui há quatrocentos anos e agora ele nos diz que, talvez em quarenta anos, se nos portarmos bem, nos deixarão ocupar a presidência”. A conclusão não é menos dura: “Até o momento não há quase nenhuma esperança para o sonho americano, porque as pessoas a quem este sonho é interditado serão, simplesmente por existirem, responsabilizadas por seu naufrágio”.
Testemunha
Em 1984, em entrevista ao New York Times Book Review, um Baldwin melancólico revia, aos sessenta anos, sua trajetória. Ao comentar o lugar dos intelectuais negros, faz uma distinção para entender seu próprio papel. “Um porta-voz presume que possa falar por outros. Eu nunca tive essa pretensão e nem sequer supus que poderia fazer isso”, diz, reivindicando para si a função de testemunha, “testemunha de onde eu venho, de onde estou, do que vi e das possibilidades do que penso ver”. Assumir-se desta forma equivalia a politizar radicalmente sua experiência, estratégia ainda distante das formas tradicionais de ativismo. A noite em Cambridge foi decisiva até por este confronto da “testemunha” com o típico e tradicional porta-voz encarnado por Buckley, defensor dos valores abstratos de uma elite branca cultivada que, se condenava a violência da Ku Klux Klan, não atacava as bases da segregação.
A originalidade cobra seu preço. O establishment branco liberal, que em um primeiro momento o recebeu tão entusiasticamente quanto poderia suportar, iria aos poucos afastar-se por conta de sua “radicalidade” — “branco é uma metáfora para o poder, e simplesmente uma forma de descrever o Chase Manhattan Bank”, escreveria ele. No movimento negro, setores mais ortodoxos julgavam-no excessivamente integracionista e reprovavam até o uso frequente do pronome “nós” para se referir aos cidadãos americanos de qualquer cor. Eldridge Cleaver, o ministro da Informação dos Panteras Negras, chegou a explicitar a homofobia — referindo-se à sua homossexualidade como uma “doença” — que se manifestava no apelido abjeto de “Martin Luther Queen”.
Cornel West gosta de lembrar o quanto, apesar do sucesso, James Baldwin foi um intelectual impopular. “Ali estava alguém comprometido com a integridade intelectual, comprometido com uma honestidade moral que tem a força de uma contracultura”, observa ele em entrevista ao excelente podcast Open Source. “Baldwin volta trazendo esta rica tradição de uma escrita eloquente, que testemunha e comove.” Talvez, sugere West, a radicalidade de Baldwin esteja na célebre frase de abertura de Notes of a Native Son, que se confirmaria como o statement de toda uma vida: “Quero ser um homem honesto e um bom escritor”.
Matéria publicada na edição impressa #36 ago.2020 em maio de 2020.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025