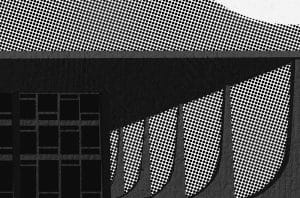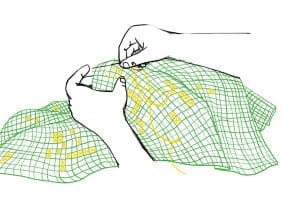Laut, Liberdade e Autoritarismo,
Os apóstolos da destruição
Antropólogo americano sustenta que a filosofia perene de Guénon, Evola e Schuon forneceu as bases ideológicas da direita populista
01mar2021Robert Rediger é o reitor de uma Sorbonne sob intervenção saudita em Submissão, sátira de Michel Houellebecq ambientada numa França governada por um primeiro-ministro muçulmano. Convertido à religião e polígamo, Rediger construiu sua trajetória acadêmica como estudioso da obra de René Guénon, um obscuro filósofo do início do século 20 que inaugurou uma linha de pensamento conhecida como perenialismo. Assim como o personagem de Houellebecq, Guénon abraçou o islamismo, mas, ao contrário de Rediger, existiu de fato.
“Sobre a rejeição ao ateísmo e ao humanismo, sobre a necessária submissão da mulher, sobre o retorno ao patriarcado: o combate deles, de todos os pontos de vista, era exatamente o mesmo. E esse combate, necessário à instauração de uma nova fase orgânica de civilização, já não podia, hoje, ser travado em nome do cristianismo”, reflete François, o narrador de Submissão, depois de digerir um escrito de Rediger sobre Guénon. “Era o islã, religião irmã, mais recente, mais simples e mais verdadeira.”
O perenialismo, ou tradicionalismo, se funda na crença de que um dia houve uma religião nuclear original, de matriz indo-europeia, que se perdeu ao longo do tempo. Essa religião — a tradição perene — teria sobrevivido em pequenos fragmentos aqui e acolá nas religiões atuais. Guénon enxergou na vertente sufista do islamismo o melhor caminho para seguir os preceitos que elaborou, mas o perenialismo em si não está associado diretamente a nenhuma religião.
“Sendo gnósticos e ocultistas, os perenialistas enxergam uma antinomia incontornável entre a religião oficial, com seus ritos formais e sua moral rígida […], e a espiritualidade superior marcada pela iluminação intelectual”, escreve João Pedro Sabino Guimarães na Época: “No entender dos homens espirituais — assim os perenialistas chamavam a si mesmos —, a religião seria uma forma superficial da vivência espiritual, concebida em benefício dos homens inferiores, incapazes de acessar o conhecimento superior”.
Em Guerra pela eternidade, o antropólogo americano Benjamin Teitelbaum investiga como o tradicionalismo, uma corrente filosófica marginalizada, circulou nas últimas décadas até tangenciar o poder nos Estados Unidos, por meio de Steve Bannon; na Rússia, através de Aleksandr Dugin; e, no Brasil — não deve ser difícil adivinhar —, por intermédio de Olavo de Carvalho.
Teitelbaum apresenta algumas das bases dessa linha de pensamento. Os tradicionalistas bebem do hinduísmo ao crer que a história é cíclica e se repete em quatro idades que se sucedem, sempre decaindo, da era do ouro à era sombria. Só um cataclismo em meio à depravação é que faria com que retornássemos a tempos grandiosos a partir de outros moldes.
Mais Lidas
Julius Evola, filósofo fascista italiano responsável por levar o legado de Guénon adiante após sua morte, em 1951, relacionou esses ciclos do tempo a castas: as idades grandiosas teriam como classes dominantes primeiro os sacerdotes, homens do espírito, depois os guerreiros; as mais decadentes, os comerciantes e, então, o fundo do poço, os escravos. A era dos escravos estaria sob a égide, tcharan, da democracia liberal e do comunismo.
Evola fez contorcionismos para encaixar raça e gênero nessa hierarquização — no topo, já se imagina quem. O tradicionalismo se apresenta assim como uma linha de pensamento etérea, sem rigor nem coerência, fundada na palavra de oráculos. A Evola se seguiu o suíço Frithjof Schuon, radicado no Meio-Oeste dos Estados Unidos e adepto de rituais extravagantes que misturavam elementos místicos do islã com símbolos da cultura indígena daquele país. E, titulado por Schuon para conduzir sua própria tariqa (confraria islâmica), Olavo de Carvalho.
Enxurrada de títulos
As editoras brasileiras recentemente lançaram uma enxurrada de títulos sobre a extrema direita: O fascismo em camisas verdes (FGV), de Leandro Pereira Gonçalves e Odilon Caldeira Neto; Fascismo à brasileira (Planeta), de Pedro Doria; Guerra cultural e retórica do ódio (Caminhos), de João Cezar de Castro Rocha; e Contra o mundo moderno (Âyiné), de Mark Sedgwick, organizador de Key Thinkers of the Radical Right, bom sumário sobre quem inspira tipos como os supremacistas brancos que invadiram o Capitólio.
Teitelbaum apresenta Guerra pela eternidade como um misto de etnografia e reportagem. Dá ao livro uma narrativa ágil, centrada em Bannon, Dugin e Olavo, porém sem economizar truques banais, à moda de certos romances de mistério. A premissa da obra é que o tradicionalismo tem relação com a ascensão da direita populista no mundo. É uma tese interessante sobretudo sob a abordagem escolhida por Teitelbaum para definir a vertente: ela é mais fácil de ser entendida por meio daquilo que rejeita do que por aquilo que defende. Uma rejeição total à modernidade, entendida como “uma fé no progresso que, no âmbito da política ocidental, tende a se manifestar em forma de apelos por maior liberdade e igualdade”.
Teitelbaum parece forçar um pouco a barra ao relacionar o tradicionalismo à ascensão da direita populista
Uma linha de pensamento que se opõe ao pilar de sistemas como a democracia liberal e o socialismo, e também da ciência moderna — da tabela periódica, da física nuclear, da lâmpada, da penicilina, da vacina. O autor ilustra a descrença no progresso técnico com uma parábola asiática, emprestada por Evola como título para seu livro Cavalgar o tigre, e da qual ele mesmo se serve para epigrafar seu Guerra pela eternidade. Nela, um homem encontra um tigre na floresta e, sem conseguir dominá-lo pela força, monta-o e não apeia até o animal ficar velho e fraco, quando então é possível estrangulá-lo. Adaptando essa imagem à pandemia, é tentador associar o ato de subjugar o “tigre da modernidade” aos movimentos antivacina: é uma omissão coletiva, não se vacinar, que pode pôr tudo a perder.
Entender certas ideias é fundamental para compreender o método de quem exerce o poder. Mas Teitelbaum parece forçar um pouco a barra ao relacionar o tradicionalismo à ascensão da direita populista. Bannon, um ator notório por não ocultar sua forma de operar, é a sua principal fonte. E, ao longo do livro, o autor mostra que o ex-estrategista de Donald Trump de fato leu e admira a obra de Guénon. O que não fica comprovado, porém, é que ela tenha sido central no projeto do americano. Pelo menos não mais do que outras ideias que negam a política, sobretudo as dos nacionalistas brancos dos EUA. Para além das entrevistas não muito conclusivas com Bannon, o nexo causal é estabelecido a partir de narrativas sobre a circulação de ideias radicais envolvendo personagens secundários.
Nem é possível estabelecer que a consolidação de Olavo e Dugin como personagens políticos influentes no Brasil e na Rússia tenha sido obra unicamente de sua formação tradicionalista, muito mais acentuada do que em Bannon. No caso do brasileiro, ela é particularmente notada na sua agenda de destruição — que compartilha com o bolsonarismo — e nos mecanismos que movem sua relação com seus discípulos, que seguem a lógica esotérica de seita. No caso do russo, nem sua ascendência sobre Vladimir Putin é consensual, nem o aspecto metafísico de seus escritos disparatados é central para ele ter obtido um lugar na máquina pública do país, fruto de sua defesa geopolítica do eurasianismo, que rejeita a égide do liberalismo dos EUA e da União Europeia sobre o Leste Europeu e a Ásia Central.
E é justamente um encontro entre Bannon e Dugin em 2018 que Teitelbaum usa, no capítulo inicial do livro, como gatilho para justificar o tradicionalismo como conexão entre um nacionalista branco americano e um neofascista russo antiamericano. Mas, seja pelo oportunismo dos dois em se alçar localmente, seja pela incoerência do tradicionalismo como linha de pensamento, a premissa central de Guerra pela eternidade se enfraquece.
Mas Teitelbaum é competente em sistematizar historicamente a circulação dessas ideias negacionistas e faz um trabalho de grande utilidade ao clarear o ambiente para aqueles que, como eu, vivem em estado de constante espanto com os contornos delirantes do debate político atual. No fim das contas, o que o tradicionalismo tem a oferecer é uma compreensão esquemática e racista do mundo, facilmente adaptável a teorias conspiratórias em tempos de incerteza.
Editoria especial em parceria com o Laut
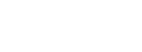
O LAUT – Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo realiza desde 2020, em parceria com a Quatro Cinco Um, uma cobertura especial de livros sobre ameaças à democracia e aos direitos humanos.
Porque você leu Laut | Liberdade e Autoritarismo
As razões do protagonismo
Jornalista investiga como o STF foi de discreto colaborador do Executivo nos anos 90 a ator político acostumado aos holofotes
ABRIL, 2024