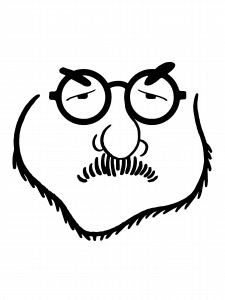Literatura,
A arte de se perder
O anúncio de Elizabeth Bishop como autora homenageada pela Flip 2020 disparou a fúria lacradora
05dez2019Na semana em que o bolsonarismo completou as nomeações de seus lugares-tenente na cultura, só se falou em outra coisa. O anúncio de Elizabeth Bishop como autora homenageada pela Flip 2020 no último dia 25 disparou a fúria lacradora nas redes e fora delas. Para os detratores do momento, Bishop não passava de uma gringa colonialista e reaça que espalhou o sal da maledicência e do preconceito sobre a terra que a acolheu. A Flip, que em comunicado diz estar atenta aos protestos, minimizou o que possa representar, no debate público deste momento político, as simpatias de Bishop pelo golpe civil-militar de 1964, inspiração recorrente do governo de extrema-direita que vem destruindo laboriosamente a democracia.
Se nem Bishop nem a Flip precisam de defesa, o bolsonarismo precisa de ataque — mas naquela malfadada semana, o mais importante era lacrar. Dois dias depois do anúncio da festa de Paraty, um cidadão que se autodenomina “negro de direita” foi indicado para a Fundação Palmares, para onde levaria conceitos como “racismo nutella” e imprimiria a uma política de Estado sua “vergonha e asco” pela “negrada militante”. A nomeação está temporariamente suspensa, mas também naquela semana a Funarte passou a ser comandada por um maestro (sic) terraplanista que explica os nexos entre rock e aborto, Beatles e comunismo. Na presidência da Biblioteca Nacional aterrissou um polímata (sic) monarquista que é especialista no pensamento (sic) de um cartomante da Virginia. E, é claro, também adepto do terrachatismo.
Todos estes insignes personagens declararam e declaram sua peculiar visão de mundo publicamente, à imprensa ou nas redes. Mas naquela semana o mais importante era o que Bishop segredou a Robert Lowell e outros amigos em cartas publicadas 31 anos depois de sua morte. Fiquei me perguntando se muitos dos indignados com Bishop — pelos fuxicos e pelo apoio ao golpe — sobreviveriam à divulgação, sem censura, de seus e-mails e zaps em que tecem comentários sobre os “colegas” escritores, os resultados de prêmios literários e os críticos. Ou sobre as jornadas de junho de 2013, o golpe (ou impeachement) que derrubou Dilma — ou ainda sobre o voto “consciente” e “independente” no primeiro turno de 2018.
Em seu 18º ano, a Flip tentou inovar na tradição que ela mesma criou. Mas o fez pela metade, quebrando só parcialmente a regra que estabelecia como aptos para a “homenagem” escritoras e escritores brasileiros mortos. Digo em parte porque, a meu ver, na raiz da tempestade detonada pela escolha de Bishop está um equívoco mais profundo, a própria ideia de um “autor homenageado”.
Mais Lidas
Quando se planejava a primeira edição da festa – eu estava lá, na curadoria de Flávio Pinheiro –, Liz Calder, uma das idealizadoras da Flip, entendia que o evento deveria por em destaque um autor brasileiro para suscitar o interesse dos muitos estrangeiros que, apostava ela, corretamente, viriam todos anos ao Brasil. A escolha de Vinicius de Moraes no primeiro ano refletia essa preocupação: conhecido internacionalmente como letrista e ignorado como poeta, poderia interessar aos autores, agentes e editores que, de fato, passaram a frequentar Paraty. Por diversos motivos e injunções, de 2003 para cá a literatura brasileira, sobretudo a contemporânea, passou a ser muito mais traduzida e divulgada. Pouco a pouco, da homenagem sobrou apenas o que tem de pior esse tipo de escolha, o espírito de panteão, de reverenciar os “grandes nomes” de “nossa literatura” – ou, num movimento contrário, tentar “transgredir” esse cânone, o que não afeta sua centralidade.
Na melhor das hipóteses, este tipo de homenagem póstuma pode suscitar a reedição de livros esgotados. Na pior e mais comum, louva-se provincianamente os “grandes talentos” de nosso torrão natal e ponto. Escritor precisa, antes de mais nada, de leitor. De elogios, só enquanto vivo, de preferência na forma de prêmios que contemplem seu valor artístico e, também, lhe favoreçam materialmente – por valores concedidos ou incremento nas vendas. Jabuti ou Booker, Goncourt ou Nobel, os prêmios, com suas injustiças e acertos e escalas diferentes, são parte de uma vida literária pulsante. Já a homenagem póstuma costuma ser mais importante para quem homenageia do que para o homenageado.
É só olhar para trás e ver que, com a possível exceção de Hilda Hilst, autora conservadora que foi louvada como transgressora, nenhum dos homenageados teve sua posteridade significativamente alterada pela Flip. Rosa, Clarice, Graciliano, Oswald, Drummond, Mário, Bandeira, Lima Barreto e Machado continuaram a ser quem sempre foram, “os grandes nomes” – como continuariam a sê-lo, se escolhidos, Cecília Meirelles ou João Cabral de Melo Neto. Ana Cristina Cesar manteve-se incensada pelos incensadores e detonada pelos detonadores de sempre. Gilberto Freyre seguiu como o reacionário “controverso”, categoria em que também se encaixa Euclides da Cunha. Nelson Rodrigues manteve-se como o reaça espirituoso e Millôr Fernandes não deixou de ser o peixe fora d’água, então desprezado por críticos acerbos por “não ser escritor”.
Para que serve, então, esta homenagem? Para reforçar os piores vícios de nossa vida literária: patriotada, cerimonialismo, profissão de fé na literatura como instância superior da criação artística, tradução de um povo. E, é claro, um esporte em que todos os anos o circo romano redivivo das redes ergue ou abaixa os polegares diante do nome do escolhido.
Porque você leu Literatura
O ruído do passado desvelado
À procura da alma de um país, Juan Gabriel Vásquez compõe retrato fascinante de como a política invade a vida privada dos colombianos
JULHO, 2025