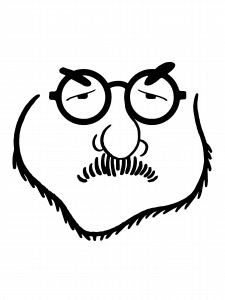Crítica Cultural,
Vida de escritor
Irresistíveis para gerações de leitores, os relatos biográficos de grandes criadores os aproximam de nossa prosaica existência
29set2021 | Edição #50Foi na trepidação dos anos 60, quando a cada semana acabava um mundo, que o Escritor, com maiúscula, partiu desta para melhor. O óbito, lavrado por Roland Barthes em “A morte do autor”, despertou efusivas comemorações e infindáveis teses. O soberano absoluto do “império do Autor”, invenção moderna que o capitalismo levara às últimas consequências, finalmente estava nu, ou melhor, inerte como o papagaio do Monty Python. O texto, elevado à condição de protagonista dos estudos literários, deixava de ser mera expressão de subjetividades, contraprova de biografia, reflexo da vida. “Sabemos agora”, escreveu Barthes em 1967, como se comunicasse uma descoberta científica, “que um texto não é feito de uma linha de palavras, libertando um sentido único, de certo modo teológico (que seria a ‘mensagem’ do Autor-Deus), mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escrituras variadas, das quais nenhuma é original: o texto é um tecido de citações, saídas dos mil focos da cultura”.
Certeiro ao dar cabo das associações diretas e apressadas entre vida e obra, o influente ensaio não seria, no entanto, suficiente — nem isso se pretendia — para dissipar as fantasias de quem lê sobre a vida de quem escreve. Como seria realmente Machado de Assis, trocando de bonde no Largo do Machado, vindo do Centro do Rio a caminho de casa, no Cosme Velho? O que bebia e que caderno usava Georges Perec, sentado a uma mesa do Café de la Mairie tomando notas para Tentativa de esgotamento de um local parisiense? Duvido que o mais impenitente dos estruturalistas tenha um dia conseguido varrer da cabeça esse tipo de especulação, inútil e irresistível. É essa disposição que explica o fascínio por relatos que restituem a precariedade terrena de gente que, com a mediação dos livros, nos parece inacessível.
#
“Flaubert, que esteve verborrágico a noite toda, ainda mais que de hábito, afirmou não ser o coito absolutamente necessário à saúde do organismo, tratando-se de uma necessidade imaginária”, anotam Jules e Edmond de Goncourt no copioso diário que lhes garantiu uma duvidosa glória póstuma. Abastados e medíocres, os irmãos escritores tiveram a má sorte de ser contemporâneos de Baudelaire e Flaubert, Hugo e Mallarmé, Verlaine e Gautier. Vingaram-se de sua irrelevância literária em 4.500 páginas de puro veneno e indiscrição. Definido por Geoff Dyer como um “vasto arquivo de ansiedade e ambições frustradas”, o testemunho dos Goncourt — eternizados finalmente pelo cobiçado prêmio literário que leva seu sobrenome — ganha uma suculenta amostra em português selecionada, traduzida e anotada por Jorge Bastos em Diário: memórias da vida literária (Carambaia).
É sem dúvida fascinante imaginar Baudelaire, entrevisto pela porta propositalmente aberta de seu quarto de hotel, “dando aos que passam o espetáculo de si próprio no trabalho, o exercício do gênio, com as mãos esmiuçando o pensamento entre os cabelos desgrenhados”. Ou ainda flagrar Rodin “levantando-se às sete horas, entrando no ateliê às oito e indo até a noite, interrompendo o trabalho apenas para o almoço. Está sempre de pé ou pendurado numa escada. Vai para a cama esgotado, depois de uma hora de leitura”. Convidada de um jantar na casa de Julia e Alphonse Daudet, Camille Claudel ganha vivacidade incomum: “vestia um colete bordado com grandes flores japonesas. Tem feições infantis, belos olhos e conversa bem original, com uma brusquidão de camponesa”.
A existência miserável, falha e acidentada é o que no fundo pode nos aproximar dos gigantes
Mais Lidas
A indiscutível importância do registro histórico e o inebriante perfume da fofoca — “decididamente, nunca se deve servir uma sopa e um frango com trufas a amigos escritores. São intratáveis, mesmo de boca cheia” — ajudam a entender, mas não explicam inteiramente, o encanto de perfis cujas tintas fortes dizem mais dos Goncourt do que de suas vítimas. A mim parece que Victor Hugo solitário num bordel — “as moças acharam se tratar de ‘um jovem oficial com blenorragia’” — ou Verlaine insultado por Rimbaud — “que ele se satisfaça comigo, tudo bem! Mas o contrário não acontece. Ele é sujo e tem uma pele nojenta!” — dão a ver a gerações de leitores que a existência miserável, falha e acidentada é o que no fundo pode nos aproximar dos gigantes.
#
Roland Barthes está em frente ao número 44 da Rue Hamelin. Uma placa comemorativa confirma o último endereço de Marcel Proust onde, naquele 1978, funcionava um hotel. Acompanhado por Jean Montalbetti, da France Culture, ele grava um programa especial da série Um homem, uma cidade, rastreando em Paris e Illiers a Combray de Em busca do tempo perdido, os passos do escritor que tanto admira. O gerente do hotel diz que Proust morou no quinto andar, mas do apartamento original não resta nada, ainda que todos que lá viveram tenham dito: “Morei no quarto de Proust, dormi na cama de Proust”. Com bom humor e melancolia, o arauto da morte do autor praticava em público o que ele mesmo chamou de “marcelismo”, o culto ao que há de documental e autobiográfico no universo proustiano.
A transcrição do programa foi publicada pela primeira vez em Marcel Proust: Mélanges (Seuil). Lançado no final de 2020, o livro reúne ainda os cinco textos que Barthes dedicou ao autor de Contra Sainte-Beuve, trechos de cursos inéditos e inacabados e até uma seleção das famosas fichas de anotações que manteve ao longo da vida. A miscelânea chegou às livrarias de olho numa efeméride do “marcelismo” — o 150º aniversário de nascimento de Proust, comemorado neste ano —, mas também celebra o cada vez mais difundido “rolandismo”. A expressão é de Tiphaine Samoyault em seu monumental Roland Barthes, biografia que saiu na França em 2015, no centenário de nascimento do biografado, e que agora é traduzida pela editora 34.
A posteridade fez de Barthes, morto aos 64 anos em 1980, um personagem maior do que se poderia esperar de um professor e crítico — além dessa biografia, a terceira que lhe é dedicada, ele é protagonista de memórias de discípulos e amigos, narrativas indiscretas e até de ficção, o impagável Quem matou Roland Barthes?, de Laurent Binet. É por esse emaranhado de relatos e imagens que Samoyault conduz, com mão firme, 608 páginas de equilíbrio delicado entre pesquisa e análise, uso inteligente de arquivos e testemunhos, anedotas e ideias, vida vivida e vida pensada. Os caminhos de leitura são tão variados quanto os interesses de Barthes — dentre eles, chama a atenção a reflexão sobre o dado biográfico levada a fundo no Roland Barthes por Roland Barthes (1975).
É outro Barthes e ao mesmo tempo o mesmo de “A morte do autor”, que, nos últimos anos, se torna cada vez mais pessoal, cogitando inclusive uma mudança radical do ensaísmo para o “romance” — assim ele definia o plano lacônico de Vita Nova, projeto jamais realizado que poderia incluir diversos tipos de escrita, “uma súmula mesmo romanesca” em que o autobiográfico tinha papel fundamental. Num capítulo provocador, que disseca as relações com Foucault, Samoyault especula se o papel fundamental de um e outro como intelectuais públicos não estaria na raiz do fascínio que despertam, “como se compreender a vida pudesse dar acesso ao pensamento”. Mais de cinquenta anos depois de sua morte, o autor passa bem, obrigado.
#
A trajetória intelectual e afetiva de Leyla Perrone-Moisés é inseparável da literatura francesa. A jovem aluna de pintura de Samson Flexor começou carreira na crítica em 1961, substituindo Brito Broca no “Suplemento Literário” do Estadão. Como titular da coluna “Letras Francesas”, afinou o texto no diapasão da clareza que jamais abandonaria. Na universidade, navegou menos nas águas tranquilas dos clássicos do que na tormenta do nouveau roman e da desconstrução. Como poucos críticos, tornou-se interlocutora e por vezes amiga de autores que, a princípio, seriam apenas “objetos”. Em Vivos na memória (Companhia das Letras), mistura reflexão e memória para falar de Jacques Derrida e Benedito Nunes, Waly Salomão e Claude Simon, Michel Butor e Osman Lins e, com destaque, Barthes — a quem dedicou um livro (Com Roland Barthes), ensaios, traduções e amizade. Não por acaso, Leyla consta entre os entrevistados de Tiphaine Samoyault.
Se livros como Altas literaturas (1998) e Mutações da literatura no século 21 (2016) unem densidade e expressão cristalina, Vivos na memória revela Leyla como uma irresistível contadora de histórias, com olho literário para o detalhe revelador. Ao lembrar Julio Cortázar, por exemplo, nos faz saber que em seu apartamento parisiense tinha lugar de destaque um pôster em que Snoopy datilografa: “Era una noche oscura y tormentosa…”. Às vezes a literatura nem sequer tem vez, como na visita a Alice Ruiz e Paulo Leminski em Curitiba, encontro dominado pela memória de Miguel, filho que o casal perdera: “Embora já pacificada, era uma dor tão grande que ocupava a casa toda”.
A posteridade fez de Barthes um personagem maior do que se poderia esperar de um professor e crítico
É marcante a imagem de um Barthes perplexo com o entusiasmo loquaz de Haroldo de Campos no fundo de um café “com banquetas de veludo bordô e espelhos embaçados”. “Eu sou muito limitado em matéria linguística”, desculpou-se o semiólogo, “não conheço, como você, todas essas literaturas no original.” A observação era sincera e, depois de mais de uma hora de conversa, Barthes se rende, despedindo-se do poeta com “dois sonoros beijos nas bochechas”. Haroldo, aliás, é protagonista das páginas mais divertidas de Vivos na memória, um périplo entre Paris, Milão e Londres que tem como coadjuvantes Umberto Eco, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Mais não conto para não dar spoiler e resumir com pouca graça peripécias que dão nuances inesperadas ao poeta de Galáxias.
Para definir Vivos na memória, Leyla pega emprestada de Barthes a ideia de “biografemas”, que ele definiu como a atenção “a alguns pormenores, a alguns gostos, a algumas inflexões” e ela traduz, na prática, como “traços e gestos de pessoas, lembradas não apenas como personalidades dignas de biografia, mas como indivíduos extraordinários no cotidiano”. Ao narrar os outros, Leyla Perrone-Moisés narra a si mesma; ao compartilhar situações, compartilha ideias. Nos autores que valem a pena, é decididamente impossível separar o vivido do pensado.
Matéria publicada na edição impressa #50 em outubro de 2021.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025