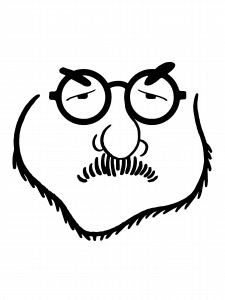Crítica Cultural,
Os ardis da unanimidade
Construído com coraçõezinhos e polegares em riste, o sucesso de ‘Torto arado’ traz o risco da fofura tóxica
25mar2021 | Edição #44Ao que tudo indica, coraçõezinhos e polegares erguidos em aprovação estão embotando — ou pelo menos inibindo — o debate sobre literatura. Foram os likes, afinal, que pavimentaram o sucesso de Torto arado entre um lançamento discreto, em agosto de 2019, até a unanimidade festiva dos últimos meses. Ainda que revelado por um prêmio, o Leya de 2018, e que tenha ganhado outros dois em 2020 — o Jabuti de melhor “romance literário” e o Oceanos —, o livro de Itamar Vieira Junior não deve seu sucesso a jurados ou críticos, mas ao irresistível boca a boca: até finais de fevereiro, uma reportagem de João Batista Jr. na revista Piauí explicava como os algoritmos tinham levado a história de Bibiana e Belonísia a vender 70 mil cópias. Em meados de março, Bolívar Torres registrou, no Globo, a marca dos 100 mil.
É natural que fenômenos gerem discussões críticas e espera-se que essas discussões não chovam no molhado, contemplem o contraditório. Eis que, no auge da celebração, turbinada por uma entrevista do autor no Roda viva, duas intervenções sinalizaram, de formas diferentes, uma espécie de interdição da divergência. Ambas lembram que a dissonância não é exatamente apreciada em nossa vida literária e que, no clima opressivo de um governo de extrema direita como o atual, a crítica contrária a um senso comum de bem-estar tenha virado confissão de má-fé.
Em 17 de fevereiro, o Página Cinco, blog do UOL dedicado à literatura e ao mercado editorial, publica uma curiosa defesa da unanimidade como princípio de correção intelectual. Dois dias depois do Roda viva, Rodrigo Casarin, que escreve no blog, acusa sem nomear “azedinhos” que “arrumam um jeito de ficar de biquinho e nhenhenhém” com o sucesso de Torto arado. Num libelo contra críticos que nunca identifica, denuncia uma suposta tendência a “trilhar o caminho cômodo (e um tanto covarde) que é falar e escrever a respeito do que já foi estudado, interpretado e legitimado por certas instâncias”.
Entre uma e outra imprecação contra os sujeitos ocultos que “menosprezam” o romance, supostamente até sem lê-lo, Casarin chega a uma conclusão espantosa: “Incompreensível que pessoas que trabalham com literatura torçam o nariz para o sucesso de Itamar. Num raríssimo momento em que um escritor brasileiro ganha projeção graças ao livro escrito, não por qualquer fator extraliterário, e, de alguma forma, consegue chamar a atenção de um público mais amplo para a boa literatura que vem sendo produzida no país, há quem tente fingir ceticismo para disfarçar o ressentimento”.
Divergir parece fácil, mas não é. Ser criticado é duro. Mas não conheço melhor exercício intelectual
Mais Lidas
Seis dias depois, no The Intercept, a jornalista Fabiana Moraes responde publicamente a uma mensagem privada de Itamar Vieira Junior com um texto longo e complexo. “Ter medo de que, Fabiana?: uma reflexão sobre minha avó, Torto arado e uma língua apunhalada” costura a vivência da autora com uma reflexão funda sobre racismo, literatura e a recente projeção de autoras e autores negros no mercado brasileiro. Moraes parte do pessoal e singular para uma reflexão geral em diálogo com bell hooks e a partir de um fato que deveria ser banal, um tuíte que publicou como uma anotação de leitura: “Torto arado é um bom livro, mas: boa parte do entusiasmo vem do mercado editorial sublinhando obra que apazigua a má consciência branca (lembrando aqui Allan da Rosa/Baldwin). Excesso de didatismo incomoda. Às vezes parece aula pra pele clara entender”.
O argumento, que dá panos para manga, não agradou a Itamar Vieira Junior. “Ele sugere que sou racista — afirma que eu preferiria que um homem branco estivesse no lugar de sucesso dele”, escreve ela, resumindo uma mensagem que o escritor lhe enviou. O recado do autor se desenvolve num argumento de autoridade: “Me entristece, Itamar, quando você me escreve que a crítica é livre, mas depois emenda dizendo que, apesar da minha opinião, seu livro ganhou três prêmios importantes, dois internacionais, e passou pela leitura de dezessete jurados diferentes”. O protesto do escritor vai mais longe: “Tua mensagem segue e termina dizendo que as coisas estão mudando, e pessoas negras estão podendo mostrar sua arte, apesar de gente que torce pelo contrário, como eu”.
Divergências
Em que pesem as abismais diferenças de complexidade, as intervenções de Rodrigo Casarin e de Fabiana Moraes levantam, sem sentidos opostos, duas boas questões. Casarin defende um anacronismo, o da “literatura brasileira” como totalidade, tão improvável quanto qualquer ideia de literatura nacional — Torto arado seria um farol para “a boa literatura que vem sendo produzida no país”. Para Moraes, o entusiasmo pela autoria negra deve ser temperado: “Chamo a atenção, no entanto, desse mercado para dizer: nós não somos um hype. Chamo ainda atenção para que todas e todos nós, pretos, fiquemos atentos e não deixemos, novamente, a narrativa da boa ação branca ‘nos salvar’”.
A ideia de divergência, que é estranha a Casarin, parece ofender o próprio Vieira Junior. Para o jornalista, o sucesso de Torto arado não se deve a “qualquer fator extraliterário”, revelando assim uma idealização de que a literatura é boa “em si” e minimizando ou ignorando que a trama de Torto arado se confunde com a melhor e mais necessária pauta política brasileira — o que está longe de ser defeito e também não é qualidade em si. Já para o escritor, o carimbo dos prêmios desqualifica as ressalvas de Fabiana Moraes, que estaria torpedeando a importância política de seu livro como afirmação de um escritor negro.
Somadas, essas duas posições resultam num diagnóstico abstruso: o êxito de Torto arado é bom para a literatura brasileira como um todo, beneficia todos os escritores brasileiros e é decisivo para autoras e autores negros num país racista. Eventuais restrições ao romance revelariam, portanto, restrições à literatura como expressão emancipadora do país e, também, à diversidade dessa expressão.
Se tal ideia não proíbe ninguém de escrever o que quer que seja, tampouco convida a uma conversa, que é a dinâmica própria da crítica que interessa e vale a pena. Some-se a isso a dinâmica da razão lacradora — que é parte do jogo — e temos um solo fértil para superlativos e seus primos-irmãos, os lugares-comuns. E tome gente emocionada, empatia, ancestralidade, resiliência, empoderamento e superação em busca de um “clássico imediato”. Desbastando-se a touceira de clichês, pode-se ver na raiz dela manifestações de emoção do leitor, o que nada tem a ver com crítica.
É bem conhecida a expressão que a escritora e crítica literária Elizabeth Hardwick (1916-2007) usou, na década de 1950, para definir a crítica: “o drama da opinião”. Vivo repetindo-a em conversas públicas e em textos porque ela define muito bem o que deveríamos experimentar: um diálogo cerrado em que réplicas e tréplicas, ao sabor de argumentos ponderados ou hipérboles, marcadas pelo equilíbrio ou por eventuais injustiças, sejam apenas tomadas pelo que de fato são: momentos no drama da opinião. Divergir parece fácil, mas não é. Ser criticado, todos sabemos, é duro. Mas não conheço melhor exercício intelectual, prática essencial num momento nublado pelo autoritarismo e também pela fofura tóxica dos coraçõezinhos e dos polegares em riste.
Matéria publicada na edição impressa #44 em abril de 2021.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025