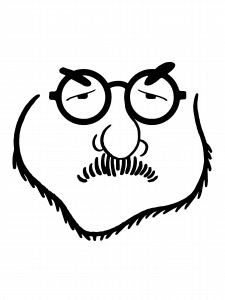Crítica Cultural,
Complôs contra a liberdade
Em um experimento que ilumina nossos dias, adaptação de romance de Philip Roth pela HBO investiga a ação de ideias fascistas sobre gente comum
28maio2020 | Edição #34 jun.2020Em 2004, Complô contra a América, de Philip Roth, foi recebido por leitores e parte da crítica americana como um comentário à Era Bush, tempo de guerra e patriotadas sob o trauma do Onze de setembro. Citado como exemplo de “história alternativa”, embora mais complexo do que o rótulo possa supor, o romance se passa no início da Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos aliados à Alemanha depois que Charles Lindbergh, herói da aviação e antissemita de quatro costados, vence Franklin Roosevelt nas eleições de 1940. “Isso seria um erro. Não foi meu objetivo ser metafórico ou alegórico”, escreveu Roth num ensaio estupendo sobre os bastidores do livro. Apesar da ressalva, ele observava que desde sempre a literatura é manipulável a despeito das intenções do autor, lembrando como Kafka foi usado para fustigar a ditadura comunista por mais de uma geração de escritores tchecos.
No mesmo texto, Roth temperava os próprios argumentos com doses nem tão discretas de ambiguidade: “E agora Aristófanes, o palhaço que com toda certeza deve ser Deus, nos deu George W. Bush, um homem que não serve para administrar nem uma loja, quanto mais uma nação como esta, um homem que, para mim, só confirma a máxima que faz parte da escrita de todos esses livros e que faz nossas vidas, como americanos, serem tão precárias quanto as de quaisquer outros: todas as certezas são provisórias, mesmo aqui, numa democracia de duzentos anos. Mesmo sendo americanos livres, fomos emboscados, pela imprevisibilidade da história, numa poderosa república armada até os dentes”.
Meses antes de morrer, em 2018, Roth recebeu em casa David Simon. A proposta de adaptação de Complô contra a América para uma série televisiva tinha como objetivo claro mais uma dessas “manipulações”: o roteirista e produtor de The Wire — e seu parceiro Ed Burns — via na história de uma família de judeus de Nova Jersey um paralelo claro com o que boa parte do país vivia sob o governo de Donald Trump. Ao lendário repórter Charles McGrath, Roth disse em sua última entrevista que, depois da conversa, teve certeza de que o romance estava “em boas mãos”.
O roteirista via na história de Roth um paralelo claro com o que o país vivia sob o governo de Trump
A Simon pediu apenas que trocasse o sobrenome dos personagens que conduzem o pesadelo fascista a partir de um subúrbio de Newark. No livro, Herman, Bess e os filhos, Sandy e Philip, decalcados nos Roth, usam o nome real da família, numa comovente homenagem do escritor à integridade dos pais. Devidamente rebatizado como “Levin”, o casal — ele um antifascista inflamado, ela uma mãe delicada e decidida — luta pelos seus, por toda a comunidade e por uma ideia de democracia que até então consideravam inatacável.
Mais Lidas
Complô contra a América ganha hoje uma nova vida, ainda mais impressionante, num mundo em que, ao norte e ao sul, a escumalha de extrema direita rói pelas entranhas os princípios democráticos. Roth não “previu” nada — só o clichê transforma escritores em profetas —, mas flagrou a escalada do autoritarismo de um ponto de vista que transcende épocas e latitudes: o de gente comum que, em detalhes a princípio imperceptíveis, vai sendo engolfada em intolerância e preconceito. A HBO levou ao ar o primeiro dos seis capítulos da série em março, quando Trump ainda tentava enfrentar a pandemia do coronavírus na base de fake news e teorias de conspiração, inspirando e orientando seu mais ardoroso fã abaixo do equador. Definitivamente, o noticiário de 2020 faz com que Complô contra a América pareça um filme de Frank Capra.
Nos domínios estritos da ficção, outro fascista já tinha ocupado a Casa Branca. Berzelius Windrip, senador democrata, derrotou Franklin Roosevelt (ele de novo) na convenção de seu partido e bateu seu oponente republicano nas eleições de 1936. Exaltava tradição e patriotismo, prometia a volta aos grandes ideais americanos, via o Congresso como um obstáculo a ser eliminado e perseguia seus inimigos políticos — tudo sob aplauso de seus fiéis eleitores. Windrip saiu da imaginação de Sinclair Lewis em Não vai acontecer aqui (It Can’t Happen Here, no original), romance que foi best-seller em 1935 por especular, baseado no que se lia todos os dias na imprensa, qual seria a cara do país se seguisse os passos da Alemanha e da Itália. Primeiro escritor americano a ganhar o Nobel, em 1930, Lewis plasmou uma preocupação nada infundada, tanto pelos movimentos de Hitler e Mussolini quanto pelo comportamento de gente como William Randolph Hearst, o magnata modelo para Cidadão Kane, que, no ano de lançamento de Não vai acontecer aqui, apelava a seus concidadãos: “Quando ouvirem um proeminente americano ser chamado de ‘fascista’, tenha em mente que o homem é simplesmente um cidadão leal, partidário do americanismo”.
A raiva contra o ódio
Apesar de lidar com dados históricos acurados e também jogar com os limites da verossimilhança, a distopia de Lewis está mais próxima da sátira e não seria uma referência para Complô contra a América — assim como não o foi 1984, um dos grandes clássicos do gênero, publicado em 1948. “Orwell pressupõe uma catástrofe histórica gigantesca, que torna o seu mundo irreconhecível”, escreveu Roth. “Visto que meu talento não é criar eventos numa escala orwelliana, imaginei, em vez disso, algo muito mais reduzido, pequeno e direto o suficiente para, espero, ser crível.”
Ucronia
A julgar pelo próprio autor, a criação de Complô contra a América foi tortuosa. À Claudia Roth Pierpont, autora do chapa branca Roth libertado — O escritor e seus livros, disse que jamais quis escrever um romance “com judeus sentados em volta da mesa da cozinha reclamando de antissemitismo” por razões tão particulares quanto irrefutáveis: “É exatamente o tipo de livro que, tempos atrás, os rabinos queriam que eu escrevesse”. Mas, ao buscar definir o resultado final de mais de três anos de pesquisa e escrita, ele é bem preciso: “Orwell imaginou uma grande mudança no futuro com horrendas consequências para todo mundo; eu imaginei a mudança no passado em escala muito mais reduzida, suscitando o horror.
para um número relativamente menor de pessoas. Ele imaginou uma distopia, eu imaginei uma ucronia”. Em geral ligada ao universo da ficção científica e à criação de realidades “alternativas”, a ucronia define a reescrita da história que, a partir de uma intervenção especulativa, segue rumos diversos do conhecido. Pela mão de Roth, isso só ocorre em parte: a ação é meticulosamente delimitada entre junho de 1940 e outubro de 1942. Quando o romance termina, os fatos voltam aos trilhos tais quais os conhecemos. Complô contra a América é, portanto, um interregno no curso da história, como se fosse um experimento social que investigasse a ação de ideias fascistas sobre gente comum. Um experimento que, diga-se, ilumina nossos dias.
Humilde e durango, Herman, o pai, é o cidadão de valores sólidos, que se recusa a migrar para o Canadá, como seus amigos judeus, e facilitar o trabalho de depuração racial imposto por Lindbergh; Bess, a mãe, até abriria mão do país em que nasceu pela segurança da família, mas é chamada a resistir com o marido; Sandy, o filho mais velho, é, aos treze anos, compreensivelmente fascinado pelo herói da aviação e, para desgosto dos pais, torna-se um garoto-propaganda dos programas de “absorção” dos judeus pela sociedade americana; Evelyn, a irmã de Bess, é politicamente inepta, solitária e arrivista, deixando-se seduzir por Lionel Bengelsdorf, o rabino culto e ambicioso que se torna próximo do presidente para limpar sua barra com a comunidade; Alvin, sobrinho de Herman, é o típico rebelde desorientado e perde uma perna no front depois de alistar-se no Exército canadense com o vago objetivo de “matar nazistas”. Essa coreografia tensa e tristíssima é assistida com um misto de incredulidade e temor por Philip, o menino de sete anos que como nós, leitores e espectadores, registra, desolado, a lenta aceitação do inaceitável na vida de sua família.
“‘Pois o que é a história?’ era a pergunta retórica que ele fazia quando assumia seu tom professoral na hora do jantar”, diz o narrador ao lembrar uma das preleções de Herman, que se alimenta compulsivamente do noticiário e de editoriais antifascistas na tentativa da alertar a própria família sobre o que está em curso. “‘A história é tudo que acontece em todos os lugares. Até mesmo aqui em Newark. Até mesmo aqui na Summit Avenue. Até mesmo o que acontece nesta casa com um homem comum — isso vai virar história um dia’.”
A mentira acima de todos
Se o Lindbergh presidente não pode ser comparado com Hitler do ponto de vista prático — a repressão aos judeus desencadeada por ele é insidiosa, mas, efetivamente, menos sangrenta —, sua simples presença no poder estimula atitudes que em outro contexto dificilmente seriam toleradas. Logo depois da posse de Lindy, por exemplo, um hotel de Washington se dá o direito de expulsar os Levin sem qualquer justificativa. Nos arredores de Newark, vândalos cobrem de suásticas as lápides de um cemitério judaico. Num caso e no outro, a polícia tem atuação burocrática e deliberadamente desinteressada.
O que liga os Estados Unidos imaginados de Philip Roth ao país real de hoje é o pânico
Na já citada entrevista de 2018, Roth dizia que uma eleição de Lindbergh, apesar de catastrófica, seria pelo menos compreensível por conta do apelo pessoal do aviador, herói tão ao gosto da mitologia americana, o homem que cruzou o Atlântico num voo solitário de mais de trinta horas. Mais difícil de explicar, segundo ele, foi a escolha de Trump, “uma fraude robusta” com pouco mais a oferecer do que “a ideologia oca de um megalomaníaco”. Um ano antes, provocado pela escritora Judith Thurman a comparar seu exercício de ucronia com o momento político americano, Roth já tinha dito, numa troca de e-mails publicada pela New Yorker: “Eu achava preocupante ser um cidadão nos governos de Richard Nixon e George W. Bush. Mas tudo o que eu possa dizer sobre as limitações de caráter ou de intelecto dos dois não seria nada perto do empobrecimento humano de Trump: ignorante do que é governo, história, ciência, filosofia e arte, incapaz de expressar ou reconhecer qualquer sutileza ou nuance, destituído de toda decência e brandindo um vocabulário de 77 palavras que poderia ser mais bem definido como idiotês do que inglês”.
O que liga os Estados Unidos imaginados de Philip Roth ao país real de hoje e a seus epígonos, ainda mais patéticos, é o pânico, o “medo perpétuo” então infligido a tantas famílias como os Roth. E hoje a todos nós. “Sobre como Trump nos ameaça”, escreveu Roth a Thurman, “eu diria que, como as famílias ansiosas e amedrontadas de meu livro, o mais terrível é que ele faz com que tudo pareça possível, incluindo, é claro, uma catástrofe nuclear.”
Nota do editor
O colunista escreve quinzenalmente na revista dos livros. A próxima coluna sai na quinta (11/6), no site quatrocincoum.com.br.
Matéria publicada na edição impressa #34 jun.2020 em maio de 2020.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025