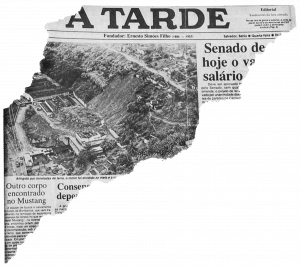Amazônia, Meio ambiente,
Arqueologia do desastre
Há 50 anos, a ditadura promovia a invasão predatória da Amazônia, marcada por rodovias, projetos megalômanos e propaganda ufanista
01set2020 | Edição #37 set.2020Criança curiosa, encontrei, há trinta anos, no armário da casa de minha avó materna, um exemplar da Manchete — Edição especial Brasil 1970. Ao folhear a revista, deparei com uma cena que me marcaria: uma estrada de terra enlameada riscando um infinito tapete de floresta e o título em letras garrafais: “Para unir os brasileiros nós rasgamos o inferno verde”. Outra chamada: “O Norte Amazônico — Aqui vencemos a floresta”. Lembro bem da sensação que me tomou. Como era possível tamanha ousadia como aquela invasão?
Passados cinquenta anos daquelas imagens, a conquista da Amazônia prossegue a passos largos. Muita floresta desapareceu e continuamos atingindo novos recordes de queimadas. O processo de invasão, saque e sumária substituição da natureza continua muito eficiente. Basta uma espiada em ferramentas como Google Earth para constatar que, fora o coração da Amazônia, todo o nosso território foi transformado em uma colcha de retalhos pela ocupação humana.
{{gallery#40}}
A vegetação nativa foi transformada em quadrados, retângulos e polígonos isolados entre espaços ocupados, aguardando mais desmatamento ou como remanescentes obrigatórios. A Amazônia segue ocupando os “fundos do Brasil” e ainda não teve o mesmo destino da Mata Atlântica e do Cerrado por uma questão de tempo, e também por causa da dimensão e da distância da floresta dos grandes centros. Mas sabemos que ela segue em direção ao destino dos outros biomas, a despeito dos esforços de setores da sociedade e de legislações protetoras.
Mais Lidas
Precisamos da terra para exercer a nossa existência, para a imprescindível produção de alimentos. Mas no país chamam a atenção a pressa e inconsequência com que se deu o processo de ocupação e dilapidação da paisagem natural. O século 20 foi o principal algoz da biodiversidade nativa brasileira: os “sertões” desapareceram e tudo mudou em incrível velocidade com o café, o asfalto, o bulldozer, a pecuária, o plano piloto, o caminhão, a cana-de-açúcar, a soja, a indústria, a urbanização.
Com exceção da Amazônia, neste começo de século tudo o que temos não passa de remanescentes de algo maior. Cabe aqui a frase de Warren Dean sobre a Mata Atlântica: “Não deveria o manual de história aprovado pelo Ministério da Educação começar assim: Crianças, vocês vivem em um deserto; vamos lhes contar como foi que vocês foram deserdadas?”
Arqueologia botânica
Um exercício que gosto de fazer é imaginar uma “arqueologia botânica”: procurar pistas e tentar imaginar o território brasileiro séculos atrás, em uma paisagem ainda sem interferências humanas significativas, pouco permeada pela civilização europeia e seus reflexos, dominada por enormes extensões de vegetação primária, abundante de árvores seculares e fauna. Claro que já tínhamos populações indígenas causando diferentes impactos no ambiente, mas, certamente, não com a velocidade e a competência de nossa civilização.
Entre os vestígios dessa exploração arqueológica estão as árvores gigantes da Amazônia, objeto de pesquisa em andamento, em parceria com o fotógrafo Cássio Vasconcellos, para constituirmos um “livro-museu” da floresta. As árvores gigantes podem alcançar até 88 metros de altura e viver mais de quinhentos anos. É curioso como, num país com mais de 8 mil espécies de árvores, ainda sejam escassas as publicações que mostrem as árvores nativas não somente como espécies, em linguagem técnica, mas como indivíduos singulares e extraordinários, pela idade, pelo porte e pela estética.
A Mata Atlântica demorou séculos para chegar aos críticos 12,5% de remanescentes da área original. Já na Amazônia, que em 1980 apresentava apenas 1,6% de áreas desmatadas, o desmatamento saltou em quarenta anos para 20% do total do bioma. Esse índice não considera os trechos degradados por situações como exploração madeireira, o que pode levar a números bem piores. Considerando a enorme extensão do bioma, essa porcentagem se mostra altamente significativa e mostra a agressividade da destruição.
A conquista da Amazônia nos últimos cinquenta anos foi amplamente documentada por revistas, publicações oficiais, livros, filmes, documentos e até objetos de cunho comemorativo ou de propaganda. Nessa coleção, surpreende o tom triunfal e de “vitória da humanidade” sobre a natureza. O bioma era encarado como um inimigo que impedia o desenvolvimento e a felicidade dos brasileiros, devendo urgentemente ser “civilizado” e receber o progresso redentor. Não há menção aos milhares de formas de vida que viveram séculos na região em um complexo ecossistema. Com o poder do Estado e parte significativa da força econômica privada nacional e até internacional unidos em prol da conquista, as ações empreendidas naquelas décadas levaram ao desastroso resultado ambiental de hoje.
O objetivo final era obter o desenvolvimento semelhante ao do estado de São Paulo à época, do “progresso” cavado na paisagem desnuda e alterada. Muita coisa mudou em todo o planeta desde então, principalmente o conhecimento científico, e embora o jogo de forças ainda persista, acredito ser inviável o retorno à ação orquestrada e quase sem contestação que culminou na invasão da última floresta selvagem do mundo.
O movimento orquestrado de invasão da Amazônia começa na década de 1970, no ‘milagre econômico’
A ocupação efetiva começa de fato com a construção da Belém-Brasília, com os seus primeiros 550 quilômetros floresta adentro, seguindo a estratégia de integração ao Centro-Sul do Brasil estabelecida pelo Plano de Metas de Juscelino Kubitschek. Com 3.400 trabalhadores divididos em onze turmas e duzentos caminhões, tratores e outras máquinas, que eram lançadas até de paraquedas nos setores de difícil acesso, a “estrada para a onça” foi inaugurada em 31 de janeiro de 1960. Não demorou a atrair centenas de milhares de migrantes, que desbravaram as margens da rodovia e criaram novas cidades. Seus mais de 2 mil quilômetros ficaram transitáveis em 1964, mas o asfalto só foi concluído em 1973. Pela primeira vez, ir da Amazônia para outras regiões do Brasil era mais rápido que ir a países vizinhos.
O movimento orquestrado de invasão da Amazônia começa realmente na década de 1970, em pleno “milagre econômico”. O discurso da ditadura era proteger o “vazio demográfico” e aproveitar as potenciais riquezas da região colonizando-a através de incentivos governamentais.
Instituições como a Sudam — Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, criada em 1966, representam bem o espírito da época. A autarquia federal fez publicar a revista Isto É Amazônia, de novembro de 1972, em português e inglês. Entre slogans como “Amazônia: o Eldorado que surpreenderá o mundo” e “Esta é a hora e vez da Amazônia”, a revista oferece um catálogo de oportunidades de lucro com a floresta, isenções fiscais e incentivos financeiros, isenção de impostos e taxas na importação de equipamentos e máquinas — sem falar nos benefícios estaduais e municipais. A Sudam já contava com com 679 projetos em diferentes ramos.
A propaganda apresentava a região como um “pote de ouro” à espera de felizardos interessados. Com o título “Chega de lendas, vamos faturar”, um anúncio vende o peixe amazônico: “Há um tesouro à sua espera. Aproveite. Fature. Enriqueça junto com o Brasil”. Outras peças exclamavam: “A Amazônia convida para um bom negócio”; “Prospere com a Amazônia”. A capa da Sudam em Revista de outubro e novembro de 1971 estampa a “Amazônia ontem” — uma floresta; “hoje” — tratores rasgando a floresta; e o “amanhã” — o perfil de uma fábrica com quatro chaminés fumegantes e um edifício de escritórios.
Na sugestiva publicação de 1971 intitulada a Ocupação do Amazonas e “dedicada ao ano vi da revolução de março de 1964”, estão as principais justificativas empregadas para a destruição: o clichê de que seria preciso “integrar para não entregar”. “Homens do Sul atendem ao chamado de ocupação do Amazonas”, diz uma chamada, ilustrada com fotos de serrarias. “O homem sem terras do Nordeste para a terra sem homens da Amazônia” era outra palavra de ordem.
Transamazônica
Na estratégia da conquista da Amazônia, as estrelas são as rodovias de penetração. O plano traçava duas paralelas: a Perimetral Norte, ao norte do rio Amazonas, com 2.465 quilômetros, e outra ao sul, a Transamazônica, com 5.619 quilômetros, de onde sairiam transversais, formando uma rede acessando milhares de quilômetros de floresta. A construção foi anunciada em 16 de julho de 1970, com a promessa de atravessar o Brasil de leste a oeste, percorrendo uma distância maior que a existente entre Caracas e Buenos Aires.
Um filme oficial mostra árvores gigantescas caindo com música triunfal ao fundo. O toco de uma castanheira secular ganhou uma placa de lançamento: “Nestas margens do Xingu, em plena selva amazônica, o sr. presidente da República dá início à construção da Transamazônica, numa arrancada histórica para a conquista deste gigantesco mundo verde”.
A estrada teve dez quilômetros de cada margem reservados para a colonização e reforma agrária por meio de agrovilas, agrópolis e rurópolis. As revistas apregoavam a promessa de sucesso dos cultivos agrícolas: “São férteis as terras à margem da Transamazônica, e nelas praticamente tudo pode ser plantado com sucesso”. O plano era levar 100 mil famílias para as faixas de duzentos quilômetros ao longo das novas rodovias federais na Amazônia, somando mais de 2 milhões de quilômetros quadrados.
A situação da fauna não era melhor que a da flora. A caça seguia implacável, ainda mais com a facilidade de acesso aos mercados.
Em 1971, a Realidade explica como era esse comércio: “A grande caçada coletiva de felinos começou em 1965, quando umas três dezenas de firmas de pele profissionalizaram como caçadores boa parte dos homens do baixo Xingu, Tocantins e Tapajós. Em 1970, somando peles exportadas, perdidas na caça e no contrabando, calcula-se que foram mortas 30 mil onças e 370 mil gatos menores. […] 1970 foi um ano ruim para os vendedores de peles: mataram apenas 500 mil jacarés”. O texto informa que 80% da renda de Altamira, no Pará, atual sede da usina de Belo Monte, era o negócio de peles.
Pecuária
No decorrer da década de 1970 a pecuária também foi incentivada, principalmente pela Sudam. A estatal patrocinava campanhas em revistas de circulação nacional com textos abomináveis. Uma empresa anunciava na busca de investidores: “A Agropecuária Jabuti impõe o progresso à Amazônia. A boiada está modificando a paisagem amazônica, fazendo desaparecer a era de lendas, do exotismo, dos mistérios, das promessas. O Brasil dedica-se a conquistá-la”.
O tom não era diferente nas páginas editoriais. “O progresso ganha a selva. Lugarejos perdidos na selva começam a plantar e criar os primeiros bois.”
O especial Amazônia da Realidade, de outubro de 1971, abre uma matéria com o título “As patas do boi estão abrindo 280 fazendas na Amazônia: uma área duas vezes a da Áustria”. E reproduz a fala do diretor do consórcio Swift-Armour-King’s Ranch, três dos maiores grupos mundiais de carne: “Metade da população do mundo passa fome, está prevista uma grande escassez de alimentos para as próximas décadas. A região amazônica está fadada a ser o grande centro exportador de carne do mundo”.
A fazenda da Volkswagen no Pará tinha 140 mil hectares e autorização para desmatar metade da área
Na publicação, a diretora da Sudam Clara Pandolfo faz um raro alerta: “A agropecuária intensiva poderá conduzir à devastação do patrimônio florestal da Amazônia, do mesmo modo que os ciclos econômicos da cana-de-açúcar e do café respondem pela destruição das florestas do Nordeste e do Sul.” A resposta, jocosa, vem de Wilton Brito, sócio de uma empresa de projetos industriais ligados à Sudam: “Só um milagre — ou uma aberração genética — seria capaz de livrar a região desse destino. Teríamos que descobrir um cruzamento de vaca com macaco para ter um boi que pastasse em cima das árvores”.
Grande exemplo desse tipo de investimento na floresta foi a fazenda-modelo da Volkswagen no sul do Pará. Com 140 mil hectares e autorização para desmatar metade da área, o empreendimento foi instalado por meio de incentivos financeiros da Sudam. “Volkswagen Sudam, modelo 77”, dizia o texto do anúncio publicado na Veja, ilustrado com a foto de um boi. Em 1976 o satélite americano Skylab fotografou na fazenda o maior incêndio já registrado pelo homem até então, o que culminou em pesadas críticas à empresa na Europa.
O desmatamento nas gigantescas propriedades dos projetos pecuários seguia a tradicional técnica da coivara, com a queima sumária da floresta, e quando muito, extração de madeira com valor comercial, se houvesse jeito de escoá-la nos mercados consumidores. Mas não ficavam nos métodos tradicionais. Ainda pouco conhecido, o uso de desfolhantes aspergidos por aviões na floresta veio no embalo da Guerra do Vietnã.
O consumo de desfolhantes aumentou no Brasil 5.400% no período de 1965 a 1979. O uso de agente laranja, a tóxica dioxina, substância utilizada pelos Estados Unidos no Vietnã, era tão comum no Brasil que o Basa, Banco da Amazônia S. A., financiava semanalmente a compra de 5 mil litros do produto para a Amazônia Legal e Cerrados do Planalto Central. Com o fim da guerra, a sobra de mais de 30 milhões de litros de agente laranja foi oferecida pelos Estados Unidos a países da América do Sul.
Um dos mais célebres megaprojetos do período foi implantado no Amapá e norte do Pará: o Projeto Jari, maior propriedade individual no mundo, com área de 1,2 a 6 milhões de hectares, do americano Daniel Ludwig, que investiu quase 1 bilhão de dólares em valores da época principalmente na produção de celulose. Foram abertos 4.200 quilômetros de estradas, derrubados 100 mil hectares de floresta e plantadas 100 milhões de mudas de Gmelina arborea, árvore exótica da Ásia, e Pinus caribaea, da América Central. A região foi descrita em 1971 como “uma sucessão de morros queimados para o plantio”.
O desmatamento ali era mecânico, sem fogo, e mobilizava de setecentas a oitocentas motosserras anualmente, talvez a maior quantidade então em uso na América do Sul. Também foi importada do Japão uma fábrica de celulose, com altura equivalente a um prédio de dezessete andares, que veio rebocada pelo oceano até a Amazônia. A gmelina não se adaptaria ao solo, sendo substituída pelo eucalipto.
BR-364
Mas o caso de mais rápido e agressivo desmatamento da Amazônia se deu em Rondônia, com a abertura, em 1973, da estrada Cuiabá-Porto Velho (BR-364) e seu asfaltamento, em 1984. O programa Polonoroeste investiu 1,5 bilhão de dólares na colonização no estado a noroeste de Mato Grosso, sendo apenas 3% do valor reservado à proteção do meio ambiente e 0,5% à pesquisa científica.
Índios foram expulsos de suas terras, gerando protestos internacionais. O contrato com os agricultores os obrigava a desmatar 20% da floresta nos primeiros dois anos para receber a posse da terra. De 1975 a 1980 a população aumentaria 14,9%, enquanto a curva de desmatamento subiu 37%. Parte considerável dos terrenos não tinha aptidão agrícola, e as cidades recém-fundadas acabaram inchando. Da BR-364 saíram estradas vicinais, e destas, outras, formando o “desmatamento em espinha de peixe” facilmente observável em fotos de satélite. É nítido, no Google Earth, o desastroso resultado ambiental. Em janeiro de 1982, a capa da Veja anunciava “Rondônia, uma nova estrela no Oeste”: “Há mais de dez anos Rondônia é o destino de um dos maiores fluxos migratórios da história do Brasil ou atualmente em curso no mundo”.
No final dos anos 1970, só em Rondônia operavam setecentas serrarias, com grande ineficiência
A madeira é um recurso cobiçado desde o começo da invasão do bioma, mas na década de 1970 a sua exploração ainda era incipiente, como explica o especial Amazônia da Realidade de outubro de 1971. “Existem ainda poucas serrarias e 80% da madeira que se exporta do Brasil […] não sai da Amazônia, mas dos pinheirais do sul.” Nos anos 1980, quando o bioma Mata Atlântica tem seu estoque de madeiras exaurido pelo excesso de desmatamento, a Amazônia passaria a abastecer de madeira o mercado nacional e o estrangeiro.
No final dos anos 1970 somente em Rondônia operavam setecentas serrarias, com 3 mil homens trabalhando no corte de madeira, com grande ineficiência: era preciso queimar 150 milhões de metros cúbicos de madeira para obter 6 milhões de metros cúbicos de madeiras nobres.
A descoberta, em 1967, na serra dos Carajás, da maior mina de ferro do mundo, resultou em 1980 no Programa Grande Carajás, com 800 mil quilômetros quadrados em uma cobertura florestal de alto valor econômico segundo o Ministério da Agricultura. Ao longo da Estrada de Ferro Carajás surgiu um corredor de atividades das indústrias produtoras de ferro-gusa, ferro primário utilizado na elaboração do aço que exige grandes quantidades de carvão vegetal.
Para obter uma tonelada de ferro-gusa é necessária a lenha de pelo menos seiscentos metros quadrados de floresta nativa. O carvão vegetal vinha de milhares de fornos comumente chamados de “rabo-quente”, muitos deles irregulares e com precárias condições de trabalho, em cidades como Marabá, antigo centro do conhecido “polígono da castanha”, outrora com abundância da espécie.
Estima-se que até 2005 foram desmatados ilegalmente 800 mil hectares para atender a exportação acumulada de ferro-gusa. O resultado em toda a grande região de Carajás é a sumária eliminação da floresta, como pode ser comprovado no Google Earth, comparando o desmatamento na linha do tempo na região entre 1984 e hoje.
Para a consolidação desse ambicioso projeto foram feitos investimentos em infraestrutura que causaram enormes impactos ambientais e escândalos públicos, como a Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Para a formação do seu lago previu-se o alagamento de uma enorme área de 216 mil hectares de floresta. O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) contabilizou 177 espécies diferentes de madeiras aproveitáveis e um volume de madeira explorável de 12 milhões de metros cúbicos. Chegou a publicar um livro, Madeiras de Tucuruí: características e utilização, em português e alemão.
O valor de toda aquela madeira era estimado na época em 1 bilhão de dólares. A empresa designada para realizar o desmatamento, a extração e comercialização da madeira antes do enchimento do lago foi a Capemi Agropecuária, criada três meses antes e vinculada à Carteira de Pensões dos Militares (Capemi). Mesmo sem nenhuma experiência em operações desse porte, a Capemi conseguiu um empréstimo internacional de 100 milhões de dólares e acabou em falência fraudulenta em 1983, desmatando somente 10% da área contratada.
A floresta, extraordinária em castanheiras seculares, acabou inundada de pé, o que levou à liberação de dióxido de carbono e metano no ambiente, pela decomposição da biomassa vegetal. Entre 1980 e 1982, antes do fechamento da barragem de Tucuruí, ocorreu uma grande polêmica nacional e internacional, com a acusação da Capemi e de subempreiteiras da Eletronorte de utilizar secretamente toneladas de desfolhantes como o agente laranja no desmatamento e na manutenção de linhas de transmissão, resultando em intoxicação e mortes, o que foi negado pela Eletronorte. Em seu livro O agente laranja em uma república de banana, o engenheiro agrônomo Sebastião Pinheiro compilou relatos de vítimas e autoridades sobre a morte de pessoas e animais, abortos e deformações na região de Vila Tailândia, Pará. Novamente, observar hoje o entorno do lago da represa de Tucuruí em imagens de satélite e comparar com 1984 é assistir à consolidação de um deserto.
Hoje, na distância de mais de trinta anos da primeira fase de invasão efetiva da Amazônia, temos como resultado uma tendência preocupante: a fragmentação da última grande floresta contínua do mundo. Nos eixos das grandes estradas de penetração construídas na ditadura, ocorrem mosaicos de áreas desmatadas e áreas de conservação em maior ou menor grau. As imagens sugerem o incremento e a interconexão do desmatamento, bem como a iminente consolidação dessa fragmentação do bloco contínuo em cinco grandes áreas.
A fragmentação já se efetivou totalmente na face leste do estado do Pará, na região de Marabá, Parauapebas, São Félix do Xingu e Tucuruí; no entorno do Parque Indígena do Xingu; e no estado de Rondônia e norte de Mato Grosso. Restam somente blocos de áreas de conservação.
Conter o desmatamento, a ocupação por grilagem, o garimpo, os conflitos de posse de terra e o avanço da fronteira agrícola é o principal desafio para estancar o processo de fragmentação e para tirar a Amazônia do destino inexorável dos outros biomas brasileiros. Que as letras garrafais da propaganda ufanista dos anos 70 — “A Amazônia já era!” — não tenham sido proféticas como parecem.
Matéria publicada na edição impressa #37 set.2020 em julho de 2020.