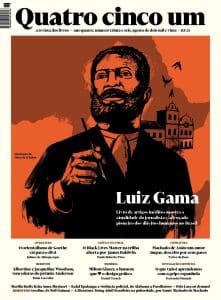Literatura,
Os laços que unem Clarice e Carolina
Os vazios e as subjetividades de ‘Laços de família’ e ‘Quarto de despejo’ sessenta anos depois de seu lançamento
01ago2020 | Edição #36 ago.2020O ano é 1960. Em 27 de julho, Clarice Lispector lançava Laços de família, livro de contos que a recolocaria na cena literária depois do período passado nos Estados Unidos acompanhando o marido diplomata. Menos de um mês depois, em 19 de agosto, Carolina Maria de Jesus autografava Quarto de despejo, diário que escrevera entre 1955 e 1959, morando na favela do Canindé, em São Paulo. Ambos os livros foram publicados pela Livraria Francisco Alves Editora, o que faz com que em 2020 se comemorem os sessenta anos de lançamento dessas obras.
Apesar da diferença de dias, pelo menos dois hiatos maiores se interpõem entre as duas publicações. Um diz respeito à repercussão: Clarice vinha publicando em Senhor desde o primeiro número da revista, em março de 1959, e já era um nome conhecido desde Perto do coração selvagem (1943). Fernando Sabino e Rubem Braga eram entusiastas de seus contos. Em contrapartida, Carolina “surge” com Quarto de despejo, que teve um sucesso inédito no mercado editorial brasileiro. Seiscentos exemplares foram vendidos só no lançamento e, em sua terceira edição, já no mês seguinte — visto que as duas primeiras haviam se esgotado —, a tiragem foi de 50 mil exemplares. Logo considerado best-seller, o livro foi comercialmente comparado a Lolita, de Nabokov, em artigo publicado na revista Time, e ela ainda virou referência: “muitos querem ser Carolina”, tal escritor “não chega a ser uma Carolina”, “surgem Carolinas e Pelés”.
Clarice mostrou-se, inclusive, grande fã de Carolina, como se vê em matéria na revista Manchete, de agosto de 1961, assinada por Paulo Mendes Campos, em meio a uma crise no mercado editorial. No fim do texto, Mendes Campos traz “um esplêndido diálogo” ocorrido entre Clarice e Carolina, que teria elogiado a escrita da primeira: “Como você escreve elegante”. Enquanto Clarice teria exclamado: “E como você escreve verdadeiro, Carolina!”.
‘Quarto de despejo’ chegou a ser apreendido durante a ditadura por ser considerado subversivo
Nas palavras de Campos, Clarice era fã de Carolina, e escrever “verdadeiro” era uma aspiração sua. Por outro lado, escrever “elegante” era um ideal de Carolina, como atesta sua atração por um léxico erudito, forma de deixar mais “literária” sua escrita. Muito cedo, as duas intuíram as potencialidades da palavra e no mesmo ano, 1977, vieram a falecer. Entre as duas pontas da vida, seguiram por caminhos muito diferentes, mas traduziram o que é se ver às voltas com a falta, sob as formas da fome e a do vazio.
Mais Lidas
A crise no mercado editorial prenunciava outras crises maiores. Três anos depois da publicação da matéria da Manchete, em 1961, aconteceu o golpe militar, instaurando uma ditadura que impôs censura, perseguições, prisões e tortura. Entre os livros que chegaram a ser apreendidos pelo Departamento de Ordem Política e Social (Dops) estava justamente Quarto de despejo, considerado subversivo pelas autoridades por sua crítica social. É o que costuma acontecer com autores que “escrevem verdadeiro”.
Família
Outro hiato é o que se coloca entre o conforto material da família representada em Laços de família e a luta diária pela sobrevivência na favela. Em contos como “Uma galinha”, “A menor mulher do mundo”, “Amor” e “A imitação da rosa”, a família de classe média conta com o pai/marido provedor, a mãe “rainha do lar”, as questões cotidianas, as compras, o jantar e a leitura do jornal de domingo. Em Quarto de despejo, o jornal aparece como o material catado pela narradora do diário. As questões cotidianas são resumidas a como alimentar a si mesma e aos três filhos todos os dias, e a mãe solteira prescinde, altivamente, de um marido.
Escritos na década de 1950, os contos de Laços de família põem em cena a figura da mulher limitada ao papel de dona de casa. A palavra “limitação” tem estreita relação com os “laços”, no título, que evocam união sem deixar de sugerir amarras, prisão, um ponto problemático de intersecção tocado por Clarice. Na sua etimologia, a palavra tem relação com laço para caça (laqueus), o que remete a cilada, armadilha, que podem ser os vínculos familiares e sua pedagogia. Aprender desde cedo o amor familiar, a necessidade de amar, perdoar, conciliar, fazer convergir, como as protagonistas de “Amor” e “O búfalo”, são papéis “naturalmente” femininos, como querem fazer crer os anos pós-Segunda Guerra Mundial.
Ao mesmo tempo que evocam união e limitação, laços também remetem a enfeite. A autora não tem pudor em desnudar o que é pura convenção, o que adorna as relações e os lares, mas que, num exame mais profundo, revela desarmonia. É o caso do conto “Feliz aniversário”: os laços tentam manter sua aparência de enfeite, mas, quando afrouxados pelo desprezo de Anita, materializado no gesto de cuspir no chão, escancaram mediocridade, desalento e vazio.
Já o conto “Amor” trata do laço familiar que une e prende até o ponto de cegar, sendo a cegueira a metáfora da alienação. Paradoxalmente, é preciso ver um cego para se lembrar de como se enxerga. É preciso cortar o fio, quebrar o ovo, sofrer um tranco, para sair da inércia imposta pelo cotidiano. A ruptura é perda e ganho. No entanto, a despeito de toda a expectativa de irreversibilidade que se cria, algo mais poderoso que a força de ruptura se manifesta, que é a convocação do lar e dos laços. É preciso que haja o retorno, pois eles ainda existem, e exigem ser refeitos, reapertados. Esse movimento é o da volta ao lar, à rotina ou ao “destino de mulher”.
Em Laços de família, a figura masculina aparece comumente associada à do marido, e este, à imagem daquele que protege, contém ou prende: enlaça. Maridos que afastam as mulheres “do perigo de viver”; que têm, num momento de embriaguez, o marido ao lado a garantir a esposa.
A família que prende também protege e provê, por vezes até à saciedade, que também leva à náusea. O percurso é curto e revela, paradoxalmente, um vazio. Os contos vão ao núcleo dessa falta, de que as personagens se dão conta no enfrentamento com o outro — seja o cego, o búfalo, a clareira deixada pelas rosas. Esse “outro” acaba por revelar-se espelho: dar-se conta da falta é o que as constitui como sujeitos, pois se trata de uma “falta de ser”. Não a falta de um objeto, de algo de categoria material ou passível de nomeação, mas da percepção de uma falta que leva à percepção de si. O desejo de “nada que possa ser nomeado”, afirma Lacan no Seminário 2º, resulta na falta, em função da qual o ser é levado a existir. Aí reside a importância dos momentos epifânicos de vazio, pois eles implicam enxergar uma situação de vazio interior.
Se o vazio é monótono, esse mono-tom é recorrente em dois contos do livro: trata-se do marrom, cor do casaco da protagonista de “O búfalo” e do vestido de Laura, a mulher no fio da navalha da loucura de “A imitação da rosa”. Mais uma entre as faltas, a falta de cores sugere que ser colorida, original, exótica, ociosa, é tabu no mundo das mulheres de Laços de família. Quebrar o decoro, ousar, é esquisitice, efeito de embriaguez; loucura; senilidade; ou primitivismo, como a pigmeia de “A menor mulher do mundo”, que sem pudor se coça “onde uma pessoa não se coça”. O normal, socialmente aceito, é ser a “galinha de domingo”; ser, como Laura, a “galinha indefesa”, ou, sob a ótica do marido, “chatinha, boa e diligente, a mulher sua”: a posição do pronome possessivo logo depois do substantivo enfatiza a ideia de posse, enquanto o diminutivo sugere um limite de aceitação de até onde a “chatice” pode chegar. Em outros termos, é não poder sentir falta e, conseguintemente, não poder ser quem se é.
Postura diversa é a da narradora de Quarto de despejo. Carolina presentifica a imagem da mulher que se assume como “exótica” ao devanear e revelar seu olhar poético: “A noite está tépida. O céu está salpicado de estrelas. Eu que sou exótica gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido”. Aqui se prescinde dos estados de exceção, representados pela loucura e embriaguez, em favor de um estado poético, aquele que permite que a subjetividade “se permita”. A narradora dos diários se vê livre da opressão de uma família, entendida como grupo centrado na figura de um provedor. Cabe à mãe qualquer poder de decisão, o que, se é certo que resulta na opressão de uma responsabilidade angustiante, também reforça uma identidade orgulhosa. Além disso, um marido é expressamente visto como mutuamente excludente em relação ao exercício literário.
Ela tem orgulho de sua capacidade de resolver problemas e enfrentar agruras sozinha. Trata-se de uma ausência, a de um marido, que em contrapartida empodera, já que a ela cabem as decisões. A tomada de decisão tem diretamente a ver com a preocupação com a sobrevivência e o provimento dos filhos. Se a própria fome causa fraqueza e tonturas, a dos filhos leva ao desespero. As passagens mais lancinantes de Quarto de despejo são aquelas em que Carolina flerta com o suicídio, em especial quando cogita tirar, além da própria vida, a vida das crianças. A atitude exemplifica o poder — que, paradoxalmente, decorre de limitação e impotência — da tomada de decisão, inclusive sobre a vida deles. O corte dos laços que, no caso, não são só os familiares chega ao paroxismo da interrupção do “fio que também se chama vida”: laços no limite do esgotamento.
Pão e palavra
A fórmula bíblica segundo a qual “a palavra é pão” não deve ser usada para idealizar a miséria. Os próprios românticos ironizaram as posturas idealistas quando o que se colocava à frente era a fome. Mas entender a palavra como alimento, no caso de Carolina, leva à reflexão sobre a premência de escrever, o alcance e o papel da literatura, que, afinal, pode garantir-lhe uma outra forma de existência e de fala. A palavra, portanto, não só tem papel paliativo por ser desabafo solitário e alívio para a angústia, mas guarda a “potência de poder” de vir a público e tornar-se voz no campo literário, o que pressupõe eternização (uma vez que é escrita) e instrumento de denúncia.
As duas consequências se vislumbram nas expectativas da autora. Tanto que os políticos são alvos frequentes das críticas de Carolina. Ela desnuda todo um esquema de cooptação da população pobre para fins eleitoreiros, e seu posterior abandono. Revolta-se contra o descaso, a hipocrisia, a distância em relação à realidade dos mais pobres. Um dos mais criticados por ela é Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil de 1956 a 1961, anos que, grosso modo, coincidem com os do registro do diário.
O poder da palavra — de dar visibilidade à autora anônima e tirá-la, ainda que momentaneamente, da situação de penúria — é representado no campo cultural, que corrobora a trajetória de Carolina da margem ao centro. Em uma nota de Manchete, sugere-se que a revista faça uma reportagem intitulada “Esses mineiros…”. O texto situa lado a lado Pelé, João Guimarães Rosa, Grande Otelo, Ivon Curi, Carolina Maria de Jesus e, entre outros mineiros, justamente Juscelino Kubitschek como personalidades assíduas nas páginas da revista em todo o segundo semestre do ano de 1961. De “ex-favelada” e crítica do presidente da República, a “celebridade mineira” é colocada ao lado dele, que era então senador.
Em ‘Laços de família’, a figura masculina aparece comumente associada à do marido, e este, à imagem daquele que protege, contém ou prende: enlaça
A saída da favela se dá pela escrita. No êxodo, Carolina deixa a fome para trás e tem a fama à frente. A atriz Ruth de Souza, que representou Carolina no palco, adverte a escritora, em texto publicado no jornal Última Hora, em 13 de novembro de 1961, sobre o pacto fáustico a que ela estaria submetida: “Lembre-se, dona Carolina Maria de Jesus: não se recebe nada sem dar alguma coisa em troca. A fome que você tinha lhe dava a liberdade total de ser favelada. Realizado o seu sonhado sonho de muitos anos, de sair da favela, ver seu livro publicado (que lhe deu um sucesso inesperado), você assumiu obrigações para com seu público, seu descobridor, seu editor, e ainda, o mais importante, seus filhos. […] O sucesso exige sacrifícios e muita paciência. É claro que a realização de um ideal escraviza. As mais famosas criaturas do mundo, negros e brancos, têm a mesma escravidão que a sua. Mas elas não reclamam”.
Enquanto na década de 1950 Clarice se sentia numa espécie de exílio por morar com o marido diplomata em Washington, no mesmo período, isolada em seu barracão, Carolina sofria outro tipo de exílio distinto, o da exclusão social. A marginalidade se encontra já no título da obra, metáfora que caracteriza a favela como um reduto de desumanização e reificação. Não ter o que comer, ter de sobreviver com restos de comida, muitas vezes estragada; não ter moradia digna; ter de assistir a brigas de casais descritas como grotescas e constrangedoras são causas de dor física e moral. Ainda assim, entre as saídas para catar papelão e as noites maldormidas, havia o momento de dedicação à palavra escrita. Escrever é a brecha para a individuação, a liberdade, a poesia e o sonho. Carolina tem consciência de que escreve um livro realista, mas a escritura se impõe como necessidade e a linguagem se insurge como criadora de outras realidades: “É preciso criar este ambiente de fantasia, para esquecer que estou na favela”.
A escrita atua como exercício de subjetividade e como saída de emergência ou escape. Nesse sentido, não só por meio do que ela chama de “fantasia”, mas também como saída efetiva, por meio do reconhecimento. A publicação de seus escritos é antevista como forma de denúncia, ao mesmo tempo em que seria o meio de deixar uma posição de quem exclusivamente vê para outra em que se pode ser vista. Ser notada, sair do anonimato, obter algum reconhecimento é dignificar-se.
Mas é evidente que sua premência é o escrever, é o registro escrito da palavra. À medida que sai de sua mente, de sua boca e por fim de sua pena, tornando-se escrita, é que a palavra dota a autora de voz, fenômeno de que ela tem completa consciência, inclusive do alcance que essa voz pode adquirir ao representar outras vozes, podendo tomar a forma de um grito. Esse grito também se faz presente, vale lembrar, em um dos treze títulos de A hora da estrela (1977), “O direito ao grito”, sendo que, no derradeiro romance de Clarice, um narrador, que por sua vez é personagem-escritor, atua como porta-voz do grito da migrante excluída e sem voz que é Macabéa. A voz ou o grito, portanto, só são “ouvidos” quando lidos, quando investidos de um lugar social, o da literatura, associado a poder. Em Quarto de despejo, Carolina prescinde de porta-voz e sabe que a literatura se constitui como meio de sobreviver à marginalidade — outorgando-lhe individualidade e dignidade — e dela emergir.
Matéria publicada na edição impressa #36 ago.2020 em maio de 2020.