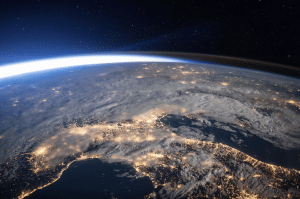Literatura,
A comédia humana de Machado de Assis
Por ocasião de lançamento de contos completos nos Estados Unidos, ensaísta percorre vida e obra de um autor genial
01ago2018 | Edição #14 ago.2018A maioria dos países tem um escritor como ele: a eminência barbada cujo rosto enfeita selos postais, e cujo nome dignifica avenidas — e cujas Obras Completas repousam, imperturbadas, nas estantes dos avós. Já que ninguém se forma no ensino médio sem ao menos fingir que conhece sua obra, muitas pessoas o leem jovens demais, e acabam por vê-lo como uma criança relutante encara uma verdura que fará bem para sua saúde.
Joaquim Maria Machado de Assis, Cavaleiro da Imperial Ordem da Rosa, fundador da Academia Brasileira de Letras, é há muito tempo embaixador do Brasil junto à sociedade internacional dos escritores oficiais. Parece ter-se preparado para o papel durante a maior parte de sua vida adulta, que foi tão insípida e convencional que dá a impressão de escarnecer de seus futuros biógrafos.
Funcionário exemplar do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, Machado, assim como Kafka (do Instituto de Seguros de Acidentes de Trabalho) e Kaváfis (do Terceiro Círculo de Irrigação), vestia ternos aprumados, vivia em bairros inexpressivos, desempenhava trabalhos burocráticos e raramente saía da cidade onde nasceu.
Esses autores pareciam emblemas da pequena burguesia, e a defasagem entre a sua aparência e a sua escrita os tornava emblemas de outra coisa também — da vida pulsando por trás da máscara que o indivíduo moderno veste. Esse descompasso permitiu que adquirissem um simbolismo vibrante. Ao não apresentarem nenhum desafio visível a sua época, puderam se mover livremente por ela — e acabaram por defini-la.
Mais Lidas
Machado “possuiu meia dúzia de gestos, hábitos e frases típicas”, escreveu em 1936 uma de suas primeiras biógrafas, Lúcia Miguel-Pereira. Evitava a política. Era um marido ideal. Passava seu tempo livre na livraria. E, ao fundar a ABL, aportou uma estrutura administrativa à literatura.
No entanto, colocar essa imagem lado a lado com seus livros é se perguntar se tal zelo era um ato calculado — e averiguar por quê, a despeito de mais de um século de veneração, o traje de porta-voz nacional nunca lhe serviu direito. Machado era irônico demais, mordaz demais, para as pretensões que as homenagens oficiais sugerem. Em narrativas sobre a alta sociedade do Rio de Janeiro, ele conseguia, com impecáveis elegância e serenidade, dizer as coisas mais afrontosas. Uma drag queen poderia chamar essa performance decorosa de “executive realness”.
Formação
Mesmo quando era jovem, sua misteriosa formação fascinava observadores, embora aparentemente não fascinasse muito a ele próprio. Estava com quarenta anos quando um jornalista declarou que seria impossível escrever sua biografia. “Não existe ninguém mais reservado do que ele quanto a esse aspecto.” Observadores catavam migalhas. Era baixo, epiléptico e gago. E dava para ver que era mulato.
Sua mãe era branca, uma lavadeira imigrante dos Açores; seu pai era um pintor de paredes mestiço
A ascendência africana volta e meia é o primeiro fato mencionado a respeito da sua vida. Em The Collected Stories of Machado de Assis (Liveright), um volume crucial que será o lugar em que muitos norte-americanos terão seu primeiro contato com ele, Machado é apresentado, logo na orelha do livro, como “neto de ex-escravos”. Não é um rótulo que ele teria escolhido. Sua mãe era branca, uma lavadeira imigrante dos Açores que morreu quando ele tinha nove anos; seu pai, um pintor de paredes mestiço cujos pais tinham sido, de fato, escravizados.
No panorama mais amplo da sociedade brasileira, isso não era incomum. (A maioria dos brasileiros era miscigenada.) O mesmo vale para sua posição social. A maioria dos brasileiros era pobre, e as origens de Machado estavam um degrau acima da miséria. Seus pais sabiam ler e escrever. Pertenciam à classe trabalhadora, e não à classe mais baixa — os escravos.
Mas pessoas visivelmente mestiças eram raras na sociedade mais erudita em que Machado entrou ainda relativamente jovem. Quando garoto, ele tinha aptidão para fazer amizades proveitosas: reza a lenda que um padre lhe ensinou latim; um padeiro imigrante, francês. Aos dezessete anos, trabalhando numa tipografia, conheceu intelectuais e logo começou a publicar poemas.
Na tipografia, era, quando muito, um funcionário mediano. Passava suas horas mortas lendo, seu salário não lhe permitia comer mais do que uma refeição por dia. No entanto, a obra que passou a publicar, inicialmente peças de teatro e poemas, foi imediatamente aclamada, e seu primeiro romance, Ressurreição, publicado em 1872, inaugurou um sucesso de crítica que prosseguiu até sua morte, 36 anos mais tarde.
A improvável ascensão social de Machado gerou comentários. Aqueles que não gostavam dele brandiam sua origem: um crítico, em 1897, chamou-o de “genuíno representante da sub-raça brasileira cruzada”. Mesmo seus defensores não conseguiam evitar. Lúcia Miguel-Pereira faz quase quarenta menções a sua origem racial — em sua maioria gratuitas — nas trezentas páginas da sua biografia.
O foco nessa faceta de sua origem obscurece outros fatos surpreendentes. Ele nasceu em 1839, dezessete anos depois da independência do Brasil — e apenas 31 anos depois que o primeiro livro foi publicado no Rio de Janeiro. Por 308 anos desde a chegada dos portugueses ao Brasil, a imprensa esteve proibida em toda a colônia. Todo um país não tinha o direito de pensar por conta própria.
Consciência
De que tipo de literatura uma nova nação precisa? Assim como em outros países das Américas, muitos escritores brasileiros, aqueles nascidos imediatamente depois da independência tentaram forjar uma consciência por meio de motivos indígenas. Gonçalves Dias publicou épicos indianistas e um dicionário de tupi; José de Alencar instalou índios — especialmente mulheres — no centro de uma nova mitologia.
Essa visão do Brasil exerceu um duradouro apelo junto aos estrangeiros também. Em 1550, cinquenta tupinambás foram levados à Normandia para recriar uma aldeia brasileira como forma de entretenimento do rei. Séculos depois, aquela aldeia seria o que a maioria dos estrangeiros tinha em mente quando pensava no Brasil: um paraíso tropical intocado, fervilhando de nobres selvagens. No entanto, um tanto tediosamente, o Brasil acabou se revelando, de muitas maneiras, mais familiar do que eles imaginavam. Essa pode ser uma das razões pelas quais Machado nunca se tornou popular no exterior. Não demonstrou o menor interesse no folclore nacional, e descreveu um meio social não muito distante daquele de Henry James ou Edith Wharton. Seus livros se ocupam quase exclusivamente dos ricos, mais ou menos ociosos, do Rio de Janeiro, e esse não era um Brasil que a maioria dos estrangeiros pudesse reconhecer.
Mesmo para um escritor brasileiro, a obra de Machado era singularmente desprovida de cor local. Se para alguns ele era negro demais, outros não o consideravam negro o bastante: viam-no muito menos preocupado com questões sociais do que alguém com a sua origem deveria estar. O Brasil, afinal de contas, foi o maior país escravagista do mundo, e o último das Américas a abolir a escravidão. Em 1888, quando por fim veio a abolição, Machado tinha quase cinquenta anos.
Àquela altura o “racismo científico” e seus correlatos, incluindo o darwinismo social, estavam em alta. As raças podiam se desenvolver por conta própria, rezava a teoria, mas a miscigenação causaria declínio. De acordo com essa pseudociência, as tentativas brasileiras de modernização estavam fadadas ao fracasso: a nação, com sua população irreversivelmente mestiça, estava condenada a uma inferioridade permanente.
A reputação de Machado se beneficiou de uma guinada no debate apenas uma geração após sua morte, em 1908. Uma série de livros, começando em 1933 com Casa-grande & senzala, de Gilberto Freyre, converteu a miscigenação, até então uma fonte de temor e vergonha, num manancial de orgulho nacional. Enquanto a Ku Klux Klan ressurgia nos Estados Unidos, o Brasil conquistava a reputação de ser um país onde as fronteiras raciais tinham sido tão borradas que não importavam mais. (A democracia racial, como era chamada, ignorava a história feroz de escravidão e racismo no Brasil.) Era conveniente que o maior escritor brasileiro fosse miscigenado e pudesse se tornar um símbolo desses valores recém-reformulados. Suspeito que Machado teria ficado constrangido com esse papel póstumo.
Popularidade
No entanto, para desgosto dos brasileiros desejosos de que sua cultura seja conhecida por algo além de samba, futebol e favelas, a popularidade de Machado não se espalhou. Não foi por falta de esforço por parte das autoridades, que há décadas patrocinam traduções de sua obra, nem por parte dos editores, que têm recrutado legiões de porta-vozes proeminentes.
Em princípio ele deveria ser fácil de traduzir. A postura impassível que exibe nos retratos posados se revela em sua prosa também. Exceto por sua ortografia — sujeita a intermináveis e tediosas “modernizações”, muitas delas promulgadas por sua própria Academia de Letras —, seu português praticamente não envelheceu. Não tem nada da afetação dos românticos, nada do léxico nativista dos mitologizadores. Suas obras são bem mais fáceis de ler do que as de seus contemporâneos.
Há em Machado uma tensão que resiste à tradução: entre sua postura corporal estatuesca e a estranheza do que ele descreve
Mas há uma tensão que resiste à tradução: entre sua postura corporal estatuesca e a estranheza do que ele descreve. Um conto apresenta um monge que proclama que os grilos nascem “do ar e das folhas de coqueiro, na conjunção da lua nova”; outro é contado da perspectiva de uma agulha.
The Collected Stories, com quase mil páginas, compreende o mais amplo conjunto de seus escritos já reunido num único volume em inglês. Heroicamente traduzido por Margaret Jull Costa e Robin Patterson, o livro reúne quase quatro décadas de produção, de 1870 a 1906. Lendo-o, a gente imagina que o autor fez um pacto silencioso consigo mesmo. Sua prosa bem aparada — assim como sua persona imperturbavelmente serena — refletiria seu status de pilar do establishment. Mas, com o tempo, seus enredos se tornariam cada vez mais marotos, endiabrados, excêntricos.
As duas primeiras coletâneas de contos de Machado têm todos os aparatos reconhecíveis da ficção oitocentista: olhares sugestivos em carruagens, donzelas de coração gelado, heranças fatídicas. Essas histórias têm lugar na sociedade rentista brasileira, que acaba se mostrando bastante parecida com a da Rússia. Há homens que, como Oblómov, nunca conseguem sair da cama. Outros personagens vão a balneários, leem romances franceses e, quando caem irremediavelmente nas dívidas, dedicam-se a tentar se casar com herdeiras. Quando isso falha, um tio pode arranjar um cargo tranquilo num ministério.
Em consequência disso, nesses primeiros contos há inúmeras variações do enredo do casamento. Será que o esbanjador Fulano convencerá a virtuosa dona Sicrana de que se emendou? O grã-fino retornado de Paris encontrará a felicidade nos braços de uma simples moça caipira? As tramas borbulham, e embora a linguagem possa beirar o kitsch (“Eu era o misterioso do corredor do teatro”), ela nunca perde sua ironia ou autoconsciência.
Lida toda de uma vez, essa obra inicial se torna repetitiva. Mas Machado de Assis é leve e divertido de um jeito que raramente se espera de autores que acabam virando estátuas. E nos nove anos entre a segunda coletânea de contos, Histórias da meia-noite, e a terceira, Papéis avulsos, publicada em 1881, alguma coisa muda.
“O alienista”
“Todos os casos em que o equilíbrio das faculdades mentais fosse ininterrupto”, observa de modo retorcido o narrador de “O alienista”, novela que consta de Papéis avulsos, “deveriam ser admitidos como hipóteses patológicas”.
A observação pertence a Simão Bacamarte, psiquiatra da era colonial na atrasada Itaguaí. “O alienista” não contém amantes desprezados nem espertalhões maquinando golpes do baú. Machado enfatiza a vasta erudição de Bacamarte. Ele deixa Portugal, aonde tinha ido para estudar, e volta a sua terra natal, onde seu fabuloso saber espanta os moradores. Ele resolve erigir um sanatório, a Casa Verde, para o tratamento dos loucos.
Tendo recebido o poder de encarcerar qualquer pessoa que diagnosticasse como portadora de doença mental, o sisudo homem de ciência fica espantado com o que descobre até mesmo entre os habitantes aparentemente mais normais de Itaguaí. Em pouco tempo, quase toda a cidadezinha é despachada para a Casa Verde: “A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão; começo a suspeitar que é um continente”.
A cidade se insurge contra Bacamarte, mas, tão logo tomam o poder, os revolucionários reconhecem que não podem deixar os loucos soltos pelas ruas. O alienista prossegue seu trabalho, inabalável, até fazer uma descoberta desconcertante: os cidadãos mais perigosos são justo aqueles que apresentam a fachada mais convincente de normalidade.
Finalmente, ele descobriu os verdadeiros perturbadores da paz: “Foi o que se deu com um advogado, em quem reconheceu um tal conjunto de qualidades morais e mentais, que era perigoso deixá-lo na rua”. Os casos de loucura mais certificáveis de um ponto de vista mais tradicional recebem alta, e cidadãos de ostensiva virtude são aprisionados em seu lugar.
O diagnóstico suscita inevitáveis questões acerca do mais sensato habitante de Itaguaí. Assim como faria Freud uma década depois da publicação da novela, Bacamarte empreende uma minuciosa autoanálise, e é obrigado a concluir que só há um meio de lidar com uma pessoa tão perfeitamente saudável. Ele trancafia a si próprio na Casa Verde, onde morre dezessete meses depois. “Alguns chegam ao ponto de conjeturar que nunca houve outro louco, além dele, em Itaguaí.”
Humor
Por toda parte em seus contos, Machado se deleita em mostrar a tênue sanidade de pessoas eminentemente respeitáveis. Mas o verdadeiro humor está em suas frases. Muitos críticos, incluindo Sílvio Romero, aquele que o acusou de pertencer a uma “sub-raça”, não o perceberam. O que o torna tão divertido é, em grande parte, seu jeito calmo de dizer o oposto do que quer dizer.
“Não, não se descreve a consternação que produziu em todo o Engenho Velho, e particularmente no coração dos amigos, a morte de Joaquim Fidélis” — assim começa um de seus contos. Qualquer um que tenha familiaridade com Machado compreende que o que ele está de fato nos dizendo é o quanto esse Joaquim era repugnante.
A narração de Machado é sempre indireta, e o mesmo vale para qualquer mensagem moral ou política. Os primeiros contos, com seus enredos de ópera-bufa, capturam a superficialidade, venalidade e indolência da camada social mais alta do Rio oitocentista. A crítica social é implícita, e até graciosa; Machado nunca foi um fanático ou um pregador.
Se ele compartilha o veredicto de Bacamarte de que a vida cotidiana é patológica, também tem consciência de que problemas insidiosos assim não podem ser resolvidos encarcerando a população inteira. “Má sociedade, se lhe parece”, concede um personagem, “mas não há outra à mão, e a menos de não estar disposto a reformá-la, não tem outro recurso senão tolerá-la e viver”. Machado optou por aceitar a sociedade tal como era, em vez de como deveria ser.
Ele jamais conheceu Paris e nem sequer São Paulo. No mundo sobre o qual escrevia, era plenamente normal que um imperador governasse o país, que fizesse calor em janeiro e que em cada casa houvesse alguns escravos:
“D. Beatriz […] andava literalmente da sala para a cozinha, dando ordens, apressando as escravas, tirando toalhas e guardanapos lavados e mandando fazer compras, em suma, ocupada nas mil coisas que estão a cargo de uma dona de casa, máxime num dia de tanta magnitude.”
Mesmo o célebre esplendor do Rio está ausente de sua obra. Era impossível fornecer uma visão turística da única paisagem que ele tinha visto. “A natureza inspirará uma bela página ao teu romance”, sugeriu certa vez um amigo. Ele tentou, mas se entediou depois de oito ou dez linhas. “A natureza não me interessa”, Machado respondeu ao amigo. “O que me interessa é o homem.”
Seus primeiros contos caputaram a superficialidade, venalidade e indolência da camada social mais alta do Rio oitocentista
Machado é a prova de que o cosmopolitismo vem da leitura, não das viagens: por meio de livros, ele conhecia o mundo todo. Assim como sua aparência convencionalmente cortês, suas numerosas e diversificadas alusões à literatura europeia demoliam a ideia de que o Brasil era um lugar de florestas místicas e serpentes antropófagas. Embora a imprensa tivesse sido proibida no Brasil colonial, os livros em si não eram. O país tinha uma literatura rica e antiga: só não era, em sua maior parte, produzida localmente. Apesar de séculos de esforços para alardear seu exotismo, algo que os brasileiros com muita frequência incentivaram, o Brasil sempre fez parte, para o bem e para o mal, do mundo ocidental. Sócrates e La Rochefoucauld faziam parte desse mundo — assim como os escravos na cozinha.
Machado de Assis mostrou que a comédia humana é a mesma em toda parte, e uma verdade universal é que, em conflitos entre o homem e a sociedade, a sociedade geralmente vence. E, como sugerem sua vida e seus escritos, tal vitória pode não ser tão sufocante como parece. Uma conformidade aparente pode ser exatamente o que precisamos para salvaguardar a liberdade interior. Talvez, como o alienista, aquele que melhor se conforma seja o mais louco de todos. [Tradução de José Geraldo Couto]
Matéria publicada na edição impressa #14 ago.2018 em agosto de 2018.
Porque você leu Literatura
As Macondos brasileiras
Cidades criadas por escritores como Jorge Amado, Erico Verissimo, Dias Gomes e João Guimarães Rosa desvendam mundos maiores
JUNHO, 2025