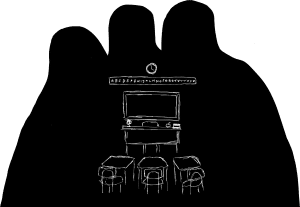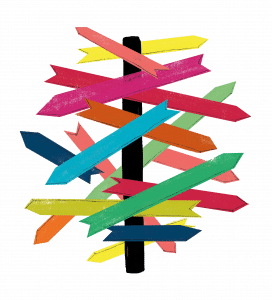Laut, Liberdade e Autoritarismo,
Pequena história do medo
De Vargas ao regime militar, como o Estado ataca a liberdade acadêmica no Brasil
01jun2020 | Edição #34 jun.2020Em 1968, Nina Simone foi indagada sobre sua ideia de liberdade. “Apenas um sentimento”, ela respondeu. Poucos segundos depois, pareceu atingida por um forte insight: “Vou te dizer o que é liberdade! Não ter medo!”. A entrevista aparece no documentário What happened, Miss Simone? (2015), e a frase “Liberdade é não ter medo” se mantém poderosa pelo significado das palavras. Elas contornam tratados de filosofia política para traduzir um importante elemento subjetivo presente em certas garantias constitucionais.
O bem mais relevante que o direito à liberdade acadêmica pode proporcionar é o destemor. Outros direitos civis e políticos também funcionam assim, mas a ausência de medo tem uma importância especial para a livre condução de atividades acadêmicas. Saber-se excluído de uma zona de punição constitui a confiança necessária para aprender, pesquisar, escrever e ensinar argumentos controversos, temas espinhosos, tópicos polêmicos. Um índice importante de que um direito está aquém de sua promessa é a existência de um ambiente no qual predomina a certeza da retaliação pelo simples exercício de uma liberdade.
Entre oitocentos e mil pesquisadores foram perseguidos durante a ditadura brasileira
Vista desse modo, a liberdade acadêmica no Brasil é parte do extenso rol de garantias liberais que funcionam mais na teoria do que na prática. Embora desde nossa primeira Constituição como nação independente algumas formas de liberdade acadêmica tenham sido garantidas como direitos individuais, na maior parte de nossa história a onipresença do medo fez com que a sensação dessa liberdade se tornasse uma utopia. Alguns regimes ditatoriais se esforçam para parecer democráticos e submetidos ao Estado de direito: garante-se a “liberdade” na Constituição, mas se cria uma estrutura legal capaz de travestir de legais até as ações mais arbitrárias.
O terror “legalizado”
A perseguição às universidades durante a ditadura militar instaurada em 1964 é o caso exemplar de criação desse clima “legalizado” de terror. Não existem dados sistemáticos sobre o número exato de estudantes, professores e funcionários de universidades presos no período, mas as informações reunidas pela Comissão Nacional da Verdade (CNV) em seu relatório de 2014 apontam entre oitocentos e mil pesquisadores perseguidos. Eles foram presos, demitidos de seus cargos, aposentados compulsoriamente e, em alguns casos, sofreram torturas ou foram mortos. Demissões e aposentadorias compulsórias eram atos administrativos regulares, promulgados sob prerrogativas conferidas pelos Atos Institucionais n. 1 (1964) e n. 5 (1968). Esses atos tiveram força constitucional e suspenderam garantias de funcionários públicos, como a estabilidade em seus cargos, permitindo investigações sumárias que resultavam em sanções variadas, desde a demissão até a cassação de direitos políticos.
No relatório final da Comissão da Verdade da Universidade de São Paulo, um depoimento do historiador Boris Fausto apresenta linhas importantes sobre a perseguição acadêmica. Em 1969, foi instaurado um Inquérito Policial Militar nos departamentos de história e geografia da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. O objeto de investigação era genérico e causava surpresa, uma vez que aqueles departamentos não estavam na linha de frente de resistência à ditadura. A perseguição aos professores, na visão do historiador, “se voltou para suas ideias; para seu papel nos cursos de férias organizados em conjunto com os alunos (inclusive um programado para o início de 1969, que não chegou a se realizar por força do AI-5); para o suposto desvirtuamento de seu papel de professor, ao se tornarem ‘mediadores de debate’ das Comissões Paritárias criadas ao longo de 1968; e para a possibilidade, enfim, de terem contribuído para ‘perverter’ a mente dos alunos com uma pregação esquerdista”.
Mais Lidas
Essa citação oferece alguns elementos-chave para entender a repressão da ditadura às universidades. As Comissões Paritárias, criadas na USP em 1968, são uma lembrança da grande mobilização em torno de projetos do governo para reformular as políticas universitárias. Na década de 1960, essa agenda governista de reforma das universidades catalisou muitas reivindicações por mais democracia no ambiente universitário, pelo fim dos privilégios dos professores titulares e por maior participação dos estudantes e dos funcionários. Reuniões da União Nacional dos Estudantes na década de 1960 se concentraram nesses temas, culminando em grande agitação até o final da década e, como reação, no recrudescimento do regime militar, por meio do AI-5. As Comissões Paritárias da usp tiveram participação igualitária de diferentes atores universitários e constituíram um fórum de debate sobre a reforma e a democracia universitárias. Mas a agitação democrática era vista como “subversão” e, assim, incomodava o regime.
Disputas ideológicas levavam o governo Vargas a censurar projetos vistos como subversivos
O depoimento de Fausto lembra que a perseguição aos professores se voltou “para suas ideias”, “para o suposto desvirtuamento de seu papel”, para a existência de uma “pregação esquerdista” capaz de “‘perverter’ a mente dos alunos”. Jamais saberemos a exata medida do espraiamento do “esquerdismo”. O que sabemos, de fato, é que foi criado um enorme aparato de vigilância para controlar ideias. O ministro da Educação tinha um órgão de assistência chamado Divisão de Segurança e Informação, que, apesar de estar vinculado ao ministério, funcionava sob a complexa estrutura nacional de vigilância, chefiada pelo poderoso Serviço Nacional de Informação.
Desde 1971, as universidades públicas passaram a ter seu próprio Conselho de Segurança e Informação, um órgão que produzia informações para monitorar estudantes e fazer triagem de professores e funcionários. Embora esse conselho estivesse formalmente subordinado à reitoria das universidades, funcionou na prática como um canal para órgãos centrais de vigilância pressionarem e controlarem a própria reitoria. Pelo menos oito reitores foram destituídos dos cargos no período.
A ditadura militar foi provavelmente o período mais intenso de repressão à liberdade acadêmica, mas está longe de ter sido o único. Se a década de 1930 marcou o início do processo de expansão da educação pública e de fundação das universidades, o Estado autoritário que emergiu nesse período bloqueou o exercício das liberdades civis e políticas. Disputas ideológicas frequentemente levavam o governo Vargas a censurar projetos vistos como subversivos ou “comunistas”.
Foi o caso da Universidade do Distrito Federal (UDF), um projeto inovador criado em 1935 no Rio de Janeiro e completamente desmontado pela ação governamental apenas quatro anos depois. Aurélio Wander Bastos aponta que a UDF foi a primeira universidade brasileira a ser pensada em termos orgânicos, e não como uma reunião de escolas isoladas, além de ter apresentado um projeto pedagógico interdisciplinar e original. Desde o início o projeto enfrentou dificuldades relacionadas ao fato de ser liderado por um grupo de intelectuais seculares (como Anísio Teixeira e Hermes Lima) fortemente confrontados por intelectuais católicos que exerciam grande influência no ministro da Educação. A pesquisa de doutorado da historiadora do direito Laila Maia Galvão mostra que o anticomunismo também estava em jogo, pois os católicos frequentemente acusavam seus oponentes de terem simpatias comunistas.
Criando novos medos
A longa história de ataques à liberdade acadêmica pelo poder estatal esteve entrelaçada não só à forte rejeição de visões de esquerda, mas também à rejeição à mera discussão democrática. Após a lenta abertura do regime militar, a partir de 1975, acadêmicos vitimados pelo clima persecutório estavam ansiosos para discutir e defender abertamente suas opiniões e suas pesquisas. Mas logo foram acusados de tentar criar um pensamento hegemônico e até de censurar pontos de vista mais liberais ou orientados à direita. Em 1979, um longo debate sobre a liberdade acadêmica tomou conta dos principais jornais, em um episódio muito representativo dessa confusão entre perseguidos e perseguidores.
A polêmica teve início com uma decisão do Departamento de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro de não incluir em uma apostila de curso um texto do jurista Miguel Reale. Figura de destaque na direita, alinhado com o regime militar, Reale foi reitor da usp de 1969 a 1973. A decisão de não incluir o texto foi vista por Ana Maria Moog Rodrigues, então professora do departamento, como um ato de censura motivado pelas posições políticas do autor. Ela se demitiu da universidade e publicou no Jornal do Brasil uma carta em que acusava o departamento de censurar Reale. O mesmo jornal fez uma matéria relatando a existência de uma crise na puc, provocada, nas palavras de um acusador, pela “adoção sectária e passional de uma metodologia marxista”.
Vários textos foram publicados nos jornais, inclusive de intelectuais que apontavam não ter existido qualquer censura, uma vez que não se tratava de vetar aos alunos o acesso ao texto, mas simplesmente de não o incluir no curso. Os editoriais dos jornais em que ocorreu a polêmica acolheram, no entanto, os argumentos da acusação e atacaram a PUC. O professor Antonio Paim, que também se demitiu da universidade, foi o intelectual mais ativo nesse episódio e editou uma coleção com os editoriais, os artigos e até o texto “censurado”: Liberdade acadêmica e opção totalitária, um debate memorável (Távola, 2019).
A característica mais interessante nos argumentos daqueles que enxergaram a existência de censura foi sua justificativa por um pretenso argumento liberal: a defesa da própria liberdade acadêmica e a suposta necessidade de abrir espaço para o pensamento dissidente. O pluralismo das ideias mal começara a ser novamente tolerado, mas já parecia justificável a adoção do tom acusatório contra acadêmicos que optaram, por razões pedagógicas e intelectuais diversas, por excluir textos que não lhes interessavam. E é curioso notar que essa mesma retórica, permeada pelo “medo” paranoico do comunismo, ainda consegue se reproduzir hoje, mesmo que não exista nada próximo de uma predominância do pensamento totalitário no ambiente acadêmico brasileiro.
Esse episódio de 1979 tem conexões profundas com o ambiente político atual. Antonio Paim, o maestro da orquestra acusatória que se formou contra a PUC, influenciou diretamente a formação do primeiro ministro da Educação de Jair Bolsonaro, Ricardo Vélez Rodríguez. Em um momento no qual o poder autoritário felizmente não dispõe dos meios de terror proporcionados por uma ditadura, alimentar inseguranças e paranoias é um meio eficaz de minar o ambiente acadêmico. Desmobilizar esses mecanismos de produção de medo é parte fundamental da luta pela liberdade de aprender, pesquisar e ensinar.
Editoria especial em parceria com o Laut

O LAUT – Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo realiza desde 2020, em parceria com a Quatro Cinco Um, uma cobertura especial de livros sobre ameaças à democracia e aos direitos humanos.
Matéria publicada na edição impressa #34 jun.2020 em maio de 2020.
Porque você leu Laut | Liberdade e Autoritarismo
A ameaça autoritária na educação
Identificar os riscos de radicalização e fortalecer a democracia são essenciais para retomar a confiança no conhecimento científico
JUNHO, 2025