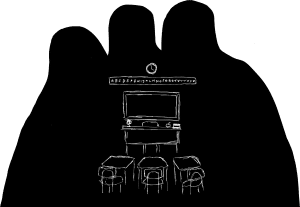Laut, Liberdade e Autoritarismo,
Partilha do insensível
A incapacidade dos brasileiros de viver a experiência coletiva da pandemia é reflexo de séculos de desigualdade
01out2020 | Edição #38 out.2020Mais de 130 mil mortes por Covid-19 no Brasil configuram uma tragédia. Mas, a julgar pelo debate público e pelo cotidiano nas cidades, parecemos não vivê-la como um drama coletivo. Não é por falta de informação. A imprensa noticia a evolução da pandemia e faz circular histórias dos falecidos, mostrando todos os dias seus rostos e a dor dos que lhes sobrevivem. Isso não basta, no entanto, para que a mortandade seja experimentada como experiência compartilhada — esta parece limitar-se às restrições decorrentes das medidas quarentenárias, cada dia mais relaxadas.
Em meio ao desastre, os direitos humanos aparecem em falas de intelectuais, políticos, juristas e ativistas em torno de crimes contra a humanidade e de genocídio e atribuem responsabilidades por atos e omissões. Tais falas são, contudo, disparos de um alarme que não ressoa na sociedade brasileira. Escritos que abordam a relação entre a letra morta da lei, a sensibilidade em relação a desconhecidos e a imaginação podem ser úteis para pensar o problema. Em A invenção dos direitos humanos: uma história, a historiadora norte-americana Lynn Hunt analisa a recepção dos romances Pamela (1740) e Clarissa (1747-8), de Samuel Richardson, e Júlia ou a nova Heloisa (1761), de Rousseau. Partindo da sincronia entre sua publicação e a circulação da categoria “direitos humanos” na Europa, ela pensa como os três romances contribuíram para a inscrição desses direitos na França. Trata-se de romances epistolares com mulheres como protagonistas, que dividem seus sentimentos mais íntimos: amor, paixão, desejo, sofrimento, virtude, indignação diante do injusto. São mulheres comuns e, ao mesmo tempo, heroínas em cujas cartas se percebe um desejo por autonomia, o florescimento da personalidade ou simplesmente o fato de habitarem um mundo moral.
Os três livros provocaram “reações viscerais” e “absorção emocional”, sentimentos expressos em cartas de cortesãos, clérigos, militares e pessoas comuns. Eles teriam criado condições para a empatia e contribuído para modelar as sensibilidades, possibilitando um processo de mudança de percepção dos leitores em relação a desconhecidos e de sua representação na imaginação. Se o romance, como afirma Jacques Rancière, apresenta uma reordenação do mundo, o epistolar, pondera Hunt, obscurece a autoria com a correspondência: desperta “sensação vívida de realidade”.
Hunt diz que a circulação dos livros foi importante para que os direitos humanos assumissem a forma que apresentam na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, pois possibilitaram imaginar a igualdade no calor da narrativa. Pensando com Rancière, esse efeito estaria relacionado à política que a ficção empreende ao fazer o leitor habitar o seu tempo, desfazendo hierarquias, desfiando como as coisas poderiam ser e apresentando padrões de inteligibilidade concorrentes com os da realidade. Sua leitura teria aberto espaço para uma espécie de reordenação de quem conta e quem não conta na comunidade.
Reordenação
Mais Lidas
À época, essa reordenação encontrou limites — no corpo feminino, na cor da pele, no status de colônia — que Hunt indica, mas não pensa criticamente. Seu livro é iluminador, no entanto, por relacionar a modelagem de sensibilidades com a enunciação da ideia de liberdade e igualdade em direitos como autoevidente em um mundo em que tudo a desmentia. Ilumina também por articular a Declaração de 1789 com a abertura de todo um campo de possibilidades, em que minorias na França (como protestantes, judeus e pobres) e grupos fora do país (como escravos libertos no Haiti) puderam pleitear igualdade em direitos sob o argumento de que se tratava do reconhecimento de práticas de autonomia reiteradas na vida social. É o que Hunt chama de “lógica dos direitos humanos”, que abre a indivíduos a possibilidade de, como propõe Rancière, averiguar em ato se têm de fato o direito que consta na letra morta da lei. Hunt fornece elementos para pensar que a operação dessa lógica importaria em sucessivas reconfigurações do público e do privado, do humano e do cidadão.
O poeta irlandês Seamus Heaney abordou esse potencial dos direitos humanos na peça “Human rights, poetic redress” (Direitos humanos, reparação poética), publicada no jornal The Irish Times em comemoração aos sessenta anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, em 2008. Ele explora como a Declaração deu força moral aos direitos humanos e representou um convite universal a suspender a descrença na possibilidade da liberdade e da igualdade. Heaney só pôde se lançar nessa empreitada em um meio de ampla circulação porque os direitos humanos são uma linguagem que transborda o círculo das arenas jurídicas. Usada para falar do justo e do injusto, ela facilita a produção de cenas que conjugam mundos apartados por meio de performances em que a igualdade ganha forma na voz daqueles que não contam entre os que contam.
Há quadros vivos e contingentes que se formam a partir disso e que podem operar pequenos abalos em práticas de longa duração. A realização de seu potencial transformador, no entanto, é incerta. Para que a comunidade se reconfigure, é preciso que violações sobretudo de corpos sejam consideradas inaceitáveis, e que desejos por autonomia sejam vistos como justos e aqueles que os manifestam considerados iguais. No limite, a percepção de que um sujeito é igual em direitos é parte da produção de uma igualdade, ou da desconstituição da desigualdade.
A sorte dos direitos humanos no Brasil ilustra, entretanto, o quão intrincada é essa relação. Contestados desde antes da reconstituição da democracia, esses direitos nunca chegaram a cair nas graças da sociedade, embora os esforços por restringi-los nunca tenham sido tão articulados. Os termos de sua contestação — “privilégios de bandidos”, “cidadãos de bem”, “humanos direitos” — denunciam a pretensão de que a ordem jurídica seja a reprodução de uma ordem moral idealizada, e também como a igualdade é indesejada entre nós. Seria longa a lista das nossas misérias na matéria, mas talvez a mais ilustrativa seja o número de vítimas de homicídios dolosos, na ordem das dezenas de milhares ano sim, outro também, atingindo desproporcionalmente jovens negros. Não surpreende, assim, que o alerta que os marcos fúnebres de mortes por Covid-19 disparam não encontre eco em nossa sensibilidade, e os descaminhos dos direitos no Brasil não permitem que nos surpreendamos.
Nossa partilha é a da insensibilidade à dor e à violação daqueles que incluímos na cidadania sem transformar nossa relação com as diferenças — ou seja, sem reconfigurar a comunidade. Reações à pandemia mostram que mudanças são urgentes e que não decorrem diretamente da inscrição de direitos humanos na ordem jurídica. Em contrapartida, a literatura nos lembra, em momento de desalento, que o uso desses direitos pode ter o condão de instaurar uma reordenação da vida no Brasil, abrindo espaço a uma nova partilha do sensível.
Editoria especial em parceria com o Laut

O LAUT – Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo realiza desde 2020, em parceria com a Quatro Cinco Um, uma cobertura especial de livros sobre ameaças à democracia e aos direitos humanos.
Matéria publicada na edição impressa #38 out.2020 em setembro de 2020.
Porque você leu Laut | Liberdade e Autoritarismo
A ameaça autoritária na educação
Identificar os riscos de radicalização e fortalecer a democracia são essenciais para retomar a confiança no conhecimento científico
JUNHO, 2025