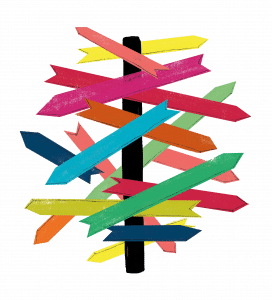Laut, Liberdade e Autoritarismo,
Entre saúde pública e democracia
A pandemia do coronavírus arrisca comprometer eleições pelo mundo e expõe a centralidade das políticas de saúde universais e gratuitas
09abr2020 | Edição #33 mai.2020A democracia depende da saúde pública, e a saúde pública depende da democracia. O primeiro lado da afirmação sustenta que, para a configuração de um regime democrático, além de liberdades e direitos políticos, uma comunidade precisa de iniciativas amplas de promoção e manutenção de condições socioeconômicas dignas — dentre elas, a saúde de sua população. O segundo lado da frase defende que a saúde pública precisa do funcionamento efetivo de uma democracia, não só com eleições e competição partidária, mas especialmente com os valores que definem o compromisso democrático: a proteção de liberdades e direitos políticos, em especial o de mobilização e contestação. Em meio à pandemia do coronavírus, que já contaminou mais de 1.500.000 pessoas e matou 90.000, os governos se veem forçados a executar medidas rápidas e unilaterais para conter a doença. Nessas ações, questiona-se no mundo todo a própria relação entre saúde e democracia. Este se torna, assim, um momento crítico para afirmar e reforçar os dois lados da equação.
Olhando para este primeiro lado da afirmação, a proteção da saúde é um dos componentes da exigência de igualdade de oportunidades que garante a normalidade democrática. Uma comunidade política precisa estar viva e com algum grau de saúde física e mental para participar de eleições, reunir-se em praças, discutir ideias e decidir sobre seu futuro. Como resume Norman Daniels em Just Health [Saúde justa] (2008), “ao perder funções por causa de doenças e deficiências, nosso espectro de oportunidades se reduz em comparação com aquele que se apresenta a pessoas saudáveis e completamente funcionais” .
A crise de saúde pública recente demonstra de forma alarmante essa condição. A pandemia do coronavírus arrisca comprometer a atividade mais central das democracias: a competição eleitoral – vide o cancelamento das eleições no Chile e na Bolívia, ou o risco concreto de cancelamento das eleições municipais brasileiras, em outubro. De forma ainda mais crítica, expõe a centralidade das políticas de saúde universais e gratuitas pelo mundo e a crise instalada quando essas políticas são insuficientes. O caso norte-americano talvez seja o mais emblemático da relação entre democracia e saúde. A pandemia se espalha em meio à ausência de políticas centrais de contenção e à insuficiência de um sistema de saúde não universal, apenas acessível a quem está formalmente no mercado de trabalho ou que consegue pagar por planos de saúde – 9% da população americana vive sem qualquer forma de cobertura. A crise não só expõe a necessidade de políticas realmente públicas e amplas de saúde no país mais rico do mundo, mas assevera preferências por medidas antidemocráticas de contenção da epidemia. Estudo recente, realizado por pesquisadores americanos, demonstrou que, independentemente da filiação partidária, seja democrata ou republicana, mais de 70% dos respondentes de uma amostra de 3.000 pessoas apoiava medidas que proibissem a entrada tanto de cidadãos quanto de não cidadãos no país, obrigassem o trabalho de todos os profissionais de saúde, independentemente dos riscos, e impusessem restrições severas à liberdade de expressão.
SUS
No Brasil, desde 2015 a saúde pública enfrenta uma redução nos investimentos de recursos orçamentários federais, com o seu posterior congelamento de gastos, o que aumentou a pressão sobre Estados e municípios em financiar a saúde regional e local em um cenário de crise fiscal. Com isso, apesar de ter um sistema único e universal de saúde, o país ainda depende largamente do financiamento privado, que representa quase 60% do gasto total em saúde no país. Mesmo subfinanciado e amplamente criticado pela elite econômica (em geral não usuária do sistema) como uma política “de pobre” e ineficiente, o SUS atende 70% da população e, diante da crise do coronavírus, se coloca como peça central na manutenção de nossa democracia. São os gestores do sistema que têm atuado em rede pelo país, organizando as respostas privadas e públicas à pandemia, orientando governadores, prefeituras e cidadãos sobre o que fazer (e o que não fazer), enquanto os profissionais de saúde vinculados ao SUS trabalham ativamente nas portas de hospitais e UPAs, realizando escolhas trágicas e salvando vidas.
Mais Lidas
A importância e atuação do SUS nesse cenário tem, inclusive, convertido apoiadores do Estado mínimo, que passam a relembrar que saúde pública também tem impacto econômico – sem saúde se reduz ou se paralisa a capacidade produtiva das sociedades. Ademais, a crise aos poucos parece convencer eleitores que o despreparo do governo atual em proteger a sociedade tem efeitos sobre a democracia, já que esta não é apenas o resultado das urnas, mas também das decisões de governo na proteção de direitos, dentre eles os socioeconômicos, como a saúde. Investimentos em saúde e a manutenção de um sistema público e universal são algumas das medidas mais efetivas de redução das desigualdades. E não é demais lembrar que amplas desigualdades ameaçam a sobrevivência das democracias, como aponta a vasta literatura sobre as crises políticas.
A afirmação acima coloca, hoje, democracias à prova. O debate sobre o impacto de instituições e outros determinantes socioculturais sobre a saúde das populações é longo e especialmente centrado em indicadores de pobreza e desenvolvimento econômico. A relação causal que levaria a diferenças em regimes políticos explicarem resultados de saúde pública é, contudo, bastante controversa, e a pandemia recente tende a potencializar vozes críticas a regimes ou valores democráticos. As respostas mais recentes da China em relação à pandemia, com muitas restrições à locomoção, uso de drones e aplicativos para rastrear pessoas e realizar testes obrigatórios, têm sido adotadas por outros países asiáticos como Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, e paulatinamente por democracias ocidentais. Essas medidas, respostas eficientes de contenção do coronavírus, provocam o debate sobre que países estariam mais aptos a adotá-las em toda a sua força. Parece intuitivo afirmar que autocracias não estariam sujeitas às mesmas limitações institucionais que democracias liberais e, assim, poderiam ter processos ágeis de resposta e implementação destas medidas emergenciais a qualquer custo.
Pandemias, contudo, não precisam somente de vigilância e quarentena. Um aspecto importante da promoção de saúde pública, dentro ou não de crises, é a legitimidade conferida pela população às escolhas das autoridades. Para as medidas de saúde vingarem é necessário que as pessoas se convençam, em alguma medida, que essas medidas funcionam ou, ao menos, que as autoridades estão corretas em implementá-las, especialmente em cenários de crise onde em todos os países – democráticos ou não – se suspende a normalidade. Em geral, governos democráticos são vistos por suas populações como mais legítimos a tomar medidas assim exatamente porque são mais transparentes e se submetem ao controle da população caso cometam excessos. Em The Narrow Corridor [O corredor estreito] (2019), Acemoglu e Robinson parecem indicar que, se existem argumentos para defender Estados autoritários (o Leviatã Despótico) diante da sua capacidade de planejamento e promoção do desenvolvimento social, esse argumento esbarraria na incapacidade do Leviatã em se manter legítimo perante a sociedade. Essa legitimidade é tão boa quanto os mecanismos institucionais que restringem e “acorrentam” o Leviatã, ou seja, o rol de direitos e liberdades que permitem a uma sociedade se mobilizar e controlar o Estado e suas elites. Essa capacidade de controlar o Estado, de proteger-se de excessos e de sentir-se “livre” é um fator que condiciona a saúde das pessoas.
A importância e atuação do SUS nesse cenário têm convertido apoiadores do Estado mínimo
Michael Marmot, em seu livro seminal, The Health Gap [A lacuna na saúde] (2015), argumenta que a saúde das pessoas não é só influenciada por condições biológicas, geográficas ou por perfil socioeconômico. Um dos mais importantes determinantes sociais da saúde são as hierarquias sociais – as distâncias e segmentações da sociedade que estão fora do controle das pessoas, mas que condicionam suas vidas, pois impõem limitações intransponíveis a sua capacidade de perseguir aquilo que entendem como boa vida.
A promoção da saúde pública dependeria, assim, também de mecanismos de empoderamento que permitam superar essas limitações e enfrentar as diferentes estruturas de opressão e desigualdade que se sobrepõem em nossas sociedades. Essas possibilidades de empoderamento advêm principalmente (em algumas circunstâncias, quase exclusivamente) da existência de uma sociedade civil organizada e mobilizada, algo impensável em regimes autocráticos. É a sociedade civil organizada que busca o direito de minorias excluídas das instâncias de poder, que expõe as elites que as mantêm e que força mudanças e inovações institucionais. No caso do coronavírus, por exemplo, é essa sociedade civil que está expondo as diferenças de acesso à prevenção e a recursos de saúde, as hierarquias sociais que já se desenham nesta crise e que atingem as populações de rua, as pessoas presas e os milhões de brasileiros e brasileiras que não podem fazer home office e proteger suas famílias em casas de um só cômodo e/ou sem acesso a saneamento básico.
Democracias ainda estão mais bem posicionadas para realizar essa tarefa de expor e enfrentar desigualdades, pois possuem em seu DNA, ainda que de forma muitas vezes falha e precária, a capacidade de dar voz a falas dissonantes e desafiadoras e de internalizar estes desafios em seu processo de construção e decisão. Se concebermos saúde como este conceito mais amplo de boa vida, que depende de empoderamento em lutas por justiça, não há hoje como realizar saúde pública de forma ampla, mesmo em crises, senão em democracias.
Editoria especial em parceria com o Laut

O LAUT – Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo realiza desde 2020, em parceria com a Quatro Cinco Um, uma cobertura especial de livros sobre ameaças à democracia e aos direitos humanos.
Matéria publicada na edição impressa #33 mai.2020 em abril de 2020.
Porque você leu Laut | Liberdade e Autoritarismo
A ameaça autoritária na educação
Identificar os riscos de radicalização e fortalecer a democracia são essenciais para retomar a confiança no conhecimento científico
JUNHO, 2025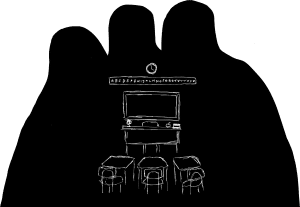
Mais de Natalia Pires de Vasconcelos
A morte cravada na pena
Pesquisa investiga o fenômeno da letalidade prisional no Brasil, pouco registrada e nunca responsabilizada
MAIO, 2023