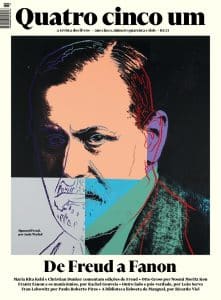Jornalismo,
Rashômon na era da pós-verdade
Como ouvir o outro lado no jornalismo depois de Trump? Uma investigação entre Otavio Frias Filho e Ruy Mesquita
01fev2021Em aula inaugural no curso de pós-graduação da Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP), em 1985, o jornalista Claudio Abramo explicou sua concepção de bom jornalismo: retratar os debates na sociedade como um espelho, sem apresentar sua conclusão. Citou o filme Rashômon, de Akira Kurosawa (1910-98), como metáfora do efeito ideal para o jornalismo diante de temas controversos. Rashômon (1950) garantiu a consagração internacional ao diretor e deu ainda mais notoriedade a Ryunosuke Akutagawa (1892-1927), autor dos contos em que se baseou o roteiro.¹ Em 1951, foi premiado no Festival de Veneza e, em 1952, levou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.
No enredo, um casal de viajantes é atacado por um bandido, o marido é morto e a mulher e o bandido desaparecem, mas são localizados e levados a depor com outras testemunhas. Sete pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, descrevem o episódio em depoimentos sucessivos. As versões não permitem uma conclusão pacífica. O espectador chega ao fim da sessão com sete narrativas sobre um mesmo fato, todas elas divergentes. “Do que trata o filme?” “Quem matou o homem, afinal?” Não há consenso, nenhuma síntese é possível. Nem uma análise estatística poderia apontar a predominância de uma versão sobre outra. Não se pode atribuir mais credibilidade nem às testemunhas oculares nem às que se baseiam em relatos de segunda mão: seus depoimentos também divergem.
Desde então, a expressão “efeito Rashômon” vem sendo empregada para descrever a ineficiência dos relatos testemunhais para entender questões complexas em ciências humanas e, especificamente, no jornalismo.
Reposicionamento
A demissão de Donald Trump pelo voto coincidiu com um profundo reposicionamento da imprensa norte-americana na cobertura das manifestações aberrantes do presidente. Depois de quatro anos de hesitação, no dia seguinte à eleição, quando já estava claro que Joe Biden estava bem mais perto da vitória, algumas redes de TV interromperam a transmissão de discursos em que Trump mentia; outras atacaram a falsidade da fala em tempo real, com comentários sobrepostos à voz do presidente, que alegava ter sido vítima de fraude. A atitude logo foi atacada como manifestação de posição partidária, favorável a Biden.
Ouvir os dois lados em controvérsias e dar a acusados o direito a serem ouvidos eram obsessões do jovem comandante da ‘Folha’
Mais Lidas
Reparar a verdade, criticar comportamentos impróprios ou até mesmo cortar falas abjetas ou absurdas são recursos editoriais corriqueiros, empregados em nome da civilidade, mas a sua aplicação a presidentes da República é fato inédito na crônica da mídia norte-americana e mesmo no Brasil. Uma recente reportagem da New York Magazine analisou a mudança na cobertura do New York Times sobre Trump, entre a campanha de 2016 e a derrota nas urnas: da cautela inicial, apontando mentiras ou manifestações de incivilidade do presidente, o NYT chegou a um comportamento “menos desapaixonado e mais combativo”.
O posicionamento explícito da imprensa tardou mais de quatro anos. Já desde a campanha, Trump dava sinais de comportamento impróprio e mostrava como sua administração poderia conturbar a política e contestar a Constituição. Depois da posse, diversos analistas criticaram a mídia por cobrir com objetividade fria a sordidez do chefe de Estado ao disseminar mentiras, negacionismo científico e ataques a pessoas e instituições.
Trump afronta a razão e a civilidade que devem nortear uma sociedade democrática: faz apologia do racismo ou manifesta conivência; pratica o machismo explícito ou a homofobia; nega a gravidade de uma pandemia que assola o país; trata protestos civis com a tropa de choque; tenta exacerbar o poder de Washington em detrimento de estados e municípios; agride a imprensa. O presidente solapou as bases da democracia americana.
Cobrir uma administração disruptiva e caótica como se fosse outra qualquer corresponde a normalizar o inaceitável. Mas trata-se de um desafio sem paradigmas desde que a imprensa se tornou o primeiro meio de comunicação de massa, no século 19. Até então, os jornais tinham circulação restrita e eram instrumentos de grupos políticos ou veículos segmentados, de nicho. Eram tempos de jornalismo opinativo. O contrato com o leitor previa a defesa explícita de posições específicas no universo político ou corporativo. A revolução industrial permitiu a criação de maquinário capaz de imprimir milhares de cópias a custos muito baixos; os jornais passaram a atingir a população de uma metrópole.
Com as novas máquinas, surgem veículos que precisam ser aceitáveis por todos os moradores de uma região. Se antes os nomes eram O Defensor da Constituição (de Robespierre, na Revolução Francesa) ou O Velho Cordel (que defendia as ideias de Danton, no mesmo período revolucionário), o jornal de massas assume nomes como A Província de São Paulo (que deu origem ao Estadão), The New York Times (ou Times), Chicago Tribune etc. A partir daí se afirma o jornalismo informativo, plural e imparcial, que no “contrato” com os leitores prevê o apartidarismo, quase a neutralidade em relação a temas disputados na opinião pública. Esse modelo, que impera até agora e serve de matriz para diários como a Folha de S.Paulo, que eu chamo de “jornalismo Rashômon”, está em xeque nos Estados Unidos e também no Brasil.
Novas mídias
As duas últimas vezes em que encontrei Otavio Frias Filho pessoalmente, antes de sua morte prematura, em agosto de 2018, foram ocupadas pela discussão de temas relacionados a essa questão. O ano de 2016 tinha sido marcado pela exacerbação das divisões políticas em diferentes cantos do mundo e por ataques à imprensa por suposta parcialidade, vindos da direita e da esquerda. Foi o ano do plebiscito do Brexit, do impeachment de Dilma Rousseff e da eleição de Trump, episódios que fizeram subir a temperatura do noticiário e foram acompanhados pelo crescimento da rejeição à cobertura jornalística em meios tradicionais e pela aceleração do uso de novas mídias na política.
Sob o impacto desses fatos, escrevi um ensaio sobre o que chamei de “‘Jornalismo Rashômon’ e o esgotamento do outro lado”. Procurei Otavio porque as ideias apresentadas no texto debatem procedimentos adotados pela Folha desde o início dos anos 1980, quando ele se tornou diretor de Redação, aos 26 anos, em 1984, e implantou o Manual geral da Redação.
Ouvir os dois lados em controvérsias e dar a acusados o direito a serem ouvidos eram obsessões do jovem comandante da Folha naquele final de ditadura. Por sua insistência, a expressão “outro lado” saltou do Manual para simbolizar a equidade e o equilíbrio almejados pelo Projeto Folha. A expressão é usada para classificar um procedimento que seria adotado por inúmeros veículos da imprensa brasileira desde o final daquela década, como o próprio Otavio apostou que ocorreria em “dez ou quinze anos” .
Conheci Otavio em 1978, no início da faculdade, em uma viagem à fazenda de amigos em comum. Trabalhei na Folha do início dos anos 1980, logo após me formar na faculdade, a meados dos 1990. Sob o comando de OFF, como era chamado, entre 1984 e 1987 o jornal atingiu a liderança de circulação no Brasil. Era um período de grande instabilidade nas equipes, processo que ele gostava de chamar de “revolucionário”, em que a média de idade na Redação caiu vertiginosamente, atingindo 33 anos em 1986 e cerca de 27 em torno de 1990. Em cerca de três anos, entre 1984 e 1987, por volta de quinhentos jornalistas deixaram a empresa (mais que uma redação inteira), como narra Carlos Eduardo Lins da Silva, secretário de Redação no período, em Mil dias (1988, reeditado pela Publifolha em 2005). A Folha trocava um jornalista a cada dois dias.
Feito Cronos, devorava também a equipe dirigente. Numa dessas trocas, me tornei secretário de Redação, então o segundo posto na hierarquia, aos 28 anos, cinco depois de sair da faculdade. Minha passagem pelo cargo foi um pouco mais longa que a de meus antecessores, mas, com imenso alívio, fui nomeado correspondente em Londres em 1993 e 94, e incumbido da cobertura de uma sucessão de guerras, certamente uma das experiências mais excitantes da carreira jornalística. A adrenalina é uma droga que vicia. A Folha me enviou em curto espaço de tempo para Bósnia, Croácia, Sérvia, Angola, Somália, Moçambique, Kuwait e Irlanda do Norte.
Antes que eu quisesse voltar, OFF me chamou para assumir a diretoria de Marketing da Empresa Folha da Manhã. A bagagem acumulada como correspondente de guerra não me credenciava para a nova missão. (Andava na moda o livro Marketing de guerra, de Al Ries e Jack Trout, 1986, o que gerou a piada: em busca de um diretor de Marketing, o presidente da empresa perguntou ao RH: “Alguém aqui entende de marketing de guerra?”. Como a resposta foi não, ele teria dito: “Então vamos buscar alguém que entenda de guerra”…)
A tarefa era organizar um sistema de produção de fascículos para potencializar a circulação: o projeto “Folha Um Milhão”. Depois de meses com síndrome de abstinência da adrenalina das guerras, já ficando louco entre as paredes pastilhadas do escritório na alameda Barão de Limeira, encontrei o produto ideal: um atlas do jornal britânico The Times, que eu havia comprado em Londres e que tinha sido publicado também pelo New York Times. Aprovado o projeto, com todos os diretores certos de que ele seria um sucesso (meses depois o jornal superaria a meta de circulação, ao atingir um pico de 1,6 milhão de exemplares), pedi para voltar à Redação. No árido ecossistema da empresa familiar, o pedido foi recebido como uma ofensa. Rapidamente, o clima ficou insustentável. Decidi aceitar um convite para dirigir o Jornal da Tarde.

O jornalista Ruy Mesquita
Como diretor do jornal, editado pelo concorrente O Estado de S. Paulo, passei a conviver com Ruy Mesquita e seus filhos e sobrinhos, que dirigiam a empresa com uma cultura inteiramente diferente da que caracterizava a Folha. Talvez a maior diferença entre as duas casas fosse o fato de que o Estadão, àquela época, tinha procedimentos consolidados havia décadas, e por isso os seus protocolos se assemelhavam ao que Otavio admirava ter visto em uma visita ao jornal inglês The Guardian, “onde os mecanismos de controle são mínimos […] porque todos os que lá trabalham já dividem uma consciência de responsabilidade, de zelo diante do trabalho, cuidado na apuração dos fatos que torna prescindíveis tais mecanismos”. Acostumado à rotina da Folha, a diferença saltava aos meus olhos no cotidiano como diretor do JT.
O Manual da Folha contém um verbete chamado “Consulta obrigatória”, que determina:
“Deve ser previamente submetido à Secretaria de Redação qualquer conteúdo destinado a publicação que, entre outras coisas:
• Possa, na avaliação do editor, pôr em risco a segurança pública ou a de pessoa ou empresa;
• Contenha acusações criminais, ataques pessoais a autoridade constituída, palavrão ou material que possa ser considerado obsceno ou perturbador;
• Exponha, sem autorização, a vida privada de personagens;
• Possa incorrer em calúnia, injúria ou difamação, promover incitação a crime ou realizar apologia de crime ou criminoso;
• Não contemple o outro lado;
• Faça menção à Folha, a seus profissionais ou colaboradores e a outros veículos de comunicação;
• Seja destinado à seção ‘Erramos’.”
Todas as vezes que julguei um caso mais importante e busquei submetê-lo a Ruy Mesquita (na época o jornalista responsável pelo Estadão), ele pedia um rápido relato do caso e, sem exceção, respondia: “Vou ler no jornal amanhã cedo e comento”. A liberdade e a responsabilidade ficavam por conta da equipe.
Ruy Mesquita achava que o ‘Estadão’ deveria publicar as teses em disputa e, como uma síntese, a sua própria avaliação do embate
A partir do momento em que deixei a Folha, às vésperas da Copa do Mundo nos Estados Unidos, por muitos anos eu e Otavio tivemos apenas contatos mais ou menos formais, como em 2006, quando ele me mandou um e-mail depois de saber que eu tinha sido operado de um câncer.
Em 2011, logo depois de deixar o cargo de diretor de Redação do Diário de S.Paulo, fiz como freelancer uma reportagem sobre incêndios florestais na Terra Indígena do Xingu para O Globo. Na viagem a Mato Grosso, redigi um artigo sobre a destruição da Amazônia. De volta a São Paulo, submeti o texto para a venerada página “Op/Ed”, a seção de Opinião do New York Times. O artigo foi publicado em 17 de novembro. No dia anterior, eu estava muitas horas de fuso à frente do Brasil e dos Estados Unidos, em Sarajevo, de volta ao epicentro de “minha” primeira guerra, cerca de vinte anos depois, para fazer uma reportagem para a Trip.
O rigoroso processo de checagem do artigo no NYT vale uma história à parte: mesmo sendo texto de opinião, cada dado citado é checado por um editor. Depois de quase uma hora ao telefone com o jornalista em Nova York, capotei como quem tivesse corrido uma maratona. Dormi. O jornal foi para as rotativas e o artigo saiu, primeiramente na página on-line, às 2h da Costa Leste dos Estados Unidos, depois na edição em papel e, mais tarde, na edição internacional, o extinto International Herald Tribune, editado em Paris. Ao longo do dia, recebi e-mails de congratulações. Entre eles, uma curta mensagem de Otavio.
De volta ao Brasil, aproveitei a abertura para submeter a ele um texto sobre o mesmo tema. Otavio respondeu: “Discordo do que você diz mas o jornal certamente publicará o texto”.
OFF foi um cético climático até o fim: achava que o ambientalismo era “uma religião”, opinião formada provavelmente na juventude, quando os efeitos das mudanças climáticas eram menos visíveis, o consenso científico ainda não estava claro e os ambientalistas se baseavam em fatos empíricos (o desaparecimento das aves causado pelo DDT, o aumento dos casos de câncer de pulmão, a chuva ácida, a doença de Minamata e outros) e na convicção moral contra os ataques ao ambiente. Tratava o ambientalismo como ideologia e o negacionismo como o seu oposto. Ambos mereciam então igual espaço na Folha de S.Paulo.
Antropologia
Também não gostava de reportagens sobre cultura indígena. “Índios não leem jornal”, dizia, para me provocar. Mudou de ideia em 1988, quando eu era secretário, responsável pela primeira página, e o New York Times publicou uma grande cobertura sobre a morte de milhares de Yanomami assolados pela malária levada por garimpeiros. Naquele momento, ele me liberou para montar uma grande cobertura. Mas seguiu sempre contrariado com a antropologia. Em um de nossos últimos encontros, reagiu de forma descontrolada (por um átimo de segundo) quando eu disse a ele que a sua aversão aos estudos do perspectivismo ameríndio de Eduardo Viveiros de Castro era um “ato falho obscurantista”, pois, viajando por áreas indígenas da Amazônia, eu constatava diariamente a presença do pensamento selvagem descrito pelo antropólogo carioca.
Otavio soltou uma indelicadeza mais ou menos como se eu tivesse encostado em um nervo dentário. Ele reduzia as teses de Viveiros de Castro a uma condição de ideologia, a mero “multiculturalismo”. Em seguida, desculpou-se pela reação desmesurada. Ao mesmo tempo que negava reconhecimento à obra do antropólogo brasileiro mais renomado, publicou na editora da Folha, a Três Estrelas, o livro Nobres selvagens: minha vida entre duas tribos perigosas, de Napoleon Chagnon, norte-americano autor de teses controversas sobre os Yanomami.
O meu texto sobre a destruição galopante da Amazônia saiu na página 3 da Folha no dia 20 de dezembro, um mês depois do NYT. É um sinal da cultura jornalística brasileira: não houve nenhuma checagem de dados.
Pouco menos de dois anos depois, Otavio me procurou quando morreu o jornalista Ruy Mesquita, para que eu escrevesse um obituário do mais intelectualizado entre os Mesquita, que desde 1996 tinha assumido o cargo de diretor do Estadão. No texto, destaquei um aspecto da técnica jornalística defendido por Mesquita que discrepava radicalmente do conceito resumido na expressão “outro lado”, na Folha. “Dr. Ruy”, como era chamado, achava que o jornal deveria publicar as teses em disputa e, como uma síntese, a sua própria avaliação do embate. Refletindo sobre o assunto, ao longo dos anos seguintes, eu me convenci de que a fórmula de Mesquita poderia ser uma resposta mais apropriada para os embates radicais dos tempos atuais.
Em 2016, voltei ao assunto com Otavio, por e-mail. Comentei que, no obituário de Mesquita, em 2013, mencionei a questão que chamo de “limite ético do outro lado”. Para o diretor do Estadão, a missão do jornal exige expor sua opinião sobre qual é a versão mais verossímil sobre um fato disputado. Mesquita entendia que o jornalismo pluralista, ao adotar o princípio de que o jornal deve transmitir as versões e seus outros lados, abre mão de atender uma necessidade do leitor: conhecer a versão mais próxima da verdade segundo o jornal que elegeu para formar sua opinião.
Se minha hipótese está certa, as versões antagônicas, quando se chocam, como na física de Newton, anulam-se. Assim, quanto mais esmerada a técnica jornalística pluralista, quanto mais justa for a exposição da versão do outro lado, mais se igualam os dois lados que se digladiam diante do jornalista e do leitor. De alguma forma, esse procedimento passa para o leitor uma história sem desfecho, como em Rashômon. Em outras palavras, repassa para o leitor uma missão que poderia ser do editor: esclarecer a opinião pública sobre qual é a mais provável verdade.
Tendo a concordar com o modelo defendido por Ruy Mesquita como sendo o mais apropriado para o momento atual do cenário político em todo o mundo: com o entrechoque radical entre as divisões políticas na sociedade e a multiplicação de fontes de informação, as referências jornalísticas tradicionais têm a missão urgente de apontar sínteses.
Eis o conflito ético, escrevi, encerrando o e-mail: “Se o jornal repete o entrechoque, ele abre mão de se aproximar um passo a mais do esclarecimento da verdade ou do mais verossímil. Mas se o jornal passa ao leitor sua conclusão, sua síntese, evidentemente reduz o pluralismo”.
Otavio respondeu com a gentileza que era sua marca, refutando o modelo que eu intuía a partir da ideia defendida por Mesquita: “Você levanta um aspecto a meu ver muito importante e sempre negligenciado em discussões sobre jornalismo. Pessoalmente, penso de modo bastante diverso a respeito desse tópico do que pensava o dr. Ruy Mesquita, embora veja legitimidade nas duas vertentes”.
Para Otavio, os ataques ao jornalismo tradicional que vinham de plataformas digitais seriam ultrapassados
Foi quando propôs dois encontros pessoais que tivemos, o último deles em 23 de novembro de 2016. Ali e em trocas de e-mails, Otavio reconhecia que os tempos e a radicalização punham em questão o modelo de jornalismo apartidário e pluralista adotado pela Folha desde aquela época, mas manifestou a convicção de que esse modelo se afirmaria como o mais correto. Naquele momento, Otavio também estava impressionado positivamente com a audiência da Folha em suas páginas nos meios digitais. Achava que os ataques ao jornalismo tradicional que vinham de plataformas digitais seriam ultrapassados. Discordava de minha avaliação de esgotamento do “outro lado” como procedimento esclarecedor no jornalismo e refutava minha classificação da imprensa apartidária como “jornalismo Rashômon”, no texto que mostrei a ele.
Almoçamos as duas vezes no mesmo restaurante de Higienópolis. Não lembro o pedido, mas sei que consumimos exatamente a mesma coisa. Otavio era extremamente metódico e tendia a repetir lugares (ou, para disfarçar, mudava de endereço mas repetia os gostos), e tinha também um hábito curioso: se não fosse um prato repulsivo, repetia o pedido do interlocutor, o que facilitava a divisão da conta. Observei isso com atenção em nossos encontros porque me lembrava de que anos antes, ainda trabalhando no Estadão, Francisco Mesquita, o “Chico”, presidente da empresa concorrente, comentava que o irmão de Otavio, Luiz, fazia isso sempre que se encontravam. Ao final do primeiro almoço, em meados de 2016, entreguei a OFF o esboço do artigo “‘Jornalismo Rashômon’ e o esgotamento do outro lado”.
Depois de algumas semanas, Otavio mandou uma mensagem propondo um novo almoço. Tinha lido o texto e queria comentar. Quando chegou, além da agenda preta que sempre trazia à mão, tinha também uma brochura branca, encadernada com espiral plástico de gráfica de xerox. Durante o almoço, abriu a capa transparente. Ali estava o meu artigo, com várias anotações. E a cópia de um dos textos que ele contou ter lido quando estava compondo o Manual da Folha e que, de alguma forma, continha as bases de sua confiança na propriedade do “outro lado”. Fez vários comentários sobre a versão original do texto. Entre outras observações, disse que achava subdimensionado o papel de seu pai na construção do modelo de jornal de debates que Claudio Abramo implantara.
Quando nos despedimos, deixou a pasta com o texto anotado e um outro, que sugeria que eu lesse. Depois que ele se foi, olhei suas anotações. Entre elas, a mais chamativa é formada por um “C.A.!!!”, com setas apontando para um parágrafo em que descrevo a implantação da página “Tendências/Debates” por Claudio Abramo na Folha dos anos 1970. Ao me referir a Abramo, eu o descrevia como “o grande diretor de Redação da imprensa paulista na segunda metade do século 20”. Otavio certamente sabia que sua gestão superou a de Abramo em impacto e influência, por isso deixou a anotação, mas não a mencionou no encontro. Eu poderia ter reagido, até corrigido o aposto, se tivesse observado a anotação.
Algumas semanas depois, ao final de fevereiro de 2017, embarquei para uma temporada de estudos em Londres. Quando eu estava na Inglaterra, o texto foi publicado.
Sua excelência, o leitor
Em meu modo de ver, o “jornalismo Rashômon” recusa ao consumidor uma instância de conhecimento do fato, que é a avaliação jornalística, que “sua excelência, o leitor” pagou para receber.
Em nosso último encontro, Otavio descreveu a convicção que havia formado, em especial no período que antecedeu a redação do Manual, sobre o papel do jornal diante dos temas disputados. Curiosamente, para mim, ele afirmou a necessidade de praticar um “jornalismo Rashômon”, pois, no seu modo de ver, o leitor formaria opinião própria a partir de um “sumo rico formado ao longo do processo de entrechoque” e não do relato simplificado proposto pelo jornalista. Ou, para usar as suas próprias palavras, escritas em outro momento, “a objetividade tem de ser extraída a duras penas do conflito entre as subjetividades e da sua crítica recíproca”. Ou: “Se leio, a respeito de uma bandeira, que ‘esta bandeira é verde’ e ao mesmo tempo ‘é azul’, tenho ao menos uma certeza: uma das duas afirmações é falsa. Se leio apenas uma versão, não tenho certeza nenhuma e fico na dúvida: aquela bandeira será verde ou não? Quanto maior o entrechoque de versões contraditórias, maior o resíduo objetivamente verificável. Quanto mais mentiras, tanto mais verdade”.
O ‘jornalismo Rashômon’ recusa ao consumidor a avaliação jornalística, que ‘sua excelência, o leitor’ pagou para receber
Segundo me disse no almoço, a principal influência sobre suas ideias a respeito do assunto, nos anos 1980, havia tirado da leitura de Sobre a liberdade, de John Stuart Mill (1806-73). Na pasta, ele trazia um xerox do capítulo “Da liberdade de pensamento e discussão”, com anotações feitas com sua bonita caligrafia, que, ao longo dos anos, se tornara mais indecifrável. Profundo defensor da liberdade de expressão, Stuart Mill usa exatamente o termo “colisão” da verdade com o erro, ao defender a publicação de todas as opiniões, verdadeiras ou erradas. O texto de Stuart Mill está cheio de anotações de Otavio, destacando passagens que expressam bem aquilo que o jovem jornalista adotara. Destaco duas delas:
“O mal específico de silenciar a expressão de uma opinião é que assim se está roubando a humanidade inteira, tanto a geração atual quanto a posteridade, e os que divergem da opinião, ainda mais do que os que a apoiam. Se a opinião é correta, a humanidade se vê privada da oportunidade de trocar o erro pela verdade; se é errada, perde algo que quase chega a ser um grande benefício: a percepção mais clara e a impressão mais vívida da verdade, geradas por sua colisão com o erro”.
E, adiante:
“O grande mal não é o conflito violento entre partes da verdade, mas sim a silenciosa eliminação de metade dela: sempre há esperanças quando as pessoas são obrigadas a ouvir os dois lados: é quando prestam atenção apenas a um dos lados que os erros se enrijecem e se tornam preconceitos.”
No parágrafo seguinte, o autor inglês conclui: “É apenas pelo choque de opiniões contrárias que o restante da verdade tem alguma chance de aparecer”.
No início dos anos 1980, Otavio naturalmente trazia o trauma da ditadura militar, que, afinal, nem havia acabado. Àquela altura, a política brasileira era caracterizada pela afirmação de um lado, pela imposição do poder ditatorial, e não pelo entrechoque de ideias. O jornalismo também vinha de uma tradição partidária, anterior à ditadura, em que a imprensa escolhia lados, mais à moda do jornalismo partidário europeu que do apartidarismo predominante no modelo norte-americano. Assim, sua obsessão era pela afirmação do direito de expressão, mormente de minorias. E, como tal, não há nada a reparar em sua reafirmação, em 2016 e sempre em seus escritos, do modelo adotado pela Folha, chamemos de “outro lado” ou “Rashômon”.
Minha crítica não é ao retrato fiel do entrechoque das ideias nem é a afirmação de um jornalismo partidário, baseado na omissão de versões, mas é a crítica a um modelo em que o jornalista exerça a missão, concedida por mandato do leitor, de retratar todas as versões e ao final concluir, como resultado do processo jornalístico (que afinal é um filtro político e social que expressa o debate que ocorre na esfera pública), uma síntese do embate, seja a expressão do que parece mais verdadeiro, verossímil, seja da indefinição.
Tudo e seu contrário
Pouco depois que voltei para o Brasil, soube que Otavio tinha identificado um câncer. Depois de matutar por algumas semanas, mandei um e-mail, tateando o tema. Ele respondeu com naturalidade, uma mensagem de tom otimista. Tivemos poucos contatos nos meses seguintes, sempre por e-mail, até que ele morreu.
Além de todos os outros aspectos tristes, sua morte teve um impacto dramático para a imprensa: Otavio era um guia arguto, tinha registrado consigo, com as experiências pessoais, as do pai; tinha a memória de “tudo e seu contrário”, como dizia o sr. Frias. Em um tempo disruptivo como este, sua memória da história do jornalismo e suas ideias de futuro faziam dele um timoneiro decisivo. A redução da importância das mídias sociais e a renovação da relevância dos meios tradicionais desde a sua morte confirmam a expectativa que ele acalentava, de reafirmação do jornal como referência fundamental do debate público.
Ao mesmo tempo, a polarização política permaneceu radical em vários cantos do mundo e no Brasil. E as intervenções da imprensa no confronto com as ideias e atitudes incivilizadas de Donald Trump me parecem acentuar a demanda por um papel mais assertivo dos jornalistas no debate público, superando o modelo que chamo de “jornalismo Rashômon”.