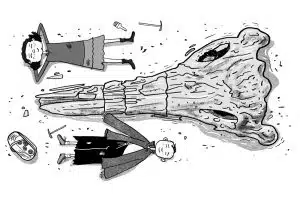Divulgação Científica,
Amazônia, civilização antiga
Décadas de estudo pintam um retrato milenar de ocupação humana da floresta
01out2022Amazônia. Um inóspito oceano verde de árvores gigantescas e denso matagal, entrecortado por rios intransponíveis e recheado de bichos que devoram, picam, transmitem doenças e fazem barulho. Para viver ali, só com uma limpeza caprichada do terreno, que deixa o solo pobre e limita a possibilidade de boas lavouras. Sem falar no calor escaldante e nas chuvas intensas e constantes.
Essa é uma visão frequente a respeito da região Norte do Brasil, mas o arqueólogo Eduardo Góes Neves enxerga uma paisagem bem diferente. De quatro no chão úmido, raspando a terra, coordenando equipes multidisciplinares ou aprendendo modos de vida com indígenas e outros habitantes da região ao longo das últimas três décadas, Neves descortinou uma vista que chega a 12 mil anos atrás, quando se iniciou a colonização humana da América — a Amazônia inclusa.
“Talvez a lição mais importante trazida pela arqueologia amazônica nas últimas décadas tenha sido mostrar que não existe na região nenhuma barreira natural à ocupação humana, à inovação, à invenção”, escreve ele em Sob os tempos do equinócio: oito mil anos de história na Amazônia Central. O livro, resultado da tese de livre-docência defendida em 2013 na Universidade de São Paulo (USP), onde coordena o Laboratório de Arqueologia dos Trópicos e dirige o Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE-USP), foi lançado em agosto pela editora Ubu.
Expandir a compreensão
É um texto multidimensional, como não poderia deixar de ser quando se trata de expandir a compreensão sobre as populações originárias do país. O leitor encontrará filosofia, história e reflexão política embasadas em explicações técnicas sobre práticas e análises arqueológicas. Desse encontro de saberes — que interessa ao autor mais do que os objetos, fetiches associados à arqueologia no imaginário popular — sai o entendimento de que a modificação do ambiente ao longo de milênios fez da Amazônia uma terra de abundância onde viviam grupos indígenas em grandes conjuntos interconectados e onde foram domesticados vegetais que hoje integram a dieta sul-americana, como a mandioca. Vestígios de feijão, abóbora e milho em fragmentos de cerâmica de milênios atrás indicam que já havia cultivo desses alimentos.
Antes da chegada dos europeus e das colonizações posteriores a partir do sul, uma população significativa cuidava do manejo das plantas para uso próprio, alterando a floresta. A disposição atual de árvores como palmeiras e castanheiras não é casual, e sim reflexo de sua importância para a vida. Sítios arqueológicos trazem indícios de ocupações sucessivas, com características culturais distintas, que se revelam na cerâmica preservada, nos resquícios aderidos aos utensílios, no uso do espaço. Os solos alterados e férteis produzidos pelo uso prolongado, conhecidos por terra preta, têm influência demográfica ainda hoje. Esses solos “desempenham papel social e econômico fundamental e são utilizados por pequenos proprietários, juntamente com as áreas de várzea, na produção de alimentos para o abastecimento de Manaus”, escreve Neves.
Compreender a presença humana na região muda tudo em como se percebem as populações indígenas atuais
O leitor mais versado na disciplina encontrará uma aula nas explicações sobre como se reconhecem e se estudam as evidências de ocupação humana no Holoceno (cerca de 12 mil anos atrás); o que caracteriza as práticas cerâmicas das fases Açutuba, Manacapuru, Paredão e Guarita; como se organizam os dados; quais são as principais construções e discordâncias conceituais no Brasil e no mundo que dizem respeito a como se entende a vida humana antiga — o culturalismo histórico, a arqueologia neoevolucionista. Um prato cheio para estudantes. A terminologia e a bibliografia de base não são imediatamente acessíveis a quem não tem conhecimento da área, mas não há motivo para sustos: excelente professor, Neves vai revelando as camadas de informação e mostra que há muito mais na arqueologia do que o acaso de tropeçar em uma urna milenar. E como não é sorte nem excesso de imaginação que fragmentos minúsculos, microscópicos até, permitam descrever civilizações.
Mais Lidas
Das ferramentas usadas para escavar buracos que atravessam séculos ao papel milimetrado em que se registra a localização dos artefatos encontrados e recursos modernos como o Lidar, que usa feixes de laser para mapear o que está debaixo da floresta, o arsenal usado pelos pesquisadores é cada vez mais vasto e preciso. Com isso os estudos vêm mostrando, por exemplo, que no início do século dez grupos indígenas tinham se estabelecido nas margens dos grandes rios, e produtores de cerâmica pintada, ou polícroma, se instalaram longe das várzeas do Amazonas e do Solimões. Essa independência dos cursos d’água maiores também contradiz preconceitos arraigados.
Neves defende que registros históricos das línguas faladas em cada região compõem um corpo de informação ainda mais fundamental quando analisado em conjunto com o que as escavações revelam. Os objetos depositados sob a terra são, inevitavelmente, material central de estudo na arqueologia. Mas eles só fazem sentido, em sua visão, se for desvendado o contexto no qual seu uso se insere.
Esse contexto chega a aspectos políticos, uma vez que, mesmo com altas densidades demográficas, não há indicação de os povos terem optado por uma organização de Estado. Compreender a profundidade e a importância da presença humana na região, como afirmou o arqueólogo na Feira do Livro, em São Paulo, muda tudo em como se percebem as populações indígenas atuais. E o futuro que lhes é de direito.
Porque você leu Divulgação Científica
Plantas de poder
Sidarta Ribeiro investiga as ligações ancestrais entre humanidade e cannabis, enquanto aponta o racismo como marca das políticas proibicionistas
NOVEMBRO, 2023